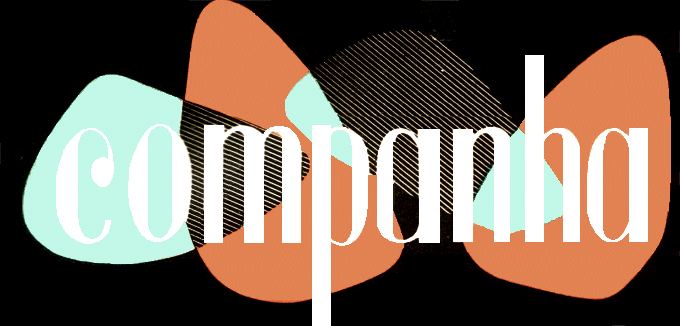|
||||
|
|
||||
|
as imagens têm voz... por ROBERTO NOBRE |
||||
|
Tivemos, então, os estetas do cinema «puro», os grandes artistas como Vertoff, Ruttmann, etc., para os quais a independência do cinema se degradava quando ele descia» a contar uma historieta. Isso era para os romances, para o palco. Deveria ser apenas uma sinfonia plástica. Mas o advento do cinema sonoro chegou e teve o seu êxito total: deixou de haver cinema mudo. As restrições de Eisenstein e até a heróica obstinação de mudez, mantida longamente por Chaplin, foram vencidas. Bernard Shaw, quando o cinema se tornou canoro e palrador, deixou, finalmente, adaptar as suas obras. Asquit e Leslie Howard fizeram de «Pigmaleão» um êxito memorável. E ele pôde dizer, logicamente, que não tinha mudado. O cinema é que viera ao seu encontro. Irrompeu, então, uma enxurrada de mesquinho teatro filmado, horrível, palavroso, idiota. Os doutrinadores de teatro rejubilaram. Mesmo os mais lúcidos, como o grande crítico português de teatro Eduardo Scarlatti, reivindicaram uma vez mais a primazia do palco, chamando a esse cinema «teatro mecanizado». Scarlatti afirmou mesmo: «o cinema não é mais que a satisfação do espírito sem necessidade de cultura. É a sucessão de imagens pelo mecanismo eléctrico, em vez de mecanismo intelectual». Serenada a avalanche (e esquecendo propositadamente a boa influência que teve o choque da «improvisação» do neo-realismo italiano com o demasiado «tecnicismo de estúdio» de Hollywood) surgiu um outro cinema sonoro digno de ser observado e meditado, que veio tornar oportuno, uma vez que nos passou a dar belos filmes magnífica (embora imensamente) dialogados, que se reveja o problema de termos estado, ou não, errados quando buscávamos nos valores plásticos das imagens em movimento e no ritmo do seu alternamento a razão de ser da arte do cinema. Quando surgiram os fonofilmes, foi René Clair, creio, quem melhor pôs o problema — o cinema não deveria servir os diálogos, portanto o teatro, mas utilizar a dicção, a música, os ruídos para sublinhar, para completar a linguagem do cinema «como cinema». Eisenstein surgiu com o «contraponto» sonoro, como complemento alusivo e não sincrónico. Mas, depois disso, muita água correu sob as pontes do Sena. Apareceu por automática decantação, foi amadurecendo a actual «terceira via», em que o diálogo é persistente e brilhante, mas o jogo de movimentos da câmara, o alternamento de planos, a mutação de lugares, o ritmo de imagens, são, no entanto, perfeitamente cinematográficos. Lembro-lhes, entre outros, a «Eva» (All about Eva), de Mackienvicz, o «Hamlet», de Laurence Olivier, e as «Noites Brancas», de Visconti. Não só esses, mas muitos outros trouxeram dignidade ao sistema. Serão obras híbridas, plenas de cenas dialogadas, mas (aqui é que está a singularidade dessa dignificação) também o cinema está intimamente presente em tudo aquilo. Temos que confessar que isso tem a sua beleza, atingindo /página 4/ notável nível Intelectual, e que é, sem dúvida, boa arte, venha donde vier. Vejamos. Esses filmes são realmente bons exactamente quando transcendem «o teatro em conserva». Os diálogos estão lá e, se são espirituosos ou emotivos, se têm elevação, eles correspondem à sua missão de servir o cinema. É claro que não falo nos filmes que são mau cinema e mau teatro. Mas, se analisarmos essas boas películas sonoras, veremos que elas não contêm os tais diálogos de teatro. Mesmo no caso, muito especial, de Shakespeare (e isso levantou escândalo) tiveram os maravilhosos diálogos de ser «aparados à tesoura». Se fizéssemos a experiência de levar, por exemplo, integralmente as falas da película «Eva» (que julgo poder apontar significativa do prestígio do género) para serem ditas num palco, como se fossem uma peça teatral, verificaríamos que se tornavam absolutamente deficientes. É que o cinema, mesmo nesses filmes, anda por tudo aquilo como um diabinho solto, olhando de frente, de lado, por detrás, focando de cima, saltando de rosto para rosto, perseguindo as personagens nas suas andanças, enquadrando sucessivamente as situações e narrando-as com o milagre criado do seu ritmo — o ritmo do cinema, que é onde está a genialidade peculiar da sua arte. O facto do cinema ter passado a conter diálogos, mesmo quando belos diálogos, sóbrios, talentosos, não modificou a sua essência divergente da do teatro. Decerto ambos são espectáculo, ambos utilizam hoje a palavra dita, ambos se destinam a ser vistos por uma plateia. Mais, em ambos é primordial a encenação. Isso os Identifica? Não. Não é só nos diálogos, é exactamente no acto de encenar que eles se opõem. É simplificar absurdamente o problema supor que a diferença fundamental entre as duas artes está apenas em ter, ou não, diálogos. O cinema não é apenas um hábil aglutinador de todas as outras artes, plásticas e ficcionistas. Ele tem profundas características peculiares, uma filosofia de arte própria. É claro que o cinema não está apenas no encanto das imagens, enquadramentos, ângulos, «travelings», etc. que, tendo beleza em si próprios, constituem antes a sua técnica, pois a sua estética está em servir-se oportunamente desses elementos como um meio alusivo, todo feito de subtileza e intenções. Com isso se atinge em cinema uma linguagem, um estilo, tão dúctil e subjectivo como o duma bela prosa ao serviço do romancista. Em todos os tempos, desde Platão, se tem perguntado o que é Arte. Há quase 60 anos que se vem perguntando o que é cinema. Uma verdade me parece evidente, tão clara e elementar como as puras e excessivas verdades que celebrizaram Mr. de la Palisse: — as noções de estética são evolutivas, não saberemos dizer, em absoluto, o que é, ou não é, cinema. Mas nós, que o vimos nascer no nosso tempo e tornar-se grande, podemos garantir que é, quando feito com dignidade, uma arte magnífica e, mesmo quando sonoro e dialogado, não é teatro.
|
||||
|
|
||||
|
As imagens têm voz – Entrevista com Mário Braga – Correspondência dos Leitores – Três Poemas de William Carlos Williams – Rodolfo da Cantuária – Crítica literária – Carta a Mário Sacramento – Considerações gerais sobre "factos" – Carta a Luís Francisco Rebello – Uma exposição de monotipias de Emanuel Macedo e José Paradela – Digesto de Notícias – Lembrança de Raul Brandão – Ilusões (conto) – Entrevista com o Dr. José Pereira Tavares – Concerto do Silêncio (crónica) – Do infinitamente pequeno ao infinitamente grande – Poemas – Escamas – Asas cortadas – Fac-símiles |
||||
|
|
||||
|
|