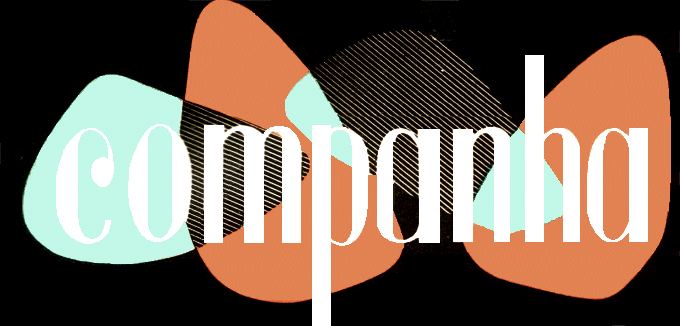|
|||
|
|
|||
|
TEATRO e o problema das adaptações |
|||
|
por ALBERTO PIMENTA As adaptações têm uma existência longa, um lugar quantitativa e qualitativamente importante e são, em si, um problema constantemente aberto. Refiro-me, muito determinadamente, às adaptações dramáticas ou para Teatro, que se realizam por processos próprios, apartados dos processos literários usuais — porque, enquanto o Lírico é comummente uma construção desencantada da pura imaginação criadora, e o Épico é susceptível de construção baseada também na imaginação criadora, o Dramático, que pela essência contém a acção pura e pela aparência a enforma, constrói-se sobre a realidade vivida e expressa-se em uma realidade vivida, e, em tal caso, a imaginação criadora existe apenas como processo de ligação e de condensação ou vive no momento das soluções simbólicas. O Dramático, que por natureza, portanto, deve ser tomado não tanto como um género mas como um processo determinado pela vontade activa, vem a revelar-se, por existência, um resultado de um constante processo de adaptação. Ordenemos então essa constante segundo três categorias:
I — Adaptações dramáticas de episódios
vividos (normalmente históricos)
Analisemos então a primeira categoria. O Teatro clássico grego começa por ser a mais perfeita adaptação de desenvoltura dramática das grandes lendas (tidas como episódios vividos) onde a acção se passa entre os heróis dos grandes ciclos. Não considerando essas lendas como episódios já em si artísticos, pela redução simbólica, está explicado que o primeiro Teatro europeu se constitui por adaptação de episódios vividos: os grandes conflitos de família, os graves conflitos humanos acontecidos na vida de este ou de aquele herói, as dissidências das cidades e o seu grande esforço por não sucumbir são os elementos com que o autor dá o nó na acção; a arquitectura dramática, desde a linguagem até certos pormenores de representação, é o desenvolvimento novo de certas atitudes hieráticas; há nobreza e estilização; expressão simbólica e artística de factos consagrados, com a pureza de todas as coisas que nascem; por isso mesmo, hoje, a representação desse Teatro exige aquela alta e difícil tarefa de desaprendizagem de que se respira um paralelo mais geral em Alberto Caeiro: é necessário, além de o aprender, desaprender tudo /página 18/ o que de então para cá foi adaptado e dogmatizado pelo Teatro, porque aquela nobre pureza inicial raramente reaconteceu. As adaptações deixaram de ser simbolizações da vida vivida para a ascenção; ou retomaram fruta já colhida, ou caíram, então, na maior parte das vezes, naquele engendro de reprodução fictícia e artificial, talhada e determinada por correntes que impunham ao homem e à acção o seu dogma em vez de tirarem dele o seu ensino. Passemo-las. Do Teatro de hoje, (convém entender que eu não identifico Teatro de hoje com Teatro moderno, e uso a designação muito restritamente para aquele Teatro, e bem pouco é, que satisfaz em beleza os problemas do homem de hoje) entretanto, é impossível deixar passar em branco algumas das construções de Brecht — o seu Teatro é afinal urna grande e simples e sublime adaptação, adaptação e humanização actualizante de lendas, de temas, de episódios vividos e de episódios ou nomes da história a quem ele dá a vida mais real que as crónicas tinham esquecido. O «Processo de Luculo» é dos mais perfeitos exemplos de um tal tipo de construção, orientada no desenvolvimento por uma imaginação activa, limpa de peles sujas e de excrescências como só no primeiro Teatro tinha havido. Sobre o nome verdadeiramente real de Luculo, Brecht constrói uma fábula dramática onde certos elementos clássicos se combinam com outros da sociedade moderna para atingir um resultado inesperadamente trágico; é um episódio inventado, mas tão sincero e próprio, que depois de inventado se torna vivido, e porque vivido, adaptado, e, por isso mesmo, pela dificuldade e raridade das grandes adaptações, ainda mais belo. Outro tipo de adaptação de episódios vividos é aquele que se apropria de uma acção real e depois a enforma com mais ou menos inovações imaginativas e com mais ou menos actualidade. É o caso, por exemplo, da tragédia «Castro» de António Ferreira: o episódio da morte de Inês e as suas consequências, já eram, em si, dramáticos e senhores de uma acção bem dividida. O processo de representação, naturalmente dentro da pureza exigida, é, nestes casos, diverso: enquanto nas adaptações construídas sobre uma acção real há a incessável busca de concordância com o autor do texto, (porque este já assim procedeu para a concordância geral com a acção vivida) no Teatro adaptado ou nascido de um mero episódio sem acção ou construído sobre um nome real, mas de dramatização aplicada ou de construção simbólica, a representação é um edifício todo próprio, todo subjectivo, todo independente de qualquer realidade pronta na memória do espectador. Passemos entretanto ao segundo tipo de adaptação dramática. — E aqui começarei pela afirmação de Nicasio Gallego: «em literatura só é lícito o roubo acompanhado de assassínio»; ora, dando a roubo o largo sentido de apropriação de ideias ou formas, tinha parcial razão o sacerdote espanhol; e parcial, porque a adaptação dramática é válida quando repleta de novo vigor, o que não implica, de resto, a obrigação de ofuscar completamente a origem-mãe. O Teatro medieval, adaptação de lendas e de certa doutrina dos textos bíblicos (embora em certos casos de tradição oral) é dos primeiros exemplos de adaptação ou dramatização de episódios evidentemente literários, e, sem os ter ofuscado, revelou-se uma das mais válidas expressões dramáticas; aliás, algumas das cenas do Velho e do Novo Testamento continham um sagrado furor dramático apenas à espera do casulo mais próprio. O problema de certos mistérios e certas histórias morais vieram a ser encarnados e comoventemente humanizados, de uma maneira que a nossos olhos se afigura quase atrevida, como em certos autos franceses e ingleses ou no nosso Gil Vicente. Há uma adaptação de género a processo e, simultaneamente, uma adaptação de conceitos pela expressão e uma corrente de realismo imediato quase em choque com a transcendência atribuída aos episódios glosados. As adaptações sucedem-se, e adaptações de adaptações. Em vez do divórcio obstinado dos autores, a pretenderem impor uma originalidade sempre duvidosa depois de séculos de arte grande, há então quase que o trabalho conjunto dos autores para aperfeiçoamento dos temas. Depois deste Teatro vem o fluxo vivo das grandes reconstruções históricas e lendárias que culmina com Shakespeare. A altíssima invenção das suas dramatizações é o acordo e o equilíbrio exacto entre a situação e a psicologia da personagem, e, por outro lado, entre a preparação da nova situação e o desenvolvimento psicológico ocultamente preparado de verso para verso. O crítico inglês Malone chegou à conclusão que de entre 6.043 versos de Shakespeare, 1.777 foram tomados integralmente de outros autores; 2.373 foram modificados, e que só os restantes 1.899 pertenceram inteiramente a Shakespeare. Mas qual é o interesse de assim ter sido, se esses 1.777 versos estavam dispersos por conjuntos tornados quase inúteis, e pela mão de um homem se transformaram em desenvolvimento arrebatador? O grande fim é criar uma realidade válida, não importa de que realidades vividas ou expressas. Fausto tem uma certa tradição pesada, que parece /página 19/ esvair-se nas mãos de Goethe para renascer em novidade mais densa, em verdade mais larga e eterna. Depois, temos as doenças de certos «ratos» que, à falta de outro tema, se entretêm pelas influências, às vezes tão duvidosas como eles. Os dados citados de Malone ainda podem ter alguma importância, mas qual é, por exemplo, a base para a certeza que certos senhores têm de «Le Bourgeois Gentilhomme» de Molière ser adaptação, senão mera cópia de «O Fidalgo Aprendiz»? Esquecem-se que depois do Renascimento, com alguns intervalos válidos do primeiro Romantismo, do primeiro Realismo e de algumas construções mais novas, o Teatro, como de resto a Literatura, foi sempre uma moda, com autores e figurinos e processos cunhados. E, das adaptações dignas do tema-origem chega-se às adaptações borralheiras, transplantações entre quintais vizinhos ou enxertos em vasos de sala. De tipo flagrantemente diferente, onde o predomínio de valor é em primeira-mão, é a adaptação dramática de «O Diário de Anne Frank», exemplo moderno de peça em que os adaptadores pouco mais foram que encenadores devotados a uma tragédia já explicada e vivida. Há obras que pedem a devoção de as dramatizar, porque contêm tudo o que é preciso, a construção genial e a essência que as eterniza, mas pedem devoção e não amor-próprio; outras não pedem nada a não ser o amor-próprio de não lhes tocar. E chegamos então às discutidas adaptações de Teatro para Teatro. Tem sido notável e essencial para o Teatro a permanência de certos temas, de que darei como exemplo a personificação medieval «Todo-o-Mundo» que, desde certas formas inglesas e flamengas, (possivelmente já com certa tradição) pelo mais alto momento de todo o teatro português, se veio a consumar no drama de Hofmannsthal; tem sido triste a permanência de certa tragédia de intriga e de certa comédia de costumes, que resultaram uma vez, em uma época e por certas mãos, mas que se foram gastando de outras vezes, desadaptando em outras épocas e murchando em outras mãos. A adaptação só se justifica, primeiro, quando tem necessidade de ser, segundo, quando em si vale a pena ser — certas adaptações de Shakespeare que os norte-americanos vêm realizando não têm necessidade de ser, porque Shakespeare está muito perto de nós pela forma e pelo tema, e não valem em si, porque se revelam simples subterfúgios de impotência. E certas adaptações de certos encenadores (que também querem dedilhar os clássicos) não são necessárias, porque nem os clássicos precisam desses senhores, nem esses senhores passam de os arranhar. Quando Brecht lança mão de Antígona para a fazer reviver numa pujança de conteúdo renovado de acordo com certa renovação da sociedade, é de estremecer perante a perenidade dum tema e o encontro de dois homens fora das suas limitações; quando o Teatro romano se revela o prolongamento acentuado da decadência grega é de entristecer; quando Shakespeare, apenas por si, nos obriga a rever o Teatro romano é de exaltar e reviver a fonte do grande rio. Na interpretação das grandes adaptações há-de atingir-se aquele resultado cénico de expressão simultaneamente independente e presa por um fio a uma outra grande expressão que é necessário ter sempre presente em segundo plano. As adaptações, em Teatro, são uma grande devoção e a maior e mais difícil afirmação de vigor, ou, então, a maior monstruosidade.
Balada de Annabel Lee
Há já muitos, muitos anos,
Eu e ela inda crianças
Por isso que há muitos anos
Que até os anjos do céu, vendo nossa
felicidade,
Maior era o nosso amor
Porque a lua em seu brilhar traz-me
sonhos d’encantar |
|||
|
|
|||
|
Considerações gerais sobre factos – Poesia versus versos – Jean Cocteau e a sinceridade na arte – O cinema japonês – Poesia – Mosca na vidraça (crítica) – A crítica, uma segunda criação – Teatro e o problema das adaptações – Insurreição – Carta a Fernando Namora – Digesto de Notícias – Fac-símiles |
|||
|
|
|||
|
|