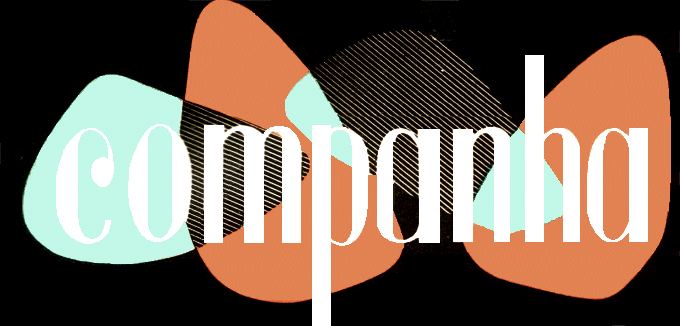|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
Uma cidade não se descreve, caros amigos! Vive-se. Uma cidade não se retrata, respira-se. Sinto, algures, os protestos clamorosos da eloquência, as patadas da verborreia furiosa. Perdão, mas insisto: uma cidade não se descreve, — vive-se. Como posso eu segurar com palavras aquela melancolia de que sinto embebidas as suas tardes outonais? Como posso eu suster aquele Sol grande e amarelo que, nos dias breves, se achata no riscado ambíguo das salinas alagadas, logo que as sereias das fábricas a saturam com os seus lamentos?! E os sinos?! Dlim, dlom!...dlim, dlom!...
«Você já reparou na cidade?» «Que tem ela de especial?!» Sim, que tem ela de especial que possa impressionar o visitante? «É pitoresca. Não há dúvida, é pitoresca...» O forasteiro avalia-a apenas com os seus sentidos, e já não é pouco. Sim, não lhe podemos exigir mais, esse muito mais que se insinua sub-repticiamente em cada fibra do nosso corpo, em cada átomo do nosso soma e aí fica de pedra e cal, resistindo às investidas do tempo e até aos abanões de outros lugares estranhos e porventura mais notáveis. «Você já deu, alguma vez, um passeio de barco até S. Jacinto, até à Torreira?» «Fiz isso há anos, na lancha do Turismo... É um passeio magnífico...» Que significado tem o seu magnífico? Ah! Para nós, aveirenses, tem-no realmente. Significa muitíssimo mais do que aquilo que parece. Contém um mundo de imponderáveis impossível de descrever. Pobres palavras! Que deixam tão aquém a força contida naquilo que desejaríamos expressar! Já repararam que nunca conseguimos dar com as palavras a verdadeira tinta de certos coloridos? Fica-nos sempre a impressão de se ter perdido o melhor pelo caminho, de termos sido logrados, algures. «Que comovente ingenuidade! São incomparáveis esses desenhos dos vossos moliceiros!...» Por mais justo e delicado que o forasteiro deseje ser, sentimo-nos roubados. Sim, roubados. É que nunca nos habituámos a considerar essa ria, esses barcos, esses desenhos uma coisa autónoma; é que nunca conseguimos isolá-los do conjunto a que chamamos cidade e essa... essa é para nós tão grande que não lhe encontramos qualificativo capaz de a conter. «Mas, então, sois tão cegos que não lhe apontais os defeitos, com coragem, desassombradamente?!» «Defeitos?! Ah! Sim, defeitos...» Engrossamos a voz como quando pretendemos repreender os nossos /pág. 14/ filhos, olhamo-la com severidade e falamos durante muito tempo na sua nudez e na necessária arborização, na sua falta de acidentes e consequente monotonia, nos seus pardieiros chegados à beira-mar, no cheiro da sua ria à hora da vazante, na agressividade do seu clima, um clima danado que nos enche de reumatismo e nos ensalitra as casas. O postiço da nossa indignação cede à ternura mal dissimulada, e, quase insensivelmente, surpreendemo-nos já muito longe do corajoso malsinar. «Mas, afinal, que tem a tua cidade de extraordinário?!» – perguntam-me com frequência. Lá o que tem, não sei. Não sei, confesso. Por vezes, imagino o Mundo sem ela. E sem ela só posso imaginar uma vastidão negra, um Mundo incompleto, como se lhe faltassem alguns dos dias da Criação. Bem sei, caros amigos! Bem sei. No mapa do país é um ponto de segunda ou terceira grandeza; no mapa da península não ultrapassa uma irreverência de mosca; no mapa da Europa vimo-nos em sérios embaraços para a localizar, e no mapa-mundo, aí, meu Deus! Não há vestígios da sua existência. Sim, lá o que tem, não sei. Apenas uma espécie de intuito me afirma uma conivência existente entre ambos, um acordo íntimo a que nem falta um pudor que nos obriga, por vezes, a esconder na injúria o muito que lhe queremos. Já tenho tentado compará-la a qualquer coisa palpável. Muitas das horas da minha vida que com ela esbanjei – tantas foram! – gastei-as imaginando-a uma mulher à saída do banho, fresca, delicada, de olhos azulados, de pele muito clara e cabelo solto caindo ao longo do corpo salpicado de pequenas gotas... Quanto a mim, é esta Imagem que mais se lhe assemelha. E sabem? Essa mulher, que sempre a imagino, nunca envelhece!... Mas isto é apenas uma imagem literária, que se dissolve logo que o Sol aquece os telhados húmidos e o vento arrasta os resíduos de neblina. A minha cidade é o que é; nada mais. «Quando estou ausente durante muito tempo, ao aproximar-me, adivinho-a pelo cheiro.» «Não sejas piegas. Estamos na época dos sputnicks!...» «Sinto o cheiro a maresia, afianço-te.» «Sentes, talvez, o fedor daquela cloaca a que vocês chamam, pomposamente, o Canal Central...»
DO LIVRO, EM PREPARAÇÃO, «ROTEIRO IMPOPULAR» – Aveiro, 10-VI-1959 Vasco Branco |
||||||
|
|
||||||
|
Ao zarpar – Poesia versus versos – Colóquio com José Régio – Lurçat e o homem – Três Romances de Kazantzaki – Inquérito sobre o «Prémio Camilo Castelo Branco» – O testemunho de Dante – Variações quase sentimentais sobre uma cidade – Poemas – O fantasma (conto) – Escrever um romance, realizar um filme – O Teatro-arte, o Teatro de intriga-escola de títeres e o anti-Teatro de Ionesco – O Povo, mestre minimizado, mestre desconhecido – Fac-símiles |
||||||
|
|
||||||
|
|