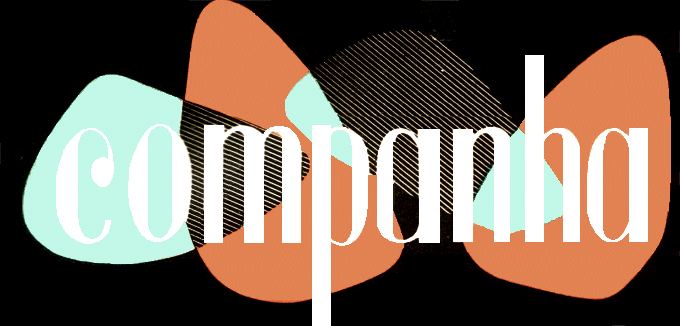|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
Se atendermos à reconhecida projecção das influências norte-americana e brasileira na actual génese literária portuguesa – sobretudo pelo que toca a certo neo-realismo com todo o jeito de importado – o surto Kazantzaki imediatamente nos informa acerca da vitalidade e auto-renovação do pensamento europeu, que muitos julgam inexoravelmente sacrificado a limitações atávicas ou diminuída no confronto com fórmulas pretensamente mais arejadas e inconformistas. Henrique Santos-Carvalho, o prefaciador de «Cristo Recrucificado», procura justificadamente enquadrar Kazantzaki no ponto de vista de Bergson, identificando o debate de princípios ocorrido em Lycovrissi com a concepção da «sociedade aberta» e da «sociedade fechada» que se encontra na ética bergsoniana. Sucede ainda que noutros intuicionistas, como João Müller e Rathenau, se descobrem palpáveis afinidades com o romancista grego, principalmente legitimadas pela valorização moral que todos pretendem obter a partir de Jesus. A despeito do seu ateísmo «sui generis», Nietzsche – que Kazantzaki traduziu, e cujo Zaratustra aflora subtilmente algumas páginas de «O Bom Demónio» – terá sido o impulsionador remoto desta convergência, quando, ao defender a hegemonia da vida sobre o mecanicismo científico e a aridez epistemológica, assentou a primeira grande pedra do edifício irracionalista. Assim, achamo-nos perante uma originalidade exclusivamente manifestada no campo da Literatura e que, não obstante as coincidências filosóficas já enumeradas, decorre num trilho assinalado por ineditismos fortemente pessoais. Sem o recurso fácil a sensações intercaladas, a emotividade processa-se em ritmo que acelera a epopeia desde o início, para a revelar, na altura própria, com uma imponência afim da orquestração wagneriana e um expressivismo ficcional onde o sangue, o suor, a guerra, o amor, sacodem e oprimem o espírito de quem lê. A posição melancólica de Kazantzaki, longe de filiável em mórbidos pessimismos, radica uma confiança no futuro tornada possível pela simbologia intensa dos heróis e latente na derradeira frase do «Cristo Recrucificado»: ...Puseram-se a caminho, pela estrada sem fim, para o lado onde nasce o Sol.
Um esquema rudimentar de «Liberdade ou Morte» – simples conflito urdido com base em antagonismos políticos de dimensão estritamente local – sugerir-nos-ia uma escassez temática difícil de transcender; mas é precisamente na solução dessa exiguidade que o autor se define, fazendo intervir com equilibrada permanência e assombroso utilitarismo estético as características mestras do seu talento narrativo. Tem muito de hipérbole neo-romântica a figura do Capitão Micael, talvez ideada no propósito de singularizar o património de forças e esperanças de toda a comunidade cretense. O psiquismo da personagem, todavia, em vez de acusar as contradições e lacunas que a sua criação artificialista deixaria supor, percorre todo o livro com uma inusitada e esplêndida autenticidade emocional. A fibra poética e o misticismo doce do escritor nunca degeneram naquela astenia que dessora ou limita a verdadeira ficção – antes ajudam ao desenvolvimento pertinente do fenómeno épico, determinando um clima onde o aticismo formal exorna a rudeza duma intenção áspera, contundente, irada. Esta afirmação de vigor – que, sendo a constante mais original da obra de Kazantzaki, só muito ardilosamente ressalta de cada situação, de cada capítulo – acaba por diafanamente surgir quando, ao cabo, nos surpreende que possa mostrar-se tão unidireccional e incorrupta a resultante dumas quantas linhas aparentemente inconciliáveis. A priori, por exemplo, imaginamos supérfluo o erotismo simbolizado em Emínia, a fútil circassiana cujas axilas almiscaradas parecem impregnar certas páginas dum impressivo olor a fêmea; a estuante alacridade do capitão Polixinguis, tanto como a sua bela coragem ou a hiperpresença do seu instinto sexual, assume frequentes aspectos de redundância; e outras deambulações se notam que, embora realizadas com depuradíssima técnica, hão de encaminhar o leitor para um errado diagnóstico de gratuitidade. No entanto, apreendida a unitária energia do todo, o juízo rectifica-se de molde a admitirmos que os supostos exageros e diversões eram, não apenas aproveitáveis, mas necessários, estranhamente necessários, ao amplexo totalizante que abarca a tese proposta. Pelos notáveis precedentes de Nikos Kazantzaki, logo entendemos que o factor-inspiração e o factor-experiência – nem sempre vantajosamente reunidos no evento literário – proporcionaram, neste caso, uma simbiose perfeita. Em «Cristo Recrucificado», a genialidade descritiva irá servir uma ideia equivalente, grandiosa, requerendo trunfos que «Liberdade ou Morte» poderia dispensar com o único risco de não vencer as parcas fronteiras do romance regional. De septénio em septénio, Lycovrissi, obscura aldeiazinha da Anatólia, usa reconstituir o Mistério da Paixão, preparando-o com um ano de antecedência. E Grigoris, o pope – que, posteriormente, há de acamar as inibições da fraqueza humana impendendo sobre a função sacerdotal – designa os intérpretes entre os habitantes. Cristo é Manólios, o suave pastor que consubstancia, afinal, toda a potencialidade mística do próprio Kazantzaki. A reposição dos factos não enferma, contudo, do ilogismo convencional que ainda há pouco se nos deparou na peça de Fabri «O Processo de Jesus», porque entronca na quase-verdade duma transplantação psicológica operada directa e progressivamente no indivíduo. Mediante circunstâncias coevas da acção, os protagonistas, sem emergirem do quotidiano, vão sendo inseridos no destino histórico de Pedro, de Tiago, de Madalena, precipitando-se o termo real do drama antes da data estipulada para o seu começo como teatro. Paralelamente, a conexão sociológica-religiosa localiza-se na tragédia dos refugiados que a sociedade lycovrissiana escorraçou, temendo vê-los impor uma gama de valores revolucionários nociva ao pacato quietismo estabelecido; e é o Padre Photis, condutor admirável desse povo egoisticamente recusado, que, acariciando o rosto exangue do sublime Manólios, pronuncia as palavras sintetizadoras: Também /Página 18/ isso foi em vão, Senhor. Cerca de dois mil anos passaram, e até este dia não deixaram de te crucificar. Quando virás ao mundo, Senhor, para não mais seres crucificado, para viver connosco eternamente? O lirismo flui em todo o romance, mas de tal modo – com tamanha efectividade moral e tão firme enraizamento nas mais válidas realidades – que prontamente nos ocorre o «sonhar com um dos olhos aberto» preconizado por George Santayana. Aliás, não custa vislumbrar um relativo encontro temperamental do autor helénico com o filósofo americano, que igualmente foi poeta e se deixou seduzir pela formosura conceptual do Cristianismo. Apesar de materialista confesso, Santayana absorveu maravilhadamente a poesia típica da religião cristã, como se a hereditariedade hispânica acordasse nele uma ânsia de beleza que medularmente discordava da sua filosofia. E Kazantzaki – não importa se agnóstico, se heterodoxo, se rigidamente cristão – também denuncia a permeabilidade do seu temperamento e até, talvez, da sua educação humanística, ao revérbero ético e à finíssima delicadeza espiritual do vulto de Jesus. Do amadurecimento desta propensão brotou a obra-prima que é, dizemo-lo sem receio de exorbitar, o «Cristo Recrucificado» livro extraordinário, perene, avassalador, que magistralmente coloca num problema de aldeia interrogações e angústias de amplitude cósmica.
Mais recentemente, a Editorial Ulisseia publicou «Alexis Zorba», vertido para português com um título – «O Bom Demónio» que, tendo alguma coisa de lugar-comum, nem por isso perde justeza em relação ao meio paradoxo contido na obra. Provando uma tendência já patenteada no desenho de heróis, como o Capitão Micael e Manólios, Kazantzaki novamente se decide pela individualização simbólica de toda a problemática numa desmesurada figura central, agora obtida sob os contornos irrequietos e a exuberância fora de série do incrível Zorba: Compreendi que este era o homem que eu procurava há tanto tempo sem encontrar. Um coração vivo, uma grande boca comilona, uma grande alma aberta. O sentido das palavras arte, amor, beleza, pureza, paixão, ia ser esclarecido para mim por este trabalhador com as palavras humanas mais simples. Acentua-se, pois, a presença das forças da natureza como autêntico húmus da ficção kazantzakiana, produzida num clima onde as reacções menos previsíveis depressa ganham a clareza de certo primitivismo potencial em vias de eclosão. E, porque a história é contada na primeira pessoa, torna-se empolgante o agigantar da influência de Zorba sobre o narrador perplexo: Criança, quase que cai no poço. Adulto, quase que cai na palavra eternidade e também em várias outras: amor, esperança, pátria, Deus. A cada palavra que transpunha tinha a impressão de escapar a um perigo e de avançar um passo. Mas não. Mudava somente de palavra e a isso é que chamam libertação. E eis que há dois anos completos estava suspenso sobre a palavra Buda. Mas sinto-o bem, graças a Zorba, Buda será o último poço, a última palavra-precipício e, enfim, ficarei livre para sempre. Para sempre? É o que se diz de cada vez. Um conceito valorativo da vida se desprende, apesar de várias nebulosidades e inconsonâncias, do comportamento vertiginoso de Zorba, desenvolvido como resposta às pesquisas antológicas e demais questionários metafísicos do seu intelectual companheiro. Valendo-se constantemente da sua capacidade estilística, Karantzaki introduz na acção todos os temas que lhe são caros – como a do chamamento erótico, desta vez a cargo de uma viúva Sumerlina que tem um pouco da Katerina de «Cristo Recrucificado» e bastante da Emínia de «Liberdade ou Morte» – e outros que especificamente concernem à feitura do livro; mas acontece que a diversa movimentação dos tipos é marcadamente subsidiária do escopo basilar, lembrando-nos uma «mise-en-scène» onde houvesse de se exibir poliformemente o histrionismo pujante de Alexis Zorba. Embora a adopção dum teor expositivo saturado de ironia não consinta que se defina a atmosfera de epopeia, tão peculiar ao escritor, o apelo às reservas ancestrais da consciência e da vontade humanas adquire todas aquelas proporções de inquietude e revolta que, aliadas a um comedido retorno às formas clássicas da novelística, vincadamente personalizaram e impuseram o génio literário de Nikos Kazantzaki. |
||||||||
|
Jorge Mendes Leal |
||||||||
|
|
||||||||
|
Ao zarpar – Poesia versus versos – Colóquio com José Régio – Lurçat e o homem – Três Romances de Kazantzaki – Inquérito sobre o «Prémio Camilo Castelo Branco» – O testemunho de Dante – Variações quase sentimentais sobre uma cidade – Poemas – O fantasma (conto) – Escrever um romance, realizar um filme – O Teatro-arte, o Teatro de intriga-escola de títeres e o anti-Teatro de Ionesco – O Povo, mestre minimizado, mestre desconhecido – Fac-símiles |
||||||||
|
|
||||||||
|
|