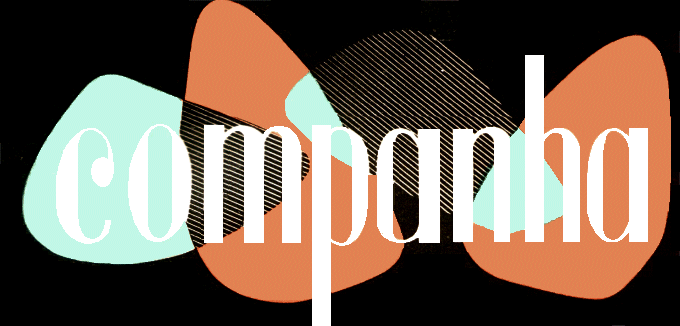|
|||
|
|
|||
|
Lembrança de RAUL BRANDÃO |
|||
|
Longos anos — não sei se repararam nisso — o nome de Raul Brandão andou no esquecimento. Feita simultaneamente de ímpetos e de êxtases (ímpetos como este: «Eu sou um impaciente que não compreende a paciência diante da desgraça, da escravidão ou da dor. Paciência nem diante do céu!; ou então o entusiasmo perante um panorama onde «bóiam ainda restos de sol esquecidos na lividez do rio, quando um fogaréu se acende e aviva as primeiras sombras num clarão que seria um achado para um pintor de génio»...) a sua obra parece que ficou à espera de uma conclusão que nunca se efectuou. Todavia, que um escritor se não realize, em absoluto, através da obra máxima em torno de que gira todo o resto, é uma coisa; e que no desejo de atingi-la nos deixe, por sua vez, a certeza duma poderosa vitalidade, em páginas sobre que o tempo atentamente se debruça, num espanto miúdo e sincero, é outra. Ora, Raul Brandão foi um desses. Obra que não cabe em nenhuma classificação — eu sou contra as classificações, no que, em matéria de arte, elas têm de asfixiante e restritivo — a do autor das «llhas Desconhecidas» lembra a de alguém que, ao fim duma vida de trabalho infatigável, a braços com sombras que procurou iluminar e com dúvidas que pretendeu esclarecer, por momentos se suspendesse a retomar o fôlego para nova investida. Entretanto, os anos correram, eles que são cada vez mais breves à medida que se somam. Outras gerações vieram, à voz duma consciência que se amplia. Novos valores se inscreveram na curva duma evolução sempre em vias de reajustamento. Raul Brandão ficou, porém, acima de todas as contingências e desvios de gostos e de correntes. Incólumes, impolutos, os seus livros resistiram ao tempo — mas nem sempre ao esquecimento. E por isso, quando o releio ou dele me falam, sinto-o como que recuperado. O mesmo sucede agora, ao voltar a última página das «memórias» de Maria Angelina Brandão, viúva do escritor, que vem recordá-lo num livro cheio de melancólica ternura, conforme se deduz até da epígrafe editorial, que aproveita duma carta dele, a frase que sublinha a comunhão íntima dos sentidos e do pensamento do casal: «Um Coração e Uma Vontade» se designa o volume, cujas «páginas escritas ao correr da pena» avivam todo um passado não extinto. Pois bem. Se hoje pode já considerar-se simplista a ideia de ligar à literatura, dita feminina, um conceito de fragilidade, de delicadeza e de transparência, é isso mesmo o que acontece neste caso. Livro dum temperamento genuinamente feminino, «Um «Um Coração e Uma Vontade» é uma destas obras ditadas mais pela sensibilidade que pela inteligência. Compreende-se que assim seja. E que, portanto, o escritor que nele se evoca, personalidade de contrastes por vezes violentos, fortemente individualizada, com o nome ligado à mais trágica visão da existência que a nossa literatura já concebeu, resulte assim numa imagem que, à primeira vista, parece não corresponder à que da leitura dele se guardou. Em todo o caso, ficaria desta forma mutilada ou incompreendida essa estranha figura literária, a um tempo vigorosa e magoada, se a não temperasse o conhecimento de certas atenuantes de carácter agora tão amorosamente dadas. De facto, o «belo moço, muito alto, louro, falas mansas (...) um tanto tímido e pouco comunicativo», de que Maria Angelina nos revela, com parcimónia, a fisionomia, não parece ser o autor angustiado do «Húmus» e de «A Farsa», antes pelo contrário, apenas o d’«As Ilhas Desconhecidas» e «Os Pescadores».
As suas cartas íntimas, as suas viagens,
os seus gostos e predilecções, tudo isso ajuda a compor o clima humano
destas «memórias» de Maria Angelina Brandão, prolongamento, no tempo, da
personalidade dum escritor português a quem nunca se agradecera
suficientemente o prazer espiritual da sua presença fiel nas bibliotecas
dos que ainda o sabem ler, porque o estimam, o admiram e o não por TABORDA de VASCONCELOS |
|||
|
|
|||
|
As imagens têm voz – Entrevista com Mário Braga – Correspondência dos Leitores – Três Poemas de William Carlos Williams – Rodolfo da Cantuária – Crítica literária – Carta a Mário Sacramento – Considerações gerais sobre "factos" – Carta a Luís Francisco Rebello – Uma exposição de monotipias de Emanuel Macedo e José Paradela – Digesto de Notícias – Lembrança de Raul Brandão – Ilusões (conto) – Entrevista com o Dr. José Pereira Tavares – Concerto do Silêncio (crónica) – Do infinitamente pequeno ao infinitamente grande – Poemas – Escamas – Asas cortadas – Fac-símiles |
|||
|
|
|||
|
|