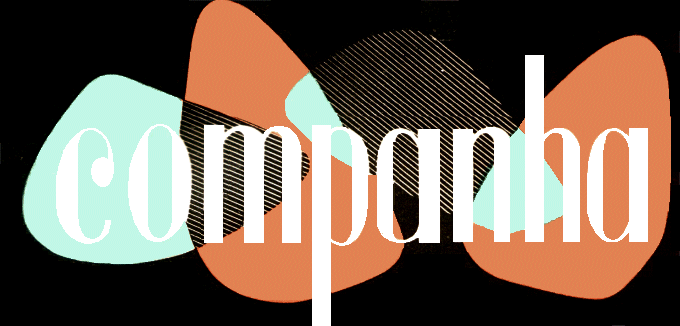|
|||
|
|
|||
|
|||
|
A aventura de Gully Jimson — velho pintor repleto dum inconformismo sem raízes bem definidas — acusa, na sua trama geral, uma oscilatória debilidade; se não mesmo um compromisso discutível com a brilhante veia satírica do autor; caudalosamente embrechados numa toada descritiva prenhe de verbosidade, os lances repetem-se, emaranham-se, dilatam-se, com prejuízo dum ritmo que as amiudadas introversões do protagonista já entrecortariam suficientemente. Encontramo-nos, contudo, ante um narrador invulgar, servido por uma destreza estilística que, embora localizável nos antípodas do classicismo retórico, nunca se aproxima da fórmula totalmente expurgada de Cucurull, ou Pratolini, ou Cendrars; e, no milagre da sua frase curta, às vezes cingida a períodos sucessivos duma única palavra, reside a explicação maior do constante domínio que mantém sobre o leitor, impondo-lhe um interesse muito à beira do encantamento e escamoteando-lhe a percepção racional duma ideia-base notoriamente descolorida. Temos, pois, que o humor de Cary, chegando a requintar-se num processo auto-crítico à maneira de Waugh, não efectiva aquilo a que chamaríamos humor de situação; toda a vivacidade deste «jongleur» do sarcasmo vem aplicada no jogo caleidoscópico das suas metáforas e define, assim, um método humorístico puramente verbal. O conteúdo da sua ironia não atinge as culminâncias universalistas de B. Shaw, nem a intelectualizada finura de Aldous Huxley; tão-pouco a sua virulenta iconoclastia aparece moldada nos paradoxos subtis dum Wilde, apesar de igualmente construída sobre caboucos dialécticos. Mas as suas desconcertantes /página 23/ imagens, possibilitando um sintetismo de expressão verdadeiramente ímpar, garantem-lhe um lugar de boa plana entre os notáveis da língua britânica. Mascarado sob tais primícias tropológicas, o cinismo de Jimson fila um «statu quo» social cujos podres ninguém desconhece e azorraga-o sorridentemente, deixando numa penumbra expectante certas latências poéticas que, conquanto impressivas, só muito fugazmente irrompem da urdidura global. Nosy, o garoto que acreditava na Arte; Plant, o incrível sapateiro de formação espinoseana; a Coker, feia, ignorante, saturada de afectividade e senso-comum — traduzem o pacto do escritor com as reservas de sinceridade ainda topáveis no mundo. Além disso, à Coker pertence um outro papel específico, desde que aproveitemos o cômputo das suas virtudes para um estudo multifacetado da natureza feminina. E esse estudo, a revelar uma tendência imediatamente comprovada por alguns passos esclarecedores (...as mulheres são muito úteis à Arte. São a matéria prima...) completa-se no desenho de mais três personalidades-padrão — Sara, Rozzie e Lolie —, cada qual fixando uma convergência-tipo das principais linhas psicológicas inerentes à mulher.
Todavia, o bosquejo dalguns episódios, insertos na efabulação à guisa de rápido apontamento, assegura-nos que a mordacidade do livro é quase toda aparente e derivada dum recreio formal que, por espontâneo, sistematicamente convida à sátira impiedosa. As lágrimas que toldam a face de Gully Jimson ao aperceber-se da morte de Sara reflectem, digamos, um dos muitos peculiarismos temperamentais que constituem o substrato humano da novelística de J. Cary. Recapitulando, voltaremos a salientar que «A Verdade Em Primeira Mão» nada esclarece no aspecto de revoluções literárias ou mensagens especiais, nem prima por uma índole temática capaz de exceder a técnica fulgurante do discurso exibido. Também a pesquisa de quaisquer influências marcadas, sobretudo implicando atitudes de discípulo, redundaria num insucesso; e isto porque a ficção de Cary — mesmo que lhe debitemos um permanente «sopesar de consciências», visível em James Joyce, ou uma valorização das personagens humildes que lembra Thomas Hardy — parte directamente de arrogantes e firmes recursos pessoais. A impressão que nos fica, após a leitura de cerca de quinhentas páginas, é justamente a duma história não muito rica de qualidades intrínsecas, mas contada por alguém que, denegando todo o enfeudamento a esta ou àquela escola, possui o indelével mérito dum estilo original e cheio de sabor. MAR SANTO de Branquinho da Fonseca SOCIEDADE EXPANSÃO CULTURAL MAR SANTO é a Vida duma aldeia de pescadores, perdida na borda do mar e onde o progresso ainda quase não chegou. «— Houvesse um portinho de abrigo, um muro que nos defendesse — costumam eles lamentar-se — e já a fome era menos». No seu quase primitivismo, essa gente vive dependente do deus-supremo-mar, «o amigo-inimigo donde lhes vinha todo o bem e todo o mal, a miséria e o pão, o luto e a alegria». Quando os barcos podem sair para fora da praia, não há fome, e uma sensação de felicidade envolve aquele pequeno mundo. Quando o mar rompe com o seu estrondo, «às peças», lá do alto, e avança pela terra dentro, há gritos de angústia na praia, e a vida traz a cobri-la um manto escuro, os pescadores matam o tempo pelas tabernas, a casa de penhores é por uns momentos a âncora salvadora, e um baile à noite, ao ruído da sanfona, ainda é o único esquece-mágoas e misérias. Na preocupação de trazer para as suas páginas o reflexo duma panorâmica real e pormenorizada desta sociedade, Branquinho da Fonseca valeu-se duma esquematização, que por pouco nem chega a ser uma esquematização, tão diluída fica a linfa principal na rede de afluentes e confluentes que a rodeiam. É a velha intriga de amor, mais observada pela lupa do folclore do que por outra coisa. O Zé Orega é um valente rapagão, «alto, de ombros largos, com uma cara de linhas serenas, o olhar calmo», desde os catorze anos habituado a ir à Terra Nova, agora «primeira-linha da frota bacalhoeira e ali na Praia também um dos melhores pescadores /página 22/ de peixe grosso». A Inês e a Bragaia são as cachopas mais jeitosas e bonitas da aldeia, um tanto esquisitas na escolha de namoro, e talvez por isso mesmo alimentos de muito sonho. O Zé Orega e o seu inseparável Chalabardo, com mais alguns, resolvem fazer uma sociedade para comprar um barco, o qual, logo no primeiro dia, é estilhaçado pelas ondas contra a costa. O Chalabardo sempre conquista a Bragaia e, como a Inês se resolve a olhar com outros olhos o Orega, ele paga vinho a toda a malta e bebem à saúde dum novo barco que haveriam de comprar. É assim, dentro dum tal entrecho, dado nas tintas mais leves, que Branquinho da Fonseca ganha oportunidade para analisar todos os recantos da vida deste povo, todos os cambiantes do espírito e da psicologia deste povo: os seus usos, as suas crenças, a sua formação, os seus costumes, no que têm de picaresco e de instintivo, de folclórico e de elevado, no dia-a-dia monótono que se tece entre a bonança e as ocasiões de tempestade. Desta maneira, o livro perde uma sequência directa de narração para se tornar mais um largo quadro, ou melhor, uma densa série de aguarelas cheias de movimento e de cor no seu fundo permanente — o Mar. E surgem-nos, então, num realce de descritivo, cenas de difícil paralelo em obras do mesmo género, como a zaragata, no baile, à navalhada, entre o Quim Zarro e o Orega, a bisbilhotice das vizinhas, o jogo nas tabernas, as mulheres que se juntam à saída ou à entrada dos barcos, os ambientes soturnos de família, a preparação do engodo para a pesca, as lotas para arrematação do peixe, todo o belo colorido dos bosques circundantes prenhes de mistério e sedução, albergando assassinos e lagoas onde as raparigas vão mergulhar o seu nudismo. Uma dessas descrições, que só dificilmente esquecerão, é a daquela tarde de angústia em que o povo, em multidão, segue ansiosamente os manejos do barco do Orega entre as ondas. Os seus lamentos misturam-se com os uivos dos tufões e o trovejar do Oceano. «— Olha... Agora viram ao Norte?... — Minha Nossa Senhora! Estão aos teus olhos! Minha Nossa Senhora!... — Santificado seja o vosso Nome, assim na Terra como no Céu... — Onde vão eles?... — Quem lá vai sabe o que faz.» As páginas dum Raul Brandão dos «Pescadores» assaltam-nos, rápido, à lembrança. Há, contudo, um outro pormenor, grande e de merecido destaque nesta obra de Branquinho da Fonseca. É a figura do ti Bártolo, o tipo perfeito do homem do nosso mar, com a rudeza dalguns setenta invernos a amarrecar-lhe o costado e com a experiência da vida a brotar-lhe das palavras. — «O mar engana Cristo...» /.../ «Sê bem o que é o mar: antes o não soubesse... Tem me lá dois filhos e um irmão...» /.../ «O mar!... Sabes lá o que é o mar! Quem bebeu auga salgada é que sabe... O mar é um lião...» — assim ele vai discorrendo através das páginas do livro. No entanto, depois de tudo, o que será ainda mais para admirar é a forma como o autor de «Mar Santo» conseguiu transmitir, dentro da já assinalada fraca intriga desta sua obra de ficção, uma tão intensa visão da vida desta gente, sem incorrer no precipício do emaranhado confuso e sem nexo. Tudo nos aparece com naturalidade, com brilho, com equilíbrio. Os diálogos como que foram recolhidos daquele linguajar embebido de maresia. Pode haver quem não concorde com o espírito da obra, mas todos reconhecerão nela um autêntico filão de trechos de antologia. Em meu ver, também a «Presença» esteve presente na realização desta obra. O mesmo sentido mórbido, o mesmo tom deprimente, o mesmo carácter estranho, quer dos ambientes quer das personagens, que na generalidade os presencistas beberam em Raul Brandão, se evola de quase todo o contexto. Porém, uma verdadeira compaixão pela humanidade que parece aproximar Branquinho da Fonseca do neo-realismo se desprender de frases como esta: e a rede «lá vem vindo, arrastada por aquelas negras filas de escravos, dobrados, chicoteados pela voz que dá esperança...», etc.. A «Presença» não acolheu com muita simpatia o aparecimento desta nova corrente literária, arreigada, como estava, às suas concepções e teorizações acerca da Arte duma forma que não chegava a consentir, dentro das suas muralhas pontos de vista diferentes. Daqui nasceu a dissidência de Branquinho da Fonseca. E eis onde está a singularidade e o lado simpático deste escritor: uma personalidade que não sacrificou totalmente aos manes duma, para se conservar de todo alheado aos rumores da outra escola. É isto que está bem patente em «Mar Santo», uma novela que mais se poderia classificar de romance pelo mundo de vida que encerra — mas, acima de tudo, uma obra de arte, realizada com um grau de sensibilidade, com um tal sentido estético, que bem pode explicar o acolhimento que o público lhe tem dado, agora que se distribui já em segunda edição. JOAQUIM CORREIA |
|||
|
|
|||
|
Tragédia e Comédia: conceitos e realizações – A última Aventura de Júlio Verne – Pequeno Romance de um Rio – João Afonso de Aveiro acompanhou Diogo de Azambuja à Costa da Mina? – Poesia versus / versos – Poemas – Dois Inéditos de Jaime Magalhães Lima – Prolegómenos da História d'Arte – 12 Unidades sobre o País de Gales – Uma Perdida no Céu (conto) – Crítica – Biblioteca Municipal – Fac-símiles |
|||
|
|
|||
|