|
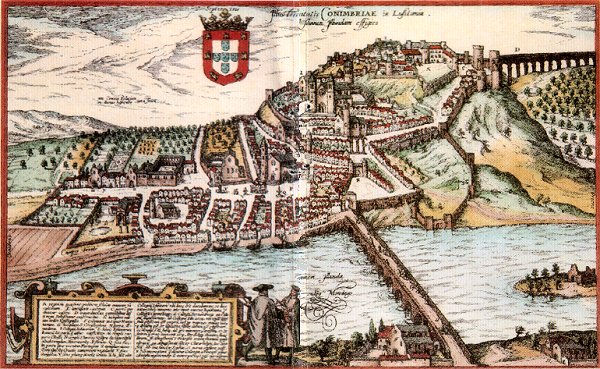
NO
PONTO onde o Mondego tem o seu derradeiro estrangulamento, era
inevitável que desabrochasse uma cidade. A Ponte é o sítio
mais favorável à travessia antes dos terrenos alagadiços do
Baixo Mondego.
Daí
que o remoto trilho sistematizado na romanização como via
Olissipo-Braccara cruzasse fatalmente o Mondego neste ponto e
que das ensolaradas elevações da margem direita a mais próxima
e com água no subsolo se constituísse em guardiã da travessia
do rio.
Para
entender Coimbra na História, é de capital importância esse
fatalismo geográfico que lhe determinou papéis vários de
centralidade, fronteira, portagem, encruzilhada a diversas
escalas ao longo do tempo.
No
início da nossa era, o leito do rio correria fundo entre duas
acidentadas margens. A sedimentação provocou o alargamento do
leito, entretanto artificialmente reduzido com a construção de
cais e aterros que, definitivamente (?), impediram as cíclicas
inundações. Só assim pôde a cidade espraiar-se pelas
margens, coisa com menos de século e meio.
Da
Coimbra romana, Aeminium, pouco se sabe. Teria uma ponte, mas
dados seguros são apenas: o perímetro, o traçado das
muralhas, as portas, o aqueduto, a necrópole, a localização
do seu centro monumental/fórum na zona correspondente ao Paço
Episcopal/Sé Nova. Deste último conjunto restou o criptopórtico
em três pisos que hoje integra e parcialmente sustenta o Museu
Nacional Machado de Castro, quiçá a primeira operação de
obtenção de espaço público plano na difícil topografia da
cidade.
Estes
elementos eram articulados pelo, hoje em parte obliterado, eixo
orgânico que, da Porta do Sol chegava à Porta de Almedina e
que no centro cívico/fórum se cruzava com um outro, a matriz
da rua que atravessa a Alta entre os topos das couraças dos Apóstolos
e de Lisboa. A esta relação se deveria a regularidade da malha
que, até à reforma do Estado Novo, se verificava no Sul da
colina. Do período romano serão as já referidas couraças,
troços do «pommerium» romano que pelo interior do perímetro
muralhado articulava as portas e os extremos dos eixos
estruturantes.
Da
queda do Império Romano à reconquista definitiva da cidade
pelos cristãos (1064), as várias trocas de domínio (suevo,
visigodo, islâmico) tiveram implicações urbanísticas desprezáveis.
A importância regional da cidade crescia. A mudança da sede de
bispado de Conímbriga para Eminio nos anos oitenta do séc. VI
foi a confirmação disso, e a partir dela se deu gradualmente
a mudança de nome para Colimbriae — Coimbra enfim.
Nos
primeiros tempos da nacionalidade, a permanência do vale do
Mondego como seu referente fronteiriço levou a que os primeiros
reis fizessem da cidade morada preferencial, ali nascendo
quase todos os príncipes da I Dinastia. Nesse contexto surgiu
o Mosteiro de Santa Cruz, fundado com o empenho de D. Afonso
Henriques, que para tal cedeu os seus banhos, umas prováveis
termas romanas.
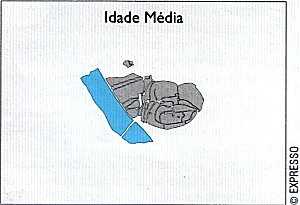
A
lusa casa-mãe agostinha, para além de forja intelectual e
legitimadora da nacionalidade, foi também o primeiro da série
de conventos-panteões da monarquia portuguesa. As termas
tiravam partido da ribeira, a linha de água que corria no fundo
do vale, e a implantação do convento sobre ela catalisou o
crescimento da cidade sobre e para além do seu curso final. Em
contrapartida, constituiu-se como barreira à ocupação a
montante.
A
TÍMIDA extensão urbana fora de portas, desenvolvida segundo a
via Lisboa-Braga e comprimida entre a frente poente da muralha e
a linha média de cheia do rio, encontrava mais espaço. A
conjugação da porta Oeste (Almedina) com dois pequenos templos
cravados na encosta de então (S. Bartolomeu e S. Tiago) havia já
potenciado um alongado terreiro onde se realizava a praça. A
construção de uma ponte foi outro dos empreendimentos de D.
Afonso Henriques, obra que se prolongou pelos reinados
seguintes, a par com os constantes reforços da muralha, as
reformas nos templos, entre os quais a Sé (a meio do principal
eixo estruturante), e a fixação de instituições de assistência
e de conventos (Donas, Celas, S. Jorge, S. Francisco, Santa Ana,
S. Domingos, Santa Clara), todos em arrabalde ou na margem
oposta, dada a falta de espaço.
A
partir do séc. XIII, a estabilização das fronteiras tornou
definitiva a deslocação do centro administrativo para Lisboa.
Apesar de tudo, Coimbra solidificava a sua estrutura urbana. O
centro cívico da cidade, outrora concentrado em torno da Sé,
desceu o Quebra-Costas, não ultrapassando ainda a Porta de
Almedina. Era então grande o empenho régio em manter a população
a residir intramuros, para tal sendo concedidos grandes privilégios.
Mas a acessibilidade aos cais, a intensificação das trocas
comerciais e o grande terreiro comum a Santiago e a S.
Bartolomeu eram factores incontornáveis.
O
reformismo urbanístico do período manuelino veio confirmar
essa tendência. Para além de intervenções profundas em Santa
Cruz, do folgamento dos largos da Sé e de Sanção e da
integral renovação da ponte afonsina, o terreiro foi refeito
com a implantação de equipamentos novos ou renovados — Câmara,
pelourinho, tabeliães, açougue, mercado, Misericórdia,
hospital —, passando a ser o centro da cidade, a sua praça.
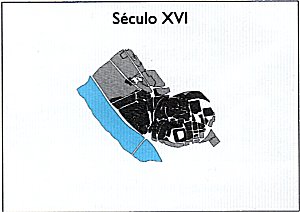
Com
ela se desenvolviam em altura e ocupação as ruas de Coruche e
da Calçada (futuras Visconde da Luz e Ferreira Borges),
preenchendo-se também o espaço até ao rio e Santa Justa, no
que hoje é o Terreiro da Erva. A cidade muralhada (Alta) foi-se
desertificando, mas muito pouco tempo depois um acontecimento
mudava definitivamente a sorte urbanística de Coimbra. Em 1537,
pela terceira vez, a Universidade foi transferida de Lisboa para
Coimbra, só que desta vez o radicalismo da reforma deu origem a
um amplo programa construtivo que a fixou definitivamente. Para
tal se lançou mão de todos os recursos possíveis, em especial
dos bens de Santa Cruz.
O
processo pode-se esboçar em dois momentos, a que correspondem
também dois espaços: a fase humanista na Baixa, com a instalação
do primeiro Colégio das Artes, gerando largo/pátio próprio e
a abertura da Rua de Santa Sofia; a da Contra-Reforma, que, a
partir da entrega da tutela do Colégio das Artes aos Jesuítas,
deslocou o centro universitário para a Alta.
O
rei cedera os seus paços para a instalação dos Gerais. Se a
abertura da nova rua é a face da reforma de D. João III, a
segunda é a marca que tornou Coimbra a única cidade do Antigo
Regime a manter vitalidade na sua velha cidadela e a ver sociológica
e culturalmente dividido — entre escolares e futricas — o
seu espaço urbano.
A
Universidade atraía uma população que era necessário alojar,
o que deu origem à densificação do casco urbano, em especial
na Alta, onde, com o jesuíta Largo da Feira, surgia a
toponimicamente reveladora Rua Larga. Com D. João V, à
inconsequente reforma dos estudos correspondeu uma valorização
urbanística do espaço universitário. Ergueu-se a nova torre
da Universidade, implantou-se a nova Casa da Livraria.
APONTANDO
um dos futuros eixos de desenvolvimento urbano, em 1748 e por
iniciativa episcopal, iniciou-se a construção do Seminário. A
cidade, que no século anterior substituíra os seus assoreados
conventos de S. Francisco, Santa Clara, Santa Ana e S. Domingos
(este ainda no séc. XVI) e agora renovava alguns dos templos
(S. Bartolomeu, Santa Justa, S. Pedro, S. João), continuava a
combater os excessos do rio.
No
auge do reformismo iluminista pombalino, a refundação da
Universidade, voltando-a para as Ciências e para o
experimentalismo, ficou muito aquém dos seus propósitos urbanísticos.
Apesar de tudo, o colégio jesuíta foi reconvertido em sede
episcopal, hospital universitário, Museu de História Natural e
Gabinete de Física, dando os seus anexos lugar ao Laboratório
Químico e o logradouro a uma nova praça. O Pátio das Escolas
ganhou a sua feição actual. A praça da Baixa perdeu
definitivamente o hospital e a Misericórdia agora instalada na
velha Sé. Mais determinante foi a criação do Jardim Botânico,
a mancha verde que cintou por todo o Sul a velha Almedina.
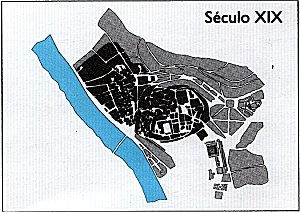
O
processo de construção do Botânico arrastou-se pelas
primeiras décadas da Idade Contemporânea e, com a extinção
das ordens religiosas, tornou inevitável a abertura à urbanização
da vertente oposta, ou seja, da Quinta de Santa Cruz.
Por
razões óbvias, só na Regeneração se conjugaram as sinergias
necessárias a mudança tão radical. Em 1866, a mudança do
mercado para o local actual, levando a praça da cidade à
designação de Praça Velha, foi um passo simbólico. A abertura
da actual Avenida Sá da Bandeira, para além de articular o
casario de Montarroio com a Alta, anulou a exclusividade de
utilização do velho eixo que atravessava esta até á estrada
da Beira. A actual Praça República passou a articular os acessos
ao burgo e à Alta, tirando partido do espaço de lazer que fora
dos crúzios e agora era da cidade: o Parque (ou Jardim) da
Sereia, onde a Académica veio a ter o seu primeiro campo de
jogos. O caminho-de-ferro (1864), uma nova ponte (1875), as
obras do cais, a concomitante abertura da actual Avenida
Navarro e com ela do mais directo acesso à estrada da Beira, a
reconfiguração do Largo da Portagem e a construção dos novos
Paços do Concelho são marcos da cidade pós-revolução
industrial, que no aterro do novo cais e em Santa Clara também
se industrializou.
Foi
com essa dinâmica que Coimbra entrou no séc. XX, expandindo-se
segundo a topografia e velhos caminhos rurais, refinando
tipologias arquitectónicas específicas como as da encosta de
Montarroio. Foi a pressão demográfica da imigração beirã
dos anos 30 (e a ligação de Salazar a Coimbra) que levou o
Estado Novo a empenhar-se no plano da cidade nas décadas de
1940 e 1950.
Na
esteira do plano encomendado a De Grõer surgiu um conjunto de
bairros sociais (Loreto, Cheira, Marechal Carmona/Norton de
Matos, Sete Fontes, Cumeada, Santa Clara, Fonte do Castanheiro),
sendo aglutinados pela cidade o lugar dos Olivais e os sítios
do Calhabé e da Arregaça e abertas artérias urbanas como as
avenidas Fernão de Magalhães, Afonso Henriques e Dias da
Silva. Para além da nova ponte, a concentração de outras
marcantes infra-estruturas urbanas (liceu, magistério, estádio)
serviu de suporte a uma das raras concretizações portuguesas
de um plano inspirado na Carta de Atenas: a Solum. Ainda hoje as
mais marcantes opções de ordenamento se inspiram nas reflexões
de De Grõer (vales das Flores e de Coselhas, ponte-açude,
circular urbana) e só há pouco se abandonou a polémica ideia
da Avenida de Santa Cruz (vulgo «bota-abaixo»).
Foi
no entanto a Universidade que registou a intervenção emblemática
do Estado Novo. Contra os princípios formulados por De Grõer,
foi (re)instalada no seu próprio espaço. De forma violenta,
o casco urbano foi arrasado, obras de arte destruídas e a
topografia radicalmente regularizada. Sem deixar de lamentar o
que se perdeu, não se pode, no entanto, deixar de registar que
nem assim a estrutura milenar da cidade, o seu perímetro e
acessos se remeteram em exclusivo para a memória.
WALTER ROSSA (Arquitecto)
|