|
UMA FÁBRICA MODIFICA UMA
POVOAÇÃO MILENÁRIA
E RESTITUI-LHE A FUNÇÃO
DE ATRACÇÃO POPULACIONAL
POR
EDUARDO CERQUEIRA *
Em cinco céleres lustros – por uma causa
que, de certo, seria despropositado e exageradamente desconforme apontar
como exclusiva, mas se mostra, nítida e incontroversamente sobrepujante
de qualquer das demais que no efeito concorrem, extrínsecas e de
incidência generalizada, ou localizadas e determinantes autóctones –
Cacia da sua predominante «vis rustica» secular não se restringiu
ao progredir na área de ocupação habitacional e no número de construções
novas que nela se implantaram e em quanto eles atraíram nele afluência
alienígena.
Novas condições físicas e com repercussões
de feição humana nas surgidas estruturas mesológicas, novas e
renovadoras, e com mais vigorosos húmus criativos, a modificaram, em
breve quarto de século, mais acentuadamente que em todo o tempo
precedente que, sem certidão embora, vinha somando. E esse
recém-despontado condicionalismo firmou com maior segurança de
subsistência os elementos nados, do mesmo passo somando-lhe pelos rumos
que daqui irradiaram como de um pólo, ao revés, por eles, de todo o
redor, atraía, tentador, promitente, factor de acção e prosperidade
individual e de lares com melhores confortos e auspícios.
A povoação, por consabidos rastos
documentais, mormente por esse sistema de escrita natural que no solo se
acama como as páginas se sucedem, e por vezes revolve e subverte, mas
conserva, deixa, lenta mas exacta, a crónica do evolver geológico
exarada – aparentemente em dilatados períodos, apenas porque a nossa
penetração analítica não atinge ou não discerne o pormenor. Neste trecho
topam-se, mesmo incongruentes na descontinuidade, rastos concretos,
ainda que motivadores, por vezes, de interpretação conjectural e frágil,
pegadas na sedimentação, vestígios postos à nossa capacidade de
discorrer com lógica ou com desferidos voos de fantasia, nos brandos
solos aluvionares sobrepostos.
Anda referenciada a forma geofísica, se não
remontante a antigas épocas geológicas, que a elas não poderia recuar-se
ao que ainda não havia emergido, com certeza do terciário. E, depois,
com algumas marcas evidenciáveis de feição proto e pré-histórica,
podemos retroceder para os primeiros indícios da Cacia que hoje nos
atrai a atenção, profundamente no tempo.
E, sem querer imiscuir-me num âmbito de
saber que de largo excede a minha regedoria, pois o facto de, com
propensões desgarradas, ter passado por aulas de ciências geológicas e
paleontológicas, não me credencia nem me intimida nessas matérias, posso
aqui arrimar-me à familiaridade e ao estudo que a Alberto Souto conferem
nestas questões autoridade de abonador. Citá-lo-ei pois, do seu bem
deduzido trabalho «A Pelagia Insula, de Festus Avienus»(1). Aí
escreve o ilustre e polifacetado aveirense, corroborando o que venho a
aventar:
«Longe de mim defender já hoje a tese de
que, 500 anos antes de Cristo, a Ria de Aveiro era o aparelho litoral
que presentemente conhecemos. Mas, pelo conhecimento que tenho da costa
portuguesa, conhecimento não directo apenas, mas geográfico e geológico,
o que afirmo, com Martins Sarmento, é que o fenómeno descrito por Avieno
/.../ só era possível no estuário do Vouga, ou no local ocupado hoje
pela Ria de Aveiro, onde o carácter da vegetação lagunar(2) se mantém
ainda tal como a descreve o autor da Ora Marítima na sua
Pelagia Insua». Assim, pois, no raio de Cacia, quando a Ria ainda se
encontraria na fase de insipiência.
Poderei continuar dando homem por mim. Só
com «prata da casa», que felizmente não falta e de excelente quilate.
Neste passo abonatório com um autor que ao relancear a história
económica de Aveiro lhe buscou as raízes de mais profunda ancianidade
significativa – aquele que nesta faceta mais lúcida, pormenorizada e
fundamente prospectou o passado da sua terra – o Comandante Silvério da
Rocha e Cunha.
Citando e reproduzindo o portulano de Petrus
Visconte, referenciado ao ano de 1318, escreve(3) esclarecedoramente o
escrupuloso e exigente estudioso
/ 22
/ dos temas de economia
aveirense, especialmente os ligados aos aspectos portuários:
«Não existia a laguna de Aveiro, formando a
costa, a partir do local onde hoje está a lagoa de Esmoriz, uma grande
franchadura até ao Cabo Mondego; o estuário, onde desaguavam os rios
Águeda, Cértima e Vouga, comunicava directamente com o mar no ponto,
situado a 34 milhas do mesmo Cabo Mondego, que na carta actual fica
situado entre Cacia e Angeja».
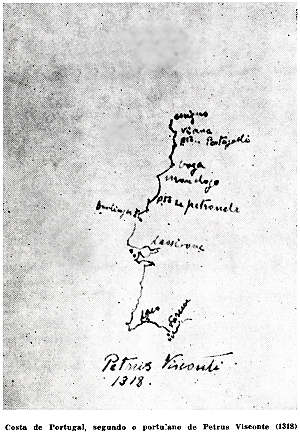 E, noutro passo, corroborando o ponto de
vista das nossas asserções, manifestando que o portulano de Petrus
Visconte, datado de fins do segundo decénio do século XIV, representou
já uma costa muito posterior ao domínio romano, mas bastante anterior à
sua data, possivelmente de cinco centúrias antes, observa: E, noutro passo, corroborando o ponto de
vista das nossas asserções, manifestando que o portulano de Petrus
Visconte, datado de fins do segundo decénio do século XIV, representou
já uma costa muito posterior ao domínio romano, mas bastante anterior à
sua data, possivelmente de cinco centúrias antes, observa:
«Uma grande abertura entre Cacia e Estarreja
interrompia a linha da costa, constituindo a entrada de um braço
marítimo onde desaguavam o Vouga, o Águeda e o Cértima.»
Fundamentando, com judiciosos assertos as
opiniões unânimes dos estudiosos do tema, intui a evolução desta zona do
litoral, adiantando:
«No estuário do Vouga entravam francamente
as águas do mar misturando-se com as dos rios; formaram-se, assim, os
depósitos de aluviões fluviais e marítimos que o colmataram
naturalmente. As sondagens geológicas não deixam dúvidas sobre a
proveniência mista das sedimentações que o entulharam.»(4)
Ora muito mais por tempos de antanho, como
aduzimos, ficaram no aro caciense sinais castrejos. Se não por
espontânea genitura de população propriamente aborígene daquela
circunscrita área, consequente às propiciações que do terminal fulmíneo,
espraiado, estimulavam a criatividade, fixação e defensão de posições de
mais um posto de atalaia e troca mercantil aos romanos ocupantes e
imiscuintes nesta zona, desde tempos do mencionado Rufus Festus Avieno,
ou já precedentes.
Velha e lenta, por essas longínquas eras
brotante, lograria o primeiro surto – o do estabelecimento de uma
posição adequada aos intentos de aproveitamento de valores económicos
interiores e da bacia hidráulica que a esse ponto fulcral confluiria, e
à política de transporte dos romanos ocupantes, que estanciando pelo
contacto e o exemplo de predeterminada cativação germes civilizadores,
não abdicavam dos proveitos possíveis e procurados, na sua permanência
de fins com expansionismo colonizante.
A via fluvial, navegável até para além dos
dois miriâmetros, quer no sentido exclusivo do Vouga, quer no do Águeda,
facultava-lhes o transporte nas embarcações, de pequeno porte embora,
que se faziam às rotas de marginações costeiras, à prudente vista de
terra, anteriores ao uso do governalho e, claro, dos subsequentes
instrumentos náuticos.
Cacia, pois, se na época da dominação romana
não se situava precisamente na foz do velho Vouga, que manava de uma
nascente, pouco mais de uma pena de água, rasgada na rocha granítica,
firme e imponente – a que depois se chamou e é orologicamente da Lapa –
logo provém do que lhe ficava à ilharga. Haveria que garantir a
segurança dessa porta do (e para) o mar. Suceder-lhe-ia, logicamente
consequente – se não mesmo com precedência da população que poderemos
qualificar de autóctone da Cacia vouguense, da região serrana ou das
margens declinantes para os plainos da costa – que cambiava como o sal
dos primeiros marnotos alavarienses os produtos da lavoura e pastorícia
das terras mais altas que o chão raso, ao rés do nível oceânico, das
salinas.
Com um pequeno punhado de habitantes quando
a laguna apenas começava a esboçar-se em nortenhas dunas de paragens
ovarenses, com o mar ainda em reentrância amplamente aberta nestes
paralelos da costa, passara a fase de estabelecimento e da fixação com
ténues, rudimentares estilos de subsistência e radiculações escassamente
consistentes.
Então, todavia, a desabrolhante Cacia, com
esse ou outro topónimo, pré-romano ou de crisma de
/ 23
/ popularizado sabor ao latim
bárbaro que na zona se difundiria, constitui um ponto de afluxo humano.
Aparte aquele mínimo de guarnição de ocupantes, interessadamente
complacentes, que garantisse a segurança da foz ainda sujeita aos
efeitos das marés e ao caldear de água salgada, naquela porta de
intercâmbio, das recíprocas correntes, de certo de desequilibrada
balança no cotejo dos dois sentidos, mas assim mesmo fulcral núcleo de
troca, estanciava-se, com moradia permanente, num povoado com, ainda que
rudimentares, as condições de habitabilidade que prendem, e depois
aglutinam.
E comerciava-se, muito provavelmente,
enquanto ao lançar raízes e ao adoptar a terra para os lares
constituídos ou transferidos se arroteavam as margens de recente
sedimentação e a enriquecer de húmus com pertinácia.
As gentes da serra, mais instáveis que o
solo firme, agreste, inamovível e inóspito, tinham um pendor para o
oceano, intrigante nos seus ainda ignotos mistérios, e vinham com o rio.
Os segredos e as lendas e porque descer, com a água em busca do mar,
tentam. E, ao contrário do que no seu mais intuitivo e literário que
científico estudo, o escritor e pensador aveirense Jaime de Magalhães
Lima, Os Povos do Baixo Vouga(5), quando no seu estilo tão pessoal e
atraente diz: «... para leste, alçapremam-se em seus vestígios pouco
hospitaleiros, solitários e exclusivistas, os enxames de peões que a
vastidão continental criou e tendem pouco a descer à costa, porque o
serrano teme o mar como um monstro fabuloso» – propendo a crer que,
sobrelevando as correntes de indivíduos nórdicos ou mediterrânicos,
geretrizes dos tipos entremeados de ílhavos e murtoseiros, os cacienses
terão sobretudo ascendência de gentes da Lapa, ou caramulana ou de
outras quaisquer vertentes.
Como as areias que o rio desagregava – na
continuada acção da água mole em pedra dura – da rocha coesa, e depois
carreava para as novas terras e os novos espaços lagunares, e as
depositava, lavadas e claras, pelas beiras do mar, a que usurpava
sucessivos espaços.
Desciam, tentados por estilo de vida que se
prenunciava menos agreste de labutar e mais reprodutivo de proveitos,
pelo caminho paralelo ao veio de água que, se, de todo não se lhe abria
franco e fácil, pelo menos os induzia a procurar o novo com perspectivas
de melhor, promissor na tentação latente, e se apresentava às suas
inquietações e aos seus anseios mais determinativos com a desafiante
persuasão de uma bússola, incitadora e contumaz no apontar de um rumo.
Não importa prospectar em alusões topadas um
quanto a esmo uma linha sem descontinuidades, mas reconhecer um facto. E
esse, senão irrefragavelmente testificado, impõe com elementos bastantes
para levar a crer que, neste pólo de atracção que foi Cacia logo na sua
juventude mais tenra, quando – ainda em étimo latino ou com qualquer
vínculo linguístico anterior – adquiria, praticamente na foz do Vouga
estruturações de um muito provável opidum. (6)
A índole deste artigo não proporciona as
ensanchas bastantes para nele caberem mais que alusões fugazes ao
significado, importância e prestígio que foi adquirindo com a idade e
madurez – por muito relativas às proporções diminutas que sempre
apresentou e às demais restritas condições de aglomeração humana, de
insuspeitadas potencialidades futuras, e, assim, pouco além de uma
insipiência, com poucos incentivos de expansão.
Um documento de que se não extraiu o partido
que justifica, demonstra, porém, que, já em princípios da segunda metade
do século XIV, Cacia – que anda mencionada entre os bens doados ao
Mosteiro de Lorvão, pelo Conde D. Henrique e D. Teresa, ao encetar-se o
último quartel da décima primeira centúria do nosso calendário –
adquirira valia e projecção como ponto de referência e, digamos, de
apelidação, como que topopatronímica, de que quanto com a povoação, um
tanto umbilicalmente na circunstância, mostrava afinidades próximas.
D. Pedro I, na verdade, num documento que
fez emitir em 15 de Abril de 1363, para o vintaneiro-mor dos homens do
mar, Jorge Martins(7), e com validade para quantos lhe viessem a
suceder, e, bem assim, como lógico era, para conhecimento e cumprimento
de «todollos outros alcaides e justicas dos homens do mar», exprime, com
a importância de um diploma régio, uma designação, inusitada hoje, mas
que reflecte com evidência, que supomos bem probatória, essa relativa
relevância, à volta de dois séculos após a independência portuguesa. Na
carta régia daquela data, efectivamente se escreve, textualmente e na
exacta ortografia, que avia hum rio que chamam Cacia.
A povoação, já, na época, sem quaisquer
foros ou vislumbres castrenses, então injustificados, mas, de certo,
proporcionalmente próspera em relação às do derredor do seu estalão
sócio-administrativo, dava, assim, naquele troço terminal do velho curso
de água doce e límpida, acaso bucólico, já entre margens viridentes, o
nome ao rio. Sobrepunha-se à denominação antiga, quebrando-lhe a força
identificadora. E mais: repetia-lho o diploma, provindo do soberano,
porque antecedentemente lho atribuíram, e com toda a verosimilhança o
adoptariam no uso quotidiano, o concelho e os homens boons desgueira – e
de Esgueira, o que importa referir, já que tanto os agros como as areias
ainda estéreis do perímetro caciense, se incluíam no concelho desta
extinta vila, o qual subsistiria até finais de 1836.
Contudo, já nessa segunda metade do século
de trezentos, os admitidos contactos imediatos de Cacia com o mar e o
verosímil tráfego marítimo que, quer
/ 24 / o mencionado portulano de Petrus Visconte, quer as reconstituições, de maior ou menor fidelidade
científica, do litoral destes paralelos em que Aveiro se tornou
hegemónica, contém, ao menos como sugestão bastante convincente, teriam
cessado. Sobreviera a formação, entretanto, «na frente da boca do Vouga
(de) emergências, ilhotas, alicerces de um delta» (8) que preludiava, se
não evidenciava já, em preliminar constituição, esse singular aparelho
hidráulico, paralelo à costa, e subsidiário e sufragâneo do mar a que
chamamos, ufanamente, sem preocupações de exactidão de científica
nomenclatura, mas com um poder expressivo de que não abdicamos – a Ria
de Aveiro.
Cacia não se abria ao mar de então e perdera
qualquer significado portuário de feição oceânica nesse período da nossa
história. Como, todavia, testifica essa mesma carta, em que, com
equanimidade o cognominado Rei Justiceiro, serena e avisadamente decide
um problema que preocupava as populações daquela zona terminal da bacia
do Vouga e simultaneamente os viajeiros – nem, claro, arremedos de
turistas – entre o aro aveirense e as áreas do norte do rio. Não possuía
já função marítima ou desse
âmbito, mas sim um papel saliente na comunicação entre as duas margens.
Antes de uma pestenença, tão viva na memória
que servia de marco de referência – ante da outra pestillencia avia ahi
barqueiros que mantinham /.../ a barca desamparada – funcionava
regularmente uma barca de passagem. E esta desaparecera, por não se
encontrar barqueiro nenhum que em ella quisesse andar porque os
constrangiam pera hir com galees.
O soberano determina, assim, que esse útil
serviço público se restabelecesse, e, para tal, «fazer graça e mercee
/.../ que um homem que conthinuadamente na dicta barca e passe as
campanhas que hi passarem que seja scusado de hir em frota nem em armada
nenhuma que eu mande fazer. E mando uos que o não constrangades que uaa
em gallees nem em frota em quanto el servir a dicta barca como deve».
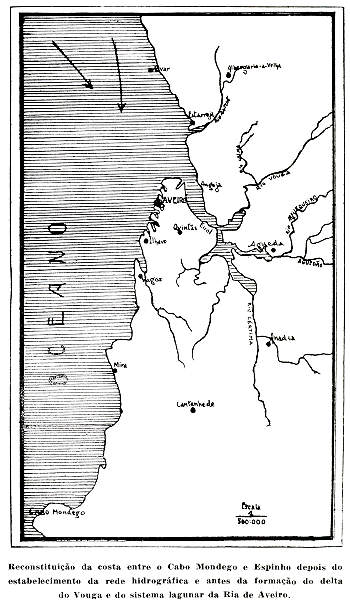 Serviço público, pois, que primava aos
demais, como mais tarde, por exemplo, e ainda há meia dúzia de anos
atrás sucedia, com a dispensa de serviço militar aos pescadores. Serviço público, pois, que primava aos
demais, como mais tarde, por exemplo, e ainda há meia dúzia de anos
atrás sucedia, com a dispensa de serviço militar aos pescadores.
Esta barca de passagem deve ter prosseguido,
com ou sem aquela prerrogativa do concessionário e já quando Cacia se
deixara ultrapassar por uma povoação mais desenvolvida e prestigiada,
até que, em 1850, o governador civil Nicolau Anastácio de Bettencourt,
que deixou memória por iniciativas e serviços diversos, lançou a
primeira ponte que atravessou, neste trecho, o rio Vouga – já não,
portanto, rio Cacia – e à qual foi entrando em uso o nome (que ainda
hoje se adopta para a moderna ponte, inaugurada a 10 de Julho de 1943,
de ponte de Angeja.
Se não o alongasse desnecessariamente em
relação aos propósitos que visa, poderia, neste relancear sobre alguns
aspectos epidérmicos de Cacia, intentar-se o traçado de uma curva da
evolução demográfica, com os escassos dados que para essa finalidade nos
aparecem sobre Cacia. Por eles se poderia aferir quanto, como pólo de
atracção se desenvolveu e, porventura, por centúrias seguidas terá
permanecido sem oscilações consideráveis, topográfica e
populacionalmente.
Povoação voltada à agricultura, como na
generalidade das zonas rurais rotineira, agarrada a tradições e ao
conservantismo repetitivo, sem imaginação nem audácia, permanecia na
forma de mera subsistência do trabalhador da terra, por conta própria ou
de outrem. Aceitando, extremamente sóbrio, a condição ancestral, quase
vocacionalmente modesta,
/ 25
/ no ritmo de cadência lenta,
nas propícias características do solo – que, entretanto, viria a
conhecer, e em proporções consideráveis, a cultura do milho, subsequente
aos descobrimentos, e, já nos anos de novecentos, vencidos alguns
preconceitos, a da batata, ambas com tão importante papel na alimentação
da gente portuguesa – voltar-se-ia, encontrando um poderoso suplemento
nas suas fontes de receita, para a criação de gado. E nela persistiria,
apesar mesmo de por vezes lhe diminuírem os réditos, laboriosamente
alcançados, quer males patogénicos ou, como consequentemente às invasões
napoleónicas, os próprios exércitos nacional e britânico lhe dizimarem o
gado, até à derradeira cabeça, por exigência do próprio consumo. E,
então, só com a garantia formal da edilidade aveirense, de que lhe não
seria mais requisitado, reiniciariam a produção.
As fainas agrícolas, sempre minimamente
rendíveis, acabaram por se tornar insuficientes para a manutenção em
nível aceitável de toda a crescente população nativa. O caciense, numa
parcela que chegou a proporções elevadas, acabaria por se sentir
impelido a procurar fora da sua terra os meios de actividade e de
ganha-pão bastante. E, para garantir o próprio, e acaso alguma
prosperidade pessoal e familiar – à semelhança com outras localidades,
com profissões que se enraízam e transmitem através de gerações –
emigrou, para os pontos mais variados, de lés a lés do país, a produzir
o pão para o sustento alheio. Disseminou, assim, «Padarias Aveirenses» –
e, naturalmente com muitas outras denominações – pelos locais mais
imprevistos e, assim, determinando nos pontos mais insuspeitados as
evocações deste trecho do país, cheio de peculiaridades, que, aliás, se
vão desvanecendo, nas cada vez mais pronunciadas tendências de
uniformização e, pois, destipificadoras.
De núcleo de atracção demudaria, por
conseguinte, notoriamente, para um centro de irradiação de
panificadores, com particular incidência, dada a sua poderosa atracção
urbanística, em Lisboa e no alfoz da grande metrópole nacional. Alargou
as vistas, os passos, e as lídimas ambições de uma existência mais
folgada, até para além da raia de terra ou do vizinho mar com que
perdera o contacto imediato.
Cacia – e quem diz Cacia logo lembrará
Aveiro, de que os cacienses são arautos fiéis e constantes – passou
dessa forma a possuir acreditados embaixadores por variadíssimas
paragens. E sempre ligados por firmes, indestrutíveis elos sentimentais,
reavivados nos contactos mais estimulantes com o berço natal, as
participações em iniciativas locais, a presença, sempre que possível,
nas festas anuais costumeiras, e sempre de algum modo com a «pátria
pequena» na lembrança enternecida.
Poderia, entre outros, trazer à colação um
testemunho pessoal dessa fidelidade, que suponho bem comprovativo, com
um inesperado encontro, há um bom quarto de século, com um caciense, em
Vigo, junto ao monumento a Camões. Emocionado, radiante nas lágrimas que
lhe saltavam dos olhos cintilantes de alegria, e com o nó de comoção que
lhe embargava a voz numa elocução entre gaguejada e empolgado de
contentamento irreprimível, ouvia extasiado o magnífico Orfeão das
Fábricas Aleluia, como se lhe soassem aos ouvidos o rumorejar virgiliano
das águas do Vouga, ou a eufonia inolvidável dos sinos da matriz de S.
Julião.
E, cobrada a fluência da fala, declarava,
com a franqueza afectuosa de patrício, com denominadores comuns de
apego, que há mais de um quartel, por vicissitudes irremovíveis, não
voltara à terra de nascimento, a que, no entanto, se mantinha
devotadíssimo e da qual, por todas as vias possíveis, procurava saber –
e sabia – o que nela, sempre presente na saudade, ia ocorrendo, de
auspicioso ou de infausto.
Este interlocutor ocasional, de sumo agrado,
surgia-me como um enclave humano luso em terras galegas. Ele,
considerou-me sem hesitação, fraternamente, como se nos houvesse
irmanado uma água de dons similares nas pias baptismais, e essa
conterraneidade sempre nos houvesse ligado.
Quer como consequência dessa corrente
migratória centrípeta e seus reflexos, quer como fenómeno de âmbito
geral, Cacia, desde os princípios do século, etnograficamente e em
múltiplos pormenores de vida sofreu modificações mais ou menos
acentuadas. Na indumentária popular, em usanças diversas, nos cantares
que passavam de outiva de pais a filhos, na parca alimentação, que os
ágapes festivos tornavam lauta, as transformações acentuaram-se.
Rocha Madahil, que dá pormenores de muito
interesse sobre o que foi, além de muitos outros, o traje da gente de
Cacia, – barretes; coletes, apertados com botões de prata; lenços de
cores diversas; faixas vermelhas; tecidos habituais; chapéus, com fita
de veludo preto, e, à volta da copa fita do mesmo veludo; chinelas de
verniz ou de pano preto, com biqueira de verniz – escreveu algures (10),
há mais de trinta anos:
«Para se observar a grande evolução que se
operou no traje popular em cinquenta anos pedimos o confronto /... / com
a foto de três raparigas (11) de Cacia da actualidade: desapareceu o
colete, como por toda a parte; o lenço é outro; o chapéu é outro».
E acrescenta: «A blusa, incaracterística, copiada de figurinos
internacionais, banalizou por completo o aspecto da mulher do povo;
salva-se o chapéu, mas o seu preço (40$00 e mais) elevadíssimo, e a
campanha contra o transporte de carregos à cabeça, acabarão por o banir
também dentro de poucos anos».
/ 26
/
A previsão (aliás fácil, dadas as tendências
verificadas) confirmou-se. O chapéu desapareceu, como, de certo modo, se
não nas mulheres propriamente do campo, com frequência notória, nas de
outras actividades, as próprias saias, mesmo as de modelos generalizados
pelos figurinos.
Cacia transformou-se, com maior rapidez,
naqueles cinquenta anos, mas muito mais velozmente neste último quartel.
E para essa mudança, em múltiplos aspectos, contribuiu, sobretudo, a
implantação de uma grande indústria – para cuja comemoração das «bodas
de prata» estas modestas linhas pretendem ser um modestíssimo
contributo.
A Companhia Portuguesa de Celulose, em Cacia
– não tendo, porventura, acautelado até ao desejável os problemas
ecológicos e consequentes prejuízos nas margens com os efluentes
poluidores – não terá sido, como dizia Luís Gomes de Carvalho, a
propósito da abertura da «barra nova» em Abril de 1808, «uma nova hora
da criação», mas constitui um marco de referência, abre uma era nova,
social, economicamente, e no género de vida, na população de Cacia.
Terá um reverso e dará algum motivo de
queixa de alguns, mas pelo vulto, pelas condições de trabalho em que se
derramou, pelo nível de vida de uma grande parte da população,
nitidamente melhorado, pelas repercussões de que a povoação foi a
primeira a experimentar benefícios, representa a mola maior, de mais
valia e maior influência na modificação, na actualização de hábitos e
estilos, na prosperidade de Cacia.
 E, acentue-se, veio restituir, com o que, na
linguagem em voga, se chama a criação de postos de trabalho, desejados e
aliciadores, a função atractiva, dos seus antigos tempos, a uma Cacia
com factores de renovação e expansão. E, acentue-se, veio restituir, com o que, na
linguagem em voga, se chama a criação de postos de trabalho, desejados e
aliciadores, a função atractiva, dos seus antigos tempos, a uma Cacia
com factores de renovação e expansão.
Transformou-a, com a mais clara evidência,
neste quarto de século que agora celebra. Enegreceu-lhe, de certo, as
águas cristalinas do rio – esse Vouga que D. João de Lima Vidal tomava,
pelos encantos cativantes, como paradigma de todos os demais rios mais
belos. Será o senão, essa pecha que ainda não debelou.
Mas, Cacia tem dois grandes períodos na sua
história: antes e depois da Celulose. Já hoje, até paisagisticamente,
porque a fábrica sobrepuja todos os demais elementos, é outra. As
altaneiras chaminés alçapremam-se muito acima da torre da igreja
paroquial de S. Julião, e são as primeiras mensageiras da terra, de
remotas raízes pré-romanas, mas reaviventada com novas seivas –
resultantes da madeira, onde elas deixaram de correr, para fornecer os
caudais de papel de que as exigências modernas são sorvedouros
insaciáveis.
EDUARDO CERQUEIRA
____________________
* Jornalista e investigador
NOTAS
(1) – Inserto in Homenagem a Martins
Sarmento, Guimarães, 1933, a pg. 391
(2) – Especialmente bajunça, canizia e junco.
(3) – Rocha e Cunha, «Relance da História Económica de Aveiro», 1930,
pg. 5.
(4) – Rocha e Cunha, mesma obra, pg. 9
(5) – Aveiro, 1958, pg. 86.
(6) – Alberto Souto, «A Estação Arqueológica de Cacia», Aveiro,
1930. 20 pgs.
(7) – Colectânea de Documentos Históricos – Aveiro, 1959.
(8) – Alberto Souto – «Origens da Ria de Aveiro», 1923, pg. 197.
(9) – Vd José Pais de Almeida Graça, «Pontes existentes nas estradas
nacionais do Distrito de Aveiro», in Arquivo do Distrito de Aveiro,
1957, vol. XXIII, pg. 94.
(10) – António Gomes da Rocha Madahil – «Alguns Aspectos do Traje
Popular da Beira Litoral», 1939, pg. 107.
(11) – Vai reproduzida.
|
