|
– Falta-lhe escola, mas é um
grande fisionomista – escamoteou de pronto Abel Salazar ante
alguns bustos, modelados por João Calisto, figurando gente
conhecida. – Possui muitas qualidades – avisava por sua vez
Teixeira Lopes ao examinar a figura, em gesso, de Jaime de
Magalhães Lima. E nem só avisou como deu mostras de assombro ao
observarem-lhe que fora conseguida mercê de retocadas
fotografias – com óbvias precaridades no tocante a planos –, já
que o escritor só pudera pousar escassas dezenas de minutos para
o moço artista. |
 |
|
João Calisto |
Irmão de uma canastrada de irmãos e
filho de humílimo casal – o pai agenciava o pão como pescador,
marnoto ou calafate –, João Calisto cedo manifestou tendência para a
escultura. Pequenito, com seis ou sete anos traquinas, já modelava,
não sem a admiração dos companheiros de folguedos, as figurinhas de
barro que, numa rua do bairro piscatório, ilustrariam ingénua
cascata do Santo Precursor. E tal inclinação prosseguiria, pelos
tempos adiante, a modos das conhecidas maçãs que perfumam, como
perfumavam outrora, o bragal das camponesas.
Contaria uma insignificante gabela
de primaveras, doze, talvez, quando Fernão Pires, pseudónimo do
malogrado jornalista aveirense Francisco do Nascimento Correia, dele
nos dá fé em desataviada crónica: «Um dia, no atelier de Romão
Júnior, este chamou a minha atenção para um grupo miniatural, em
barro, feito pelo seu ajudante. Era um barco de pesca do mar com
acompanha dentro, agarrada aos remos». E, in continenti, vá
de acrescentar: «João Calisto, um miúdo ainda, olhou-nos de soslaio,
sorriu satisfeito, e o mestre pressagiou logo: «Mostra habilidade».
Insubmisso, irrequieto, mais
propenso ao sonho do que ao alfabeto, fez tão somente exame da
terceira classe. Mesmo assim – confessar-nos-ia mais tarde –,
calcorreou seca e Meca, várias escolas da cidade. E se não chegou a
frequentá-las todas é porque urgia ir à vida, ajudar os pais no
sustento de muitas bocas. Tanto assim que, desde os nove anos
cumpridos até aos dezassete por fazer, ei-lo a amochar, na condição
de moço, pesadas canastras de sal em diversas marinhas –
primeiramente na que era amanhada pelo pai, depois na do ti Cravo,
na do Zé da Cruz, na do João Triliri, na do José Besouro, na do
Vicente Portugal.
|
 |
– Foram sete anos, os sete anos
da minha morte – costumava dizer mais tarde, não sem
acrescentar, arfando, coração arrasado: – Que físico tinha eu
para
/ 54 / carregar de cada
vez, à torreira do sol, sob céus em brasa, sessenta quilos de
sal?
Com a saúde arruinada, incapaz
de todo para a faina dura que o fabrico do sal exige, toca de se
alistar como servente de trolha. Sempre se lhe aparentariam mais
leves os cochos da argamassa... Também não aguentou. Daí o
volver à profissão inicial, regressar à modesta Foto Vouga, com
o beneplácito compreensivo do seu já amigo e discreto admirador
Romão Júnior, escultor de raiz virado fotógrafo na exclusiva
freima de obter a côdea amarga, certo e sabido que as
«malas-artes» não davam para o tacho quotidiano. |
|
Busto de Abel Salazar. |
Nascido a 11 de Setembro de 1905,
numa pequena casa da Rua de S. Roque, em pleno e típico bairro da
Beira-Mar, João dos Santos Calisto, filho de pai do mesmo nome e de
Maria da Guia, faleceu em 30 de Novembro de 1946 num quase casebre
da Rua da Fonte Nova, hoje Avenida 5 de Outubro. Implicitamente com
41 anos, consumidos, salvo os da infância breve, na indeclinável
obrigação de prover ao sustento da numerosa prole, minado por doença
dolorosa e pertinaz.
De sol a sol às voltas com retratos
e retratinhos deste e daquele, no novo estabelecimento fotográfico
para onde, a certa altura, se transplantou – ao tempo, era ainda uma
semi-ousadia exigirem-se as oito horas de trabalho –, fatigado,
dorido, exausto, mas denotando férvido amor à escultura, e, aqui, a
palavra «amor» nada de nada se imbuirá de ingenuidade, João Calisto,
laborioso qual diligente operário, ainda conseguiu deixar para cima
de meia centena de modelos, alguns deles expostos no Museu Nacional
de Aveiro e noutras instituições públicas. Obras escultóricas que,
promovendo atenções e até admirações, não têm paradoxalmente o
condão de trazer à tona, como seria natural, o nome do seu autor.
Àquela tona onde sobrenadam tantas mediocridades dignas do
justiceiro esquecimento, pois que, afinal, só mamarrachos operaram.
– Sou um calisto, como o meu próprio
nome diz – tinha por hábito desabafar com os mais íntimos, ao sopro
de qualquer injustiça, das muitas de que era alvo. E era de facto um
calisto, um má-sorte – como continua a ser a sua memória, já que do
nome de artista mal se descortina rastro, apesar de várias das obras
deixadas provocarem, repita-se intencionalmente, vivo e inequívoco
interesse.
A princípio numa espécie de curro,
num cubículo de cinco metros quadrados com janela ao fundo, por onde
uma luz hesitante se infiltrava, e depois num barraco que não
ultrapassaria o dobro daquele mesquinho espaço, João Calisto foi
modelando, na inquietação obsessiva de corporizar o seu universo de
sonhos, a avantajada meia centena de trabalhos. Poderá talvez
redarguir-se, pese quanto ficou dito, que o espólio não é assaz
abundante para uma abada de vinte anos de labor. A considerarem-se,
porém, a saúde do artista, permanentemente algemado a incompadecido
sofrimento físico, a instante necessidade de acudir à subsistência
do lar, e, ainda às condições miserandas em que manuseava a matéria
plástica, tal congeminação ruirá pelos alicerces. Independentemente
do sombrio quadro descrito, restará pormenorizar que Calisto
modelava ao domingo ou pela noite dentre, sem o mínimo resquício de
conforto e, no último caso, à luz dúbia de fumarento candeeiro de
petróleo. Candeeiro que, nos desabridos invernos, a cada passo se
apagava, porque o barraco ostentava, sim, um janelão, mas
eternamente à espera de vidros, baratos sem dúvida, mas no entanto
inacessíveis a magra bolsa. Tão escorrida que o dono só pôde ver na
vida, o que não deixa de ser espantoso, dois únicos museus – o da
urbe natal e, de relance, o de «Soares dos Reis».
Diversos dos seus trabalhos
perderam-se inexoravelmente e outros foram mesmo destruídos por
ignaras mãos.
– Para que serve este mono, não nos
dirão?! – e zás, entulheira com ele.
/ 55 /
Entrementes, vimos ou temos
conhecimento dos seguintes: bustos de Álvaro Lé, Wagner (cópia),
Silva Rocha, Alberto Souto, Maria da Guia, Santos Calisto, Virgínia
Calisto, Luís Maltês, António da Benta, José de Pinho, Jaime de
Magalhães Lima, João Aleluia, Joãozinho, Pereira da Cruz, Homem
Cristo, Schubert (cópia), Leninha (ao dois e aos dez anos),
professor Moreira, S. Pedro, ti Zé-nhã, João Evangelista de
Lima Vidal, Camilo, Eça, Abel Salazar, esposa de António Nunes
Rangel e «Agonia»; cabeças de Cristo e da Virgem, (duas imagens de
S. João Baptista e uma de S. Domingos (cópia de escultura existente
no Museu de Aveiro), medalhão com uma cabeça de Cristo,
portrait-charge de Abel Salazar, «Miséria» (grupo de quatro
figurinhas) e alguns tipos de feição regional, medeando entre
dezoito e vinte centímetros de altura, como «Pescador», «Tricana
Antiga» e «Tricana Moderna». Dos bustos de Homem Cristo e Abel
Salazar existiam duas versões. Escrevemos de tal jeito porque uma,
respeitante ao grande vulto das artes, das letras e das ciências,
foi destruído por João Calisto, que, logo após a modelação, a julgou
artisticamente inferior. Resta, felizmente, uma fotografia do
trabalho, aliás vulgarizada na Imprensa, que avaliza o nosso
asserto.
|
A terracota seduzia o artista. A
maioria dos trabalhos é consequentemente em barro cosido, por
vezes patinado. Alguns, acham-se vazados em bronze – o busto
maior de Homem Cristo, inaugurado solenemente na antiga
Associação Comercial, o busto de António da Benta, oferecido
pelo Rotary Clube, mediante cópia do original, propriedade do
Sport Clube Beira-Mar, ao Museu de Aveiro, o medalhão de Cristo,
aposto num túmulo do Cemitério Central, e o «portrait-charge» de
Abel Salazar, que o livreiro portuense António Lello destinava
ao mesmo museu aveirense.
Destinava... Porque a oferta
não pôde ser aceite pelo director de então, face à
periculosidade que, nesses áureos tempos da cultura,
representava uma simples efígie do falecido vulto da Ciência e
plurifacetado artista... |
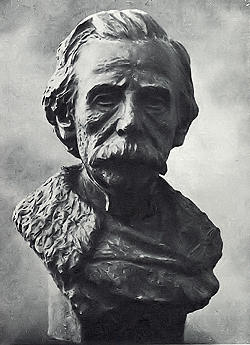 |
|
Busto de Camilo Castelo Branco |
Finalmente, encontra-se fundido em
gesso o busto de Jaime de Magalhães Lima e é talhado em pedra de
Ançã o que tem por título «Agonia». Lembrava amiúde João Calisto que
este seu derradeiro trabalho o prefiguraria ao morrer. Como, de
facto, expiraria – sedento de ar, boca hiante, faces chupadas, olhos
desmesuradamente abertos.
Três bustos no Museu – do
Arcebispo-bispo de Aveiro, do lobo-do-mar António da Benta e do
segundo director do mesmo estabelecimento cultural –, outro, o de
Jaime de Magalhães Lima, num dado sector do Município, além do
referido «portrait-charge», que também era de figurar no Museu e não
figura, deviam, só por si, constituir cabedal bastante para, no
conspecto das artes plásticas, imporem instantaneamente qualquer
nome, aureolando-o de respeitos. Arrancando-o, numa palavra, ao
anonimato convencionado e atroz, tão atroz que ainda hoje,
grudativamente, o envolve. Mas como rememorar o artista se as portas
museológicas apenas se abririam mais tarde e de maneira discreta, no
post mortem? Mas como querer ouvir falar dos méritos de
Calisto, se Calisto era extremamente pobre, extremamente modesto e,
apesar de tudo, extremamente vertical, talvez orgulhoso, até, para
mendigar a esmola de uma singela notícia?! Abel Salazar, que soube
reconhecer o artista no homem modesto, rodeá-lo-ia de especiais
cuidados no surto final da existência, franqueando-lhe a própria
casa em S. Mamede de Infesta, e «forçando» inclusivamente as portas
do Hospital de Santo António, no Porto, para um inadiável
internamento. Calisto foi vítima de uma época. Era de mau tom, se
não mesmo comprometedor, encarecer-se um deserdado, um infeliz, um
humilde entre os humildes. Ainda se a honradez contasse o que era
mister contar em certa sociedade... Mas como, se essa sociedade,
mercantil e egoísta, destruía, qual cavalo de Átila, inumeráveis
vocações, impedindo-as de florescer? Daí João Calisto só haver
contado, no meio das suas inenarráveis atribulações, com a afeição
de gente tão desprotegida como ele, sem meios, implicitamente,
/ 56 / de atirar uma bóia
redentora a qualquer náufrago.

«Miséria» – grupo escultórico
Manhã de Novembro, com o sol lá em
cima a tremer de frio. Pancadas secas, repetidas, alertantes, no
batente da porta.
– Que é? – Acudimos a saber. Em
palavras gritadas, ansiosas, uma familiar do artista esclareceu de
pronto:
– O João está a morrer, tem muita
falta de ar. Empreste a bomba da bicicleta, depressa.
Compreendemos. Era a ingenuidade,
como que transmudada em farsa, a intrometer-se na tragédia.
Condoído, desesperado pela notícia, deixámos pender a cabeça e duas
lágrimas quentes, de sangue, embaciaram-nos os olhos. Aí estava o
desfecho há muito esperado, mas sempre rejeitado, do pungentíssimo
drama.
Dias volvidos, que não era caso para
demasiadas pressas, os jornais, numa dúzia de linhas, noticiavam o
falecimento de João Calisto. «Fotógrafo de profissão – esclareciam –
mas um verdadeiro temperamento de artista, que uma vida de
angustiantes privações e as contingências de uma doença pertinaz não
deixaram afirmar-se na plenitude dos seus méritos. /.../ Morreu tão
extremamente pobre como nasceu e sem poder realizar os anseios de
criação artística /.../ Pobremente, apagadamente, foi hoje a
enterrar, quase como um anónimo. E se a sorte não houvesse sido tão
adversa, poderia ter deixado um nome de relevo entre os filhos
ilustres de Aveiro».
Na primeira página de «República»,
em crónica intitulada «Morreu aquele artista...», Maia Alcoforado
ainda escabujou, numa revolta: «/.../ Não, os senhores não o
conheciam. Nem os senhores, nem os Artistas, nem os Poetas. /.../ E,
todavia, ele foi um artista invulgar na sua raça de Artista... Se
até os patrícios – os de ali de Aveiro – mal o conheciam. E se o
conheciam... «– ah! Sim... o João dos Santos Calisto... Temos ouvido
falar e parece que tem jeito... Fez em barro a cabeça do Homem
Cristo e a do Camilo... A do Bispo dizem que tem elevação e a do
Jaime Lima... Sim... Sim... Era uma esmola se ele morresse...» – e
não passavam disto, destas palavras titubeadas, destas reticências
duvidosas...
«Os poucos admiradores e amigos do
infortunado – ah! esses... – não se limitavam a adorá-lo, a repartir
com ele um naco de conforto, uma migalha de alegria.
«Não, não se limitavam.
«Chegaram a ir mais longe...
«A ir... sabe-se lá até que pólo do
sacrifício...
«/.../ Não, os senhores não
conheciam aquela vítima do atribiliarismo ofegante de uma sociedade
maldosa, egoísta e reles, filha de uma Pátria, como dizia o Dr.
Ricardo Jorge, única nas ingratidões, onde nem só aos vivos se furta
a glória, mas que até aos mortos se ratinha.
«Pois o Calisto, que não chegou a
ver meia dúzia de vezes nos jornais o seu nome estampado em
caracteres obesos enquadrado em adjectivos barulhentos e álacres,
morreu um dia destes sem fama, sem glória; carregadinho de um mal
que fazia aflição vê-lo e ouvi-lo.
«E lá foi a enterrar /.../ num dia
igual àqueles em que foram para a sepultura o Metzner, o lapidador
dos Diamantes Negros, o Zé Duro, o António Nobre, o Cesário
Verde /.../ É sempre em dias assim...

Trabalho duro o dos marnotos, profissão
que João Calisto também exerceu e tanto contribuiu para a ruína
prematura do artista.
«Raios partam o Destino, a Vida,
este maldito deambular pelo mundo – entre a dentuça arreganhada do
despeito e a gargalhada alvar do trafulha.
«O João Calisto, que na sua casinha
de Aveiro – dois cubículos encastoadas numa das paredes arruinadas e
tristes entre o largo profano da Fonte Nova
/ 57 / e o Côjo – deixou um
espólio artístico que vale a infinidade da sua Arte.
«Da sua Arte... de que muitos
desdenharam, mas de que se aproveitaram sempre, quando queriam
aparecer algures, como pioneiros de ideias generosas, desassombradas
e justas.
«Perdão...
«A generosidade, a coragem moral e a
defesa da justiça são atributos dos que escancaram a alma e
descerram a inteligência sem espreitar ao buraco da fechadura das
conveniências.
«É da ingenuidade dos românticos
que, em resumo, se vale sempre, ou quase sempre, a manha dos
espertalhões... de que Deus há-de dar cabo – por Bem!...»
*
* *
Depois foi o silêncio. Todos os
homens chamados bons estavam quites com a própria consciência. Os
pontífices da cultura oficial também. E a vida, como se nada de nada
tivesse acontecido, prosseguiu... |