|
Em terrenos minados
Relativamente perto vejo vir na estrada um jipe a
grande velocidade, levantando nuvens de poeira. Fiquei na expectativa. O
jipe entra de rompante no acampamento. O Lisboa, que o conduzia, grita
para mim:
– Meu Furriel, fomos atacados na subida do Rio Luvo.
Acudam depressa aos nossos irmãos se não eles morrem lá todos.
E não conseguiu dizer mais nada. Ficou bloqueado, com
a boca a espumar! Tentámos obter contacto via rádio, mas não havia
resposta. Depressa se arranjaram três Unimogues e um jipe com rádio, que
saíram imediatamente do acampamento ao encontro da coluna de
reabastecimento.
– Digam o que se passa!
Foi o pedido dos que ficaram.
Passados uns tempos o rádio informou o que se havia
passado: o jipe que vinha à frente da coluna pisou uma mina anti-carro.
Dois dos ocupantes estavam mortos, um terceiro que com o rebentamento
tinha ido parar longe, recuperou os sentidos e começou a gritar, e o
quarto, o Sargento que vinha ao lado do condutor, ainda não tinham dado
com ele.
Fomos na direcção dos gritos que cada vez se ouviam
menos. O soldado estava a esvair-se em sangue. Na mão direita a arma que
nunca largara, na esquerda um punhado da terra de Angola, dura, gretada.
Estava a entregar a alma a Deus. Ainda lhe ouviram as suas últimas
palavras: “Oh minha mãe…”
Chegados ao jipe acidentado reparámos numa figura que
parecia grotesca. O apontador da “Breda”, que estava montada no jipe,
ainda se mantinha agarrado aos punhos da arma, como se fosse fazer fogo.
Com o jipe inclinado a metralhadora ficou apontada para o céu.
O apontador estava morto. O terceiro militar estava
também morto, perto do veículo. Foram transportados em macas para o
acampamento.
O Sargento ainda não tinha aparecido. Continuaram as
buscas, já ao lusco-fusco, sempre com o ouvido à escuta, chamando por
ele. Ouve-se um respirar apressado. Era ele. Respirava mas deitava
sangue pelos ouvidos e pela boca. Foi rapidamente – tanto quanto se
podia – transportado numa maca para o acampamento era já noite. O médico
ia fazendo o que podia tentando prolongar-lhe a vida.
– Se me mandassem um helicóptero ainda podia
salvar-se! – Desabafa o médico.
Mas àquela hora os helicópteros já não voavam e
estavam longe, em Luanda. Nós estávamos no fim do mundo… Foi quando
tomámos consciência de como estávamos afastados de tudo e de todos …
Numa altura destas compreendemos como é necessário
termos confiança em nós próprios. Uma Companhia, com cerca de cento e
cinquenta homens, não pode contar com mais ninguém. Isto cria entre os
seus componentes um espírito de entreajuda, de sacrifício mútuo. Não
sabemos porquê mas nos momentos difíceis é assim. E esse espírito
prolongou-se até a Companhia ser dissolvida.
Chegada a hora de jantar, já tardia, cada um foi buscar a sua comida.
Sentámo-nos à mesa, calados, tristes. A primeira colherada de comida foi
posta na boca, mas não passava na garganta, entalava-nos.
– Merda, não consigo comer esta porcaria! – Disse um,
tentando justificar o não conseguir comer – Vou levar isto à cozinha.
Serve para amanhã, se não se estragar.
Uns atrás dos outros, em silêncio, foram fazendo o
mesmo.
Segurança reforçada
O nosso pelotão era, como disse, o que estava de serviço de segurança ao
acampamento. Resolvemos que as sentinelas fariam o serviço dobradas –
duas a duas – para que não houvesse “esquecimentos”, não fosse alguma
adormecer. As rondas seriam também feitas por dois Sargentos, não só por
um, como era habitual. Tudo ficou preparado para que não houvesse
surpresas e a malta pudesse dormir descansada. Nesse dia já bastava a
surpresa da mina.
A noite ia passando. Íamos conversando com o pessoal que estava de
vigia, enquanto fazíamos as rondas. Nisto, apercebo-me do vulto de um
soldado, acocorado, fora da caserna. Dirigi-me a ele, pois poderia ter
algum problema.
– O que se passa?
– Porquê a nós meu Furriel? Porque nos havia de
calhar a nós?!
Chorava convulsivamente. Ele era da mesma terra e
muito amigo do Valente, o apontador da metralhadora. Numa altura destas
o melhor era ficar calado. Ainda consegui dizer-lhe:
– Chora à vontade, não tenhas vergonha de chorar.
Estás a chorar por um amigo, que todos nós perdemos.
O relógio parecia não andar. Quando eu e o Miranda
fazíamos a ronda, passámos perto do Comando, junto à cantina e parámos.
Ouvimos a respiração difícil do nosso colega, na enfermaria. Ficámos à
escuta. De repente ouviu-se a voz do médico dando rapidamente uma ordem
ao Sargento Enfermeiro. Depois, nada mais. A respiração acabou, mas o
médico estava a fazer qualquer coisa. Sentimos vontade de entrar na
enfermaria mas só iríamos atrapalhar. Fomos para a nossa caserna,
acendemos uma vela. Eu acendi mais um companheiro de todas as horas, “o
fiel cigarro”, e fiquei a pensar. O Miranda disse que ia descansar um
pouco, para eu o chamar quando fosse fazer a ronda seguinte e deitou-se.
Fiquei a olhar tempos infindos para o fumo do cigarro
que se sumia na escuridão deixada nos locais onde a luz da vela não
chegava. Lembrei-me então das palavras do soldado antes de exalar o
último suspiro “Oh, minha mãe!” como que a pedir ajuda àquela que nunca
nos abandona! Mas ela estava longe!
A mente tentava andar por longe, fugir a tudo aquilo, ir à mocidade.
Veio-me à memória um poema chamado “Alguém” que lera no livro de
Português da Escola Comercial. Não me lembro quem era o autor mas há
duas quadras que nunca esqueci:
Para alguém sou o lírio entre os abrolhos
E tenho as formas ideais de Cristo
Para alguém sou a vida e a luz dos olhos
E, se na Terra existe é porque existo.
Chovam bênçãos de Deus sobre a que chora
Por mim além dos mares! Esse alguém
É dos meus olhos a esplendente aurora;
És tu, doce velhinha, ó minha mãe!
Ouço passos. Aguardo e vejo o médico entrar na nossa
caserna, com a camisola de lã da tropa vestida, cabeça baixa. “Estará
frio? – pensei – não tinha dado por isso”
– O David morreu – disse-me. Não conseguimos
salvá-lo. Ainda fizemos uma traqueotomia. De nada valeu...
Falou baixo. Só eu estava sentado à mesa junto da
vela. O médico desapareceu na noite em direcção à enfermaria. Não se
ouviu uma palavra. Senti o Miranda levantar-se e sentou-se à mesa, junto
da vela. Depois começámos a ouvir o pessoal a mexer-se. Acende-se um
cigarro aqui, outro ali, até que todos estavam sentados nas suas camas.
Afinal ninguém dormia, pensei! Não ouvi uma palavra sequer, até que o
Miranda me disse:
– Vamos fazer mais uma ronda!
E lá fomos. As sentinelas estavam alerta.
Dissemos-lhe o que se tinha passado com o nosso camarada.
– Nós já sabemos. O maqueiro que estava de serviço na
enfermaria veio dizer-nos. Já somos menos quatro...
A noite ia passando e ao raiar da aurora já toda a
companhia estava de pé, o que não era habitual. Embora o café estivesse
pronto, poucos se chegaram à cozinha. Eu estava mesmo com fome. Peguei
numa caneca de café, sem açúcar, e num naco de pão. O café passou pela
garganta. O pão… não consegui engoli-lo. Tínhamos saído de serviço e
todos nos sentíamos muito cansados. A noite tinha sido por todos os
motivos arrasadora! Agora iríamos descansar, se o conseguíssemos.
Terríveis momentos
Pouco depois chega à nossa caserna o Alferes Miranda, Comandante do
nosso pelotão. Chamou-nos, aos três Sargentos do pelotão:
– Fomos destacados para levar os mortos a São
Salvador e dar-lhe uma sepultura condigna.
– Meu Alferes – disse eu – acabámos de sair de
serviço e estamos muito cansados. E porquê nós se há um pelotão que
esteve de descanso ontem? É a ele que pertence esse serviço.
O Sargento Miranda calou-se. O Costa Pereira, como
sempre, refilou e disse:
– Eu não vou!
Chamei a atenção ao CP de que não poderíamos dizer
essas coisas em frente dos soldados, sob pena de eles deixarem também de
nos obedecer, num caso difícil como este. Conferenciámos e resolvemos
fazer como o Alferes tinha dito.
Sabíamos que o Alferes, como operacional, era cinco
estrelas. Mas guardava respeito demais aos galões do Capitão, sem
ripostar. E o nosso pelotão é que as pagava. Era a segunda vez que isto
acontecia! (A primeira foi quando recebeu ordem para ir desmantelar a
casa de um branco e trazer as loiças sanitárias para o serviço dos
Senhores Oficiais).
Pedimos ao Sargento mecânico Lino para nos arranjar
uns ferros afiados na ponta, para nós, à frente das viaturas, irmos
picando a estrada, tentando detectar alguma mina. Assim se fez. O medo
era muito. Poderiam as viaturas não ter pisado alguma mina, ou poderá o
inimigo, ao ver o bom resultado obtido com a experiência, ter
armadilhado a estrada com mais minas. Enfim, seja o que Deus quiser!
Era a primeira vez que se tinha dado um acidente
daqueles!
Prepararam-se três Unimogues para a tropa e uma GMC,
que levaria as quatro macas com os cadáveres. A coluna saiu do
acampamento cerca das dez horas. Ainda ouvi o Primeiro-Sargento gritar:
– Não se esqueçam de trazer as macas e os
cobertores...!
Pareceu-me um ser desprezível. Só consegui
berrar-lhe:
– Cala a boca, Fidalgo!
Avançámos em marcha lenta. Enquanto a estrada era
barrenta, sabíamos que se uma mina tivesse sido enterrada se notaria a
terra mexida. Mas era preciso ter sempre muito cuidado. A qualquer
dúvida descia um homem da viatura e com o ferro picava o terreno. Nada.
Quando chegámos à descida para o rio onde a mina
tinha rebentado, desceram seis homens. Houve ordem para cada viatura
seguir o rasto da que lhe ia à frente. O terreno era grainha de cobre.
Se sentíssemos algo mais duro, tínhamos que cavar para ver o que era. Os
seis homens iam picando a estrada, três em cada rodado. As viaturas
prosseguiam atrás em marcha lenta. Como era um trabalho muito penoso,
substituíam-se os homens de vez em quando. Estava sempre na nossa mente
o caso de ser uma mina e rebentar quando fosse picada!
Levámos cerca de 3 horas a chegar ao rio, coisa que
normalmente se fazia em menos de uma hora!
Atravessámos a ponte e estávamos agora na área da
companhia do Batalhão do “Spínola”. A subida do outro lado do rio era do
mesmo género, pelo que tivemos voltar a aplicar o sistema: o “picanço”,
como passámos a chamar-lhe. Sempre lentamente, até que chegámos ao
acampamento da Companhia nossa vizinha. Parámos para colher informações.
Eles tinham ido nessa manhã a São Salvador e dali para diante não tinha
havido problemas. Ficámos mais aliviados. Dentro de uma hora, ao
anoitecer, estaríamos em São Salvador. Eles já sabiam o que se tinha
passado com a nossa Companhia.
Alguns homens, por pura curiosidade (ou masoquismo,
não sei!) subiam à GMC e destapavam os corpos para ficarem a olhá-los,
apalermados! Depois voltavam a tapá-los e desciam da viatura.
Seguimos viagem, agora um pouco mais descansada e ao anoitecer estávamos
em São Salvador. O Alferes iria tratar na sede do Sector, dos termos
legais para os funerais. O pelotão regressaria no dia seguinte, depois
dos funerais. Os corpos foram levados para a casa mortuária e nós
ficámos por ali, respondendo às perguntas que nos eram feitas pelos
nossos companheiros, aquartelados em São Salvador: “ Como tinha sido?”
Era a primeira vez que apareciam minas anti-carro na zona. A curiosidade
era muita, e o interesse ainda mais:
– Hoje foram vocês, amanhã podemos ser nós.
Comemos uma bucha que nos foi fornecida pela tropa de
São Salvador, e andámos por ali ao Deus dará. Tal como no dia anterior,
a comida custava a passar para o estômago! Meu Deus, foram logo quatro
dos nossos!
Era já tarde quando vieram chamar um Sargento do
nosso pelotão para identificar os cadáveres antes de serem colocados nos
caixões. Dirigiram-se, logo por azar, a mim. Não fui capaz. Pedi ao
Miranda que o fizesse. Ele foi. Eu não tinha coragem de ir outra vez ver
aqueles corpos dilacerados pela explosão.
Alguns deitaram-se nas camas que nos dispensaram mas,
passado pouco tempo, levantavam-se. Ninguém conseguiu dormir. No dia
seguinte, de manhã, tínhamos de ir enterrar os nossos companheiros e
prestar-lhes as devidas honras militares. Depois era o regresso. Os
mesmos pressupostos. Haver ou não haver minas!
Encosto-me a uma cama a pensar no que nos tinha
acontecido. Afinal tinha sido um acto de guerra! Pois, foi um acto de
guerra e nós ainda não tínhamos sequer conseguido pôr a vista em cima do
IN! A eles era mais fácil detectar-nos e eliminar-nos enquanto nós
andássemos nas viaturas. Conheciam bem o terreno. E começavam a
conhecer-nos também. Tínhamos de deixar as viaturas no acampamento.
Andar a pé era a solução!
Pois era. E o reabastecimento? Teríamos de utilizar
as viaturas quando houvesse que fazer o reabastecimento! “Deixa-te disso
pá”, pensei para comigo. Logo teremos de tentar chegar todos e inteiros
a Pangala, e depois se vê!
Chegou a hora de darmos sepultura aos mortos. Os
caixões foram transportados pelos tropas encarregados dos funerais.
Saímos para o lado sul da cidade e num descampado havia quatro covas
abertas, a par umas das outras. Era ali que iríamos deixar os nossos
companheiros. Naquela encosta, ligeiramente inclinada para sul, não
havia sinal de qualquer sepultura. Os nossos companheiros seriam os
primeiros a ficar ali.
| |
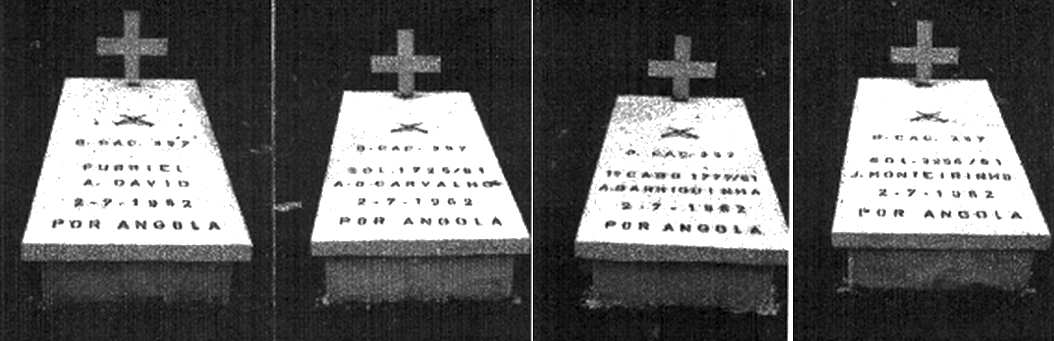 |
|
| |
Sepulturas |
|
Feitas as rezas pelo Capelão Militar, com o Pelotão
em sentido, foram disparadas as três salvas de tiros da ordem, de G3. A
última homenagem. O ruído dos tiros pareceu-nos tão fraquinho, e
rapidamente desapareceu no espaço.
Àquela hora, no “Puto”, os seus familiares
continuariam nos seus afazeres, sem suspeitarem do que se tinha passado
lá longe, muito longe! Possivelmente, uma avó, uma mãe, uma noiva,
sabe-se lá, logo à noite irá à igreja da sua terra rezar uma oração,
fazer uma prece: Que regresse bem e depressa…
Páginas que o império tece
Jaz morto e apodrece
O menino de sua mãe!
Meu Deus, como Fernando Pessoa veio até mim só para
me torturar!
Tínhamos partido de S. Salvador havia quase uma hora.
Tempo quente, a marcha lenta, a atenção que se dispensava à estrada,
amolecia-nos os nervos. A viatura deu uma guinada.
– É pá, calma – digo para o condutor.
– Desculpe meu Furriel. Distraí-me…
– Não pode ser! – Disse eu – Vais cansado? Eu conduzo
um bocado. Até pensei que tinhas visto uma mina!
– Não, meu Furriel. A minha cabeça voltou por
momentos a São Salvador. Agora já acabou. Não me distraio mais.
– Cuidado que vamos a chegar à estrada “fraca”.
Ao passar o acampamento da companhia do Spínola,
acenámos à sentinela que estava junto das instalações da companhia, que
correspondeu com outro aceno, sinal de que não havia “azar”.
Atravessámos a ponte sobre o rio e entrámos na zona
da nossa Companhia. A subida até lá acima, era a zona mais perigosa.
Novamente o “picanço”. Não podia haver descuidos. Passámos junto do
local onde a mina nos havia feito as quatro baixas. Parámos um momento.
A memória dos companheiros sempre presente. O jipe já tinha sido
retirado para o acampamento. Seguimos viagem e, por fim, chegámos às
nossas instalações. O lugar mais seguro do mundo!
Tínhamos que esquecer o que se passou. Não podíamos
mostrar ao IN o nosso medo.
| |
 |
|
| |
O Jipe minado |
|
Durante cerca de um mês esquecemos as viaturas. As
operações eram todas feitas a pé, o que as tornava cada vez mais
penosas. Pois é, não havendo viaturas não havia reabastecimento, e não
havendo reabastecimento não havia comida fresca. Durante todo esse tempo
comemos das reservas que tínhamos no acampamento. Um dia era feijão com
salsichas, no dia seguinte era arroz com salsichas. Era o que havia.
Sacos de areia – salva-vidas
Um dia resolvemos que aquilo não podia continuar. Preparámos as viaturas
cobrindo o tablado com sacos de areia. Até o condutor da viatura tinha
direito a um saco junto aos pedais. Tinha que conduzir quase com a
biqueira das botas.
Assim era mais seguro, se uma mina rebentasse, não
poderia causar muito prejuízo no pessoal, pensávamos nós. E assim fomos
para S. salvador fazer o reabastecimento, com todos os cuidados. Optámos
por três Unimogues (deixámos de utilizar os jipes por serem a gasolina e
que em caso de mina causavam mais prejuízos; tivemos a prova no nosso
primeiro acidente com homens queimados), e uma GMC.
Chegados lá, abastecemos, carregando a viatura até
mais não poder, ou se calhar, mais do que ela podia. Ele era farinha,
ele era feijão, era massa, e especialmente bebidas – 7Up e muita
cerveja. Nesse dia o “Barriga de Ginguba” não tinha vindo de Luanda,
pelo que não havia alimentos frescos. Enfim, o que tínhamos carregado
era melhor do que nada.
Pelo meio da tarde estávamos conversando sobre as
nossas “Marias” – eu e o Sargento Tendeiro, das transmissões. Éramos os
únicos Sargentos milicianos casados.
A conversa derivou para as leituras. Ele gostava
muito de literatura policial. Quando saia novidade no “Puto”, a esposa
mandava-lha imediatamente. Era professor primário, este rapaz um tanto
reservado. Não gostava de emprestar os seus livros. Eu também nunca lhe
pedi nenhum, pois não apreciava aquele tipo de leitura, mas sei de
companheiros nossos que lhe pediam um determinado livro e esse nunca
estava disponível na altura:
– Estou a relê-lo – respondia o Tendeiro!
Outra mina
O tempo estava encoberto, o calor era sufocante, prenúncio de trovoada.
Dirigíamo-nos para a caserna, quando ouvimos o Cabo-cifra:
– Meu Furriel, meu Furriel!
Parámos. Então ele entregou uma mensagem ao Furriel
Tendeiro.
– Que há?! – Pergunto.
Ficaram os dois calados a olhar um para o outro.
– Ó Ribau, eu já venho – disse o Tendeiro.
E enquanto ele se dirigia para o Comando, o
Cabo-cifra dirigiu-se apressadamente para o seu posto, certamente para
que eu não repetisse a pergunta a que ele não poderia responder. Era
segredo militar.
Mau há arroz queimado! -Pensei. A coluna de São
Salvador ainda não chegou. Que diria a mensagem? O que for soará. Eu já
estava por tudo! E continuei a dirigir-me para a caserna, onde contei ao
Sargento Carvalho o que se tinha passado.
– Mau. Há merda! – Diz ele.
Nisto aparece o Alferes do primeiro pelotão, dizendo
para os seus Sargentos:
– Preparar o pelotão para sair imediatamente. Mais
uma mina rebentou debaixo da GMC. Avisem o Sargento mecânico para
preparar a viatura de desempanagem e seguir atrás de nós.
– Há feridos? – Perguntámos quando o Alferes o
permitiu, já que tinha falado de rajada.
– Só o homem que vinha ao lado do condutor foi
cuspido para fora da viatura mas tem só ferimentos ligeiros.
– Valha-nos ao menos isso – dissemos.
Os sacos de terra resultaram. Era o que se ouvia. Até
que chegou a GMC rebocada pelo Unimog. Parecia um monstro rebocado por
uma ovelha. Foi encostada à oficina e descarregada.
Tinha pisado a mina com a roda da frente do lado
direito. Embora forte, toda aquela área tinha sido destruída. Parte da
carga que vinha à frente ficou inutilizada. A maior desgraça foi a
cerveja, que vinha à frente. Mais de metade das garrafas partiram-se.
Cerveja ao preço dos olhos da cara...
Chamei a atenção do Sargento Lino, que observava a viatura, pensando
talvez numa possível reparação.
– Olha, a cerveja foi quase toda embora.
O Lino olhou-me, e disse:
– E eu que, quando estava a amarrar a GMC ao Unimog,
reparei no líquido e pensei que fosse a água do radiador que ficou
destruído!
Sobre os mantimentos que tinham sido inutilizados e
que se destinavam à alimentação do pessoal, foi feita uma participação
da ocorrência, e o assunto ficou resolvido.
Mais tarde, iam chegando as viaturas. “Pôrra, os
sacos de areia fazem na verdade jeito!” – pensei.
Quanto à cerveja e outras bebidas destinadas à cantina, nada a fazer, a
cantina teria de pagar. O responsável pela cantina, um soldado da
companhia, deitava as mãos à cabeça:
– Não pode ser. A cantina não tem dinheiro. Vende
tudo ao preço de custo. O único lucro que eu tiro disto é ter sido
dispensado de ser operacional!
E já não é pouco, pensei com os meus botões!
O Soldado lá resolveu com o Capitão que o custo total
das bebidas seria dividido pelo número das bebidas que ficaram
operacionais, não havendo assim prejuízo para a cantina!
O pior era quando alguém ia para tomar uma bebida
fresca. Custava o dobro do preço e só a cantina tinha frigorífico. Havia
reclamações que passando pelo Primeiro-Sargento, chegaram ao Capitão.
Nada feito. Estava decidido; era assim e não havia nada a fazer!
Nessa altura fiquei convencido de que, além do
encarregado da cantina, também os dois mamavam na mesma teta, pois havia
outras possibilidades de resolver o problema. E assim as bebidas da
viatura minada levaram imenso tempo a ser consumidas.
Sacanas dos “turras”. A primeira mina foi um acto de
guerra. Levou-nos quatro companheiros! Nada podemos fazer. Agora mais
uma mina... filhos da puta! Não perderão pela demora. O dia há-de
chegar!
| |
 |
|
| |
GMC minada |
|
Uma escola!
No dia seguinte foi o nosso pelotão fazer uma patrulha diurna. Em vez de
tomarmos a estrada para São Salvador, resolvemos tomar a estrada que
dava para Cuimba. Seguimos caminho, passámos a sanzala destruída onde
tínhamos feito a primeira emboscada. Por ali nunca tinha sido feito
patrulhamento fora da estrada. O soldado que ia à frente parou:
– Que há? – Perguntou o Alferes chegando-se à frente
do pelotão.
– Uma picada que segue para a esquerda, não parece
muito utilizada, nem ter sido utilizada há pouco tempo – diz o Soldado.
– Vamos explorar essa picada – retorquiu o Alferes.
Seguimos com cuidado. A picada nunca mais tinha fim,
como era natural. Possivelmente ia dar ao Congo. Procurámos indícios de
utilização. Nada. Seguimos e mais adiante notamos uma árvore frondosa
para a qual nos dirigimos com cuidado. Ao aproximarmo-nos, notamos uma
coisa extraordinária: em volta do tronco e dispostos em círculo, havia
bancos corridos. Eram feitos de estacas espetadas no chão com tábuas
pregadas.
– Ali era uma escola! – Digo eu. Por perto deve haver
uma sanzala, ou uma Missão.
Fiquei a olhar a árvore. Um belo exemplar dos muitos
que existiam por estas bandas. Noto, pendurado por um fio, um pedaço de
ferro. Toco-lhe com o cano da minha arma e dele sai um som puro,
estridente, que se propagou e fez ouvir com certeza a quilómetros de
distância. Era a sineta para chamar os alunos! Todos ficámos espantados
com a escola.
O Alferes repreendeu-me por eu ter feito aquilo.
Podia ter “acordado” o IN. Sentámo-nos depois de ter posto alguns homens
de sentinela, todos de gargalo no ar. Uma escola! Devia haver sanzalas
por perto e o missionário viria de bicicleta de São Salvador do Congo.
Eram uns bons 60Km. Ou viria de outro lado! Quando chegava, tocava a
sineta e os alunos iam aparecendo, conjecturei eu!
Quando nos dirigíamos de Luanda para o Norte, notámos que nas povoações
mais desenvolvidas havia Missões que serviam de apoio aos missionários,
prestando assistência moral, médica e material, quando possível, aos
moradores dessas zonas.
Seguimos caminho e quando demos por isso era quase
noite. Voltar para trás era perigoso, pois a picada com a noite não se
via. Podíamos perder-nos ou ter um mau encontro quando menos o
esperássemos. Embora sem comer, pois só tínhamos levado uma bucha que
serviu de almoço (em operação apeada, quanto mais leves melhor),
resolvemos avançar até se ver, e depois montar emboscada.
Tendo por quarto o cemitério
Mais adiante, apareceu-nos ao lado da picada, um cemitério. Eram campas
em adobe, com uma altura de cerca de cinquenta centímetros. Algumas
tinham o nome das pessoas lá sepultadas. Resolvemos montar aí a
emboscada, embora com a relutância de muitos. Era uma falta de respeito
para com os mortos.
– Pois é – disse eu – mas as campas em caso de
necessidade, podem servir-nos de abrigo.
Foi comunicada a situação à base, via rádio – desta
vez funcionou – e que no dia seguinte, quando chegássemos à estrada
comunicaríamos a nossa posição para as viaturas nos irem buscar.
Entalado entre duas campas, nessa noite fiquei
descansado. Também nada aconteceu, a não ser um ataque de formigas, que
deviam ter os ninhos nas próprias campas.
De regresso a “Casa”
Ao romper da manhã regressámos à estrada; comunicámos à Companhia a
nossa posição e aguardámos. Sentei-me num talude à beira da estrada, a
olhar o ambiente, como eu costumava dizer. Capim. Matas e mais matas.
Ah! E ao longe a Serra da Canda, famosa pelo arvoredo e onde no
princípio da guerra, em 1961, se acoitaram os “turras” que depois
desceram para as fazendas do café (e para tudo quanto fosse de branco),
matando e destruindo sem dó nem piedade.
Lá estava a famosa cascata que, segundo diziam, tinha
350 metros de altura. Na base dessa maravilha da natureza havia uma
fazenda de citrinos da CUF que, diziam os que lá passaram, era um mundo.
Nem electricidade faltava vinte e quatro horas por dia. Aproveitaram a
força da água da cascata, fizeram um desvio e montaram um gerador
eléctrico que era movido pela água. Havia a casa do encarregado, um
engenheiro agrícola, e casas para os trabalhadores. Havia! Agora foi
tudo destruído pela fúria assassina. Não compreendo como se fizeram
tantas barbaridades, materiais e humanas! Doutrinados pelos que queriam
o poder, foram convencidos de que tudo o que era dos brancos ficaria
para eles, incluindo as mulheres. Muitos pagaram com a vida a sua
inocência ou a sua fúria de destruição.
Nunca pude ir àquela fazenda. Gostaria de a ter
conhecido mas não ficava na zona da nossa Companhia e as pontes estavam
destruídas.
Fui acordado daqueles pensamentos pelo ronronar das
viaturas, que chegavam vagarosamente. Toca a subir. Vamos ao café. A
fome, uma necessidade natural, desperta-nos a vontade de ter algo para
comer! E lá regressámos a casa, como nós dizíamos.
Os dias iam passando, uns a seguir aos outros… Nada
de novo, felizmente. Era uma pasmaceira. Patrulhas diurnas eram o
pão-nosso de cada dia. Por vezes, lá acontecia alguma coisa!
|