|
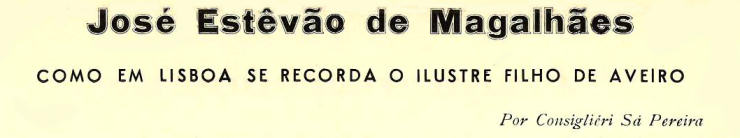
Em cima – A estátua de José Estêvão
no átrio do Palácio de S. Bento
Em baixo – Um aspecto da Rua José Estêvão
 NISTO estamos, agora, ontem, amanhã decerto, piores que
nos tempos do senhor Dom João o Sexto. A modos de mulatos com medo a «manipansos»,
jamais as artes plásticas floresceram entre nós. Em pintura, continuamos
a discutir a personalidade do pintor e dos pintados nos painéis do
presumível Nuno Gonçalves. Em estatuária, importamos mármore de Carrara
ou Montelavar − tanto faz! − e os rasos artistas têm de fazer labor de
pedreiro. Em arquitectura, reconstruímos a cidade à chibatada negreira
e, com as sobras desse furor, erguemos três bisarmas colossais, mas
idênticas no mau gosto, na inutilidade e nos rios de bom ouro do Brasil
que custaram: − Mafra, imensa, fria e sem préstimo durante séculos; o
aqueduto das Aguas Livres, porque elas nunca estiveram tão presas; e as
linhas de Torres Vedras. NISTO estamos, agora, ontem, amanhã decerto, piores que
nos tempos do senhor Dom João o Sexto. A modos de mulatos com medo a «manipansos»,
jamais as artes plásticas floresceram entre nós. Em pintura, continuamos
a discutir a personalidade do pintor e dos pintados nos painéis do
presumível Nuno Gonçalves. Em estatuária, importamos mármore de Carrara
ou Montelavar − tanto faz! − e os rasos artistas têm de fazer labor de
pedreiro. Em arquitectura, reconstruímos a cidade à chibatada negreira
e, com as sobras desse furor, erguemos três bisarmas colossais, mas
idênticas no mau gosto, na inutilidade e nos rios de bom ouro do Brasil
que custaram: − Mafra, imensa, fria e sem préstimo durante séculos; o
aqueduto das Aguas Livres, porque elas nunca estiveram tão presas; e as
linhas de Torres Vedras.
 Mas não falemos mais. Estas três coisas constituem
fronteiras naturais do mau gosto português a delimitar os séculos XVII e
XVIII, até suas confluências com o precedente XIX. Assim pinceladas
essas sinistras farcas caudinas, no estúpido e estéril clarear das
caliças e paupérrimas charnecas circundantes − penetremos no motivo
desta invectiva. Mas não falemos mais. Estas três coisas constituem
fronteiras naturais do mau gosto português a delimitar os séculos XVII e
XVIII, até suas confluências com o precedente XIX. Assim pinceladas
essas sinistras farcas caudinas, no estúpido e estéril clarear das
caliças e paupérrimas charnecas circundantes − penetremos no motivo
desta invectiva.
Escrevemos, em artigo anterior, do desamor em que é tida
a memória de Consiglieri Pedroso nesta sua cidade natal. Desta feita,
diremos que buscámos a estátua de José Estêvão, filho de Aveiro, em
cujas cristalinas águas limpou e deu moderno brilho à oratória lusa.
E, com beneditina paciência, fomos ampliando o arco das
nossas investigações. Qualquer zeloso guardião nos tomaria por um
Sherlock-Holmes. Por fim, lembrámo-nos de uma hipótese.
− Talvez esteja lá dentro?
Entrámos, nas velhas Cortes, desembaraçadas de bulício e
de «patuleias».
Ao fundo, uma escadaria trabalhada a ferro. Antes, no
vazio, algo de grande e eloquente na sua mudez:
Era a estátua de José Estêvão Coelho de Magalhães!
Ali estava, afinal, engrandecido com o seu gesto amplo de
«moliceiro», os lábios desfraldados em pavilhão de adamastoreanas
rebeldias. Cheios de defeitos esses românticos lutadores da revolução de
1820? Sem dúvida? Tão depressa assinavam a convenção do botequim
fronteiro ao ex-Arsenal como se dispersavam na Europa hostil, e buscavam
a gélida acolhida da Grã-Bretanha «torie» e a podridão dos seus
barracões de Plymouth.
Em tudo, no entanto, foram originais e nobres.
José Estêvão − já o teriam removido para outro escaninho?
− perpetuou-se na imensidade simples e risonha da ria de Aveiro. Como
não bastava, ergueram-lhe o monumento. E, ciosos dessa voz poderosa que
enche todo o século XIX de um clarão victor-huguesco, pretenderam
arrumá-lo nas Cortes. E ele, o orador do povo e dos municípios, em lugar
de diminuído ficou ainda maior, amarfanhando, nessa penumbra de templo
popular, no silêncio tonitroante da sua voz emudecida, o pasmo dos seus
contempladores. Agora e então − entra-se em São Bento com a reverência
de quem contempla, na sua férrea compostura, no seu arreganho indomável,
aquele que viveu intensamente a sua época, o seu direito e o seu verbo.
Por tudo isto e ainda pela lembrança devotada de seu
filho, o límpido doutor Luís de Magalhães e seus primos em mérito
e saber e tolerância de almas nobres, pomos estas linhas sob a invocação
deles e dos doutores Sebastião Magalhães Lima e Jaime
Magalhães Lima.
Movendo-se em pólos opostos, guiados por diferentes místicas − eles
comungavam por igual no respeito à soberania do povo e ao respeito por
ela e por ele.
|