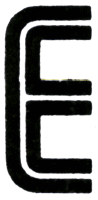 |
ra muito
miúdo ainda. E lá fui eu, pela primeira vez e pela mão
daquela que o Senhor já levou há anos, tentar o contacto com
os livros, com a lousa, com os lápis, com as tintas da D.
Maria Augusta e com as canadas do saudoso Professor
Remígio
Sacramento. Naquela Escola do Adro. E logo ali tão longe,
quando eu morava paredes-meias com o Bairro de Sá.
No Asilo
é que não. Era uma escola muito pequena e não tinha
Bombeiros. Eu lembro-me que pedi à minha Mãe que me levasse
para a "escola lá de baixo", pois gostava tanto de
Bombeiros. E como admirava tanto o senhor António Monteiro,
a largar a casa, a largar tudo. As batatas e o bacalhau às
vezes nem sequer ainda saboreado! |
|
É que eu
morava num primeiro andar e dava conta (ai os ouvidos da
mocidade...) que estava a tocar ao fogo. E, lesto que nem um
gamo, galgava as escadas e os poucos metros que separavam as
nossas casas e gritava: "Senhor Monteiro: está a tocar ao
fogo."
Motorista
de profissão ele sabia que os carros das "bombas" como se
diz na Madeira (e que me causou imensa confusão ao visitar a
Pérola do Atlântico) não poderiam sair do quartel se ele ou
outro colega da "rodinha" não chegasse lá. E era vê-lo a
sair, ali do Beco das Galinheiras, na sua velha bicicleta a
pedalar, qual Nicolau do seu tempo, para galgar os mil e tal
metros que o separavam do quartel, com a ladeira da Fonte
Nova ainda para vencer.
Sim.
Porque o "Ti António Monteiro" era dos "Velhos". Quantas
vezes, sentados à soleira da sua porta, ele me contava
histórias enormes dos bombeiros. Das corridas, do toque da
sineta (que isso de sirenes era um luxo que existiria mais
tarde), das agulhetas e da água que às vezes lá não chegava.
Das escadas, das vacas que caíam aos poços. De tantas e
tantas coisas que eu, embebecido, ia ouvindo. As vezes
sozinho, outras com os catraios do meu tempo. Era a nossa
"televisão" desses anos já longínquos. Histórias que fizeram
história, feitos que nos faziam sonhar. Homens que
admirávamos e respeitávamos.
Por tudo
isso eu nunca me escusava de o chamar: "Ó Senhor Monteiro, ó
senhor Monteiro, está a tocar ao fogo. E deve ser grande,
pois já está a tocar há muito tempo". Mas quem se mostrava
muito admirada era a minha Mãe. Ela não atinava que eu,
sendo dos "novos", (torcendo pelos novos, sim, senhor) fosse
tão pressurosamente dar o alerta ao "chauffeur" dos
"velhos". Eu também não atinava com o porquê. Mas hoje não é
difícil adivinhá-lo. Era o sentido do humanitarismo que, em
cada um de nós, desponta, sem disso darmos conta. Como,
afinal, envolve toda a vida do Bombeiro Voluntário
Português.
Voltando
aos nossos quatro anos de escola primária lembro-me que era
uma algazarra
/ p. 52 /
pegada sempre que o alarme era dado no velho quartel do
Adro. Ninguém mais parava no lugar. Cabecitas ao alto,
"traseiros" que se levantavam das carteiras, pedidos (quase
sempre recusados) de "ó Senhor Remígio, dá licença que vá
fora?". Quem é que descansava enquanto os bombeiros, meios
vestidos, meios calçados, capacetes a reluzir nas cabeças ou
enfiados nos braços, não se atiravam para os carros (que às
vezes era preciso empurrar para que os motores pudessem dar
sinal de vida) e depois voltavam a esquina, rumo às Pontes,
ou pela Rua do Seixal em direcção à parte nascente da
cidade. E se acontecia este último caso, eu ficava inquieto,
porque morava para esses lados. É que havia mais um irmão
pequenito, atraquinado, e nem sempre a minha Mãe estava em
casa.
Bom. Era
esse receio e também a possibilidade de um feriadito em que
o "Ti Remígio" era parco (contando-se pelos dedos das mãos
as faltas que deu ao longo desses quatro anos de escola
primária).
Quando
isso acontecia ninguém vinha para casa, primeiro era a
algazarra do costume, com a D. Maria Augusta a ralhar-nos e
a ameaçar-nos com isto e aquilo. Depois um joguito de
futebol, com as balizas demarcadas uma entre as duas velhas
árvores (ainda hoje companheiras silenciosas desses tempos
de felicidade incontida) e a outra cá mais para baixo.
Exactamente (muitas vezes) a porta do quartel. Tinha muita
"ficha" a bola entrar sem quaisquer dúvidas. Com os calhaus
era sempre uma confusão dos diabos. Na porta não. Se
entrava, entrava mesmo. Era golo. E dos bons. Sem "engrapadelas".
No final
e como "recompensa" do velho quarteleiro lá íamos nós todos,
com panos, escovas e graxa, e vai de dar lustro aos
capacetes, aos amarelos dos carros ou das botas dos
bombeiros. Era uma coisa em que todos nos esmerávamos,
porque aqueles eram os "nossos Bombeiros". Viviam
paredes-meias connosco. Faziam parte das nossas pequeninas
vidas. E entrávamos com eles na disputa, quando havia jogos
com os nossos condiscípulos da Glória. Se perdíamos o jogo
da bola, era certo e sabido que nos defend íamos com os
"nossos Bombeiros". "Eles é que são bons". Dão cada coça nos
vossos, que já são "velhos". Era a rivalidade que se manteve
pelos tempos fora. Que alimentávamos em criança e que ainda
(para que negá-lo?) ainda existe hoje uma resteazinha cá
dentro do já cansado coração. Evidentemente que uma
rivalidade sã, daquelas em quem chegar primeiro melhor e
mais depressa serve o próximo, daquelas em que a maior
beneficiária é a comunidade em que os nossos queridos
"Bombeiros Novos" servem tão devotadamente.
Daí que
eu dissesse em criança, num sonho que nunca fui capaz de
materializar:
"Eu
quando for grande quero ser Bombeiro, mas dos Novos..." |