|

 Ao cimo
da encosta termina o concelho de Azeméis e começa o de Cambra. Em
frente, está o lugar das Baralhas; à esquerda, um ramal da estrada para
a aldeia das Cavadas; à direita, sinuosa vereda. Por ela, mau grado a
sua rudeza, deve seguir quem quiser relacionar-se com o passado da
região, pois no monte próximo ergueu-se o crasto de OsseIa. Entre
pinheiros e bravos penedais cobrem-se algumas centenas de metros. Na
colina, outrora cheia de lares, de muralhas e de armas bélicas, existe
agora somente pinheiros, tojo e soledade. Nas rochas, tão trilhadas há
milhentos anos, os olhos buscam uma pegada impossível e só vêem
indolentes sardões expondo ao sol os seus verdes e os seus oiros. Mas
este próprio abandono, este próprio silêncio que se pega à terra de onde
a vida humana desapareceu, torna mais sugestiva, Ao cimo
da encosta termina o concelho de Azeméis e começa o de Cambra. Em
frente, está o lugar das Baralhas; à esquerda, um ramal da estrada para
a aldeia das Cavadas; à direita, sinuosa vereda. Por ela, mau grado a
sua rudeza, deve seguir quem quiser relacionar-se com o passado da
região, pois no monte próximo ergueu-se o crasto de OsseIa. Entre
pinheiros e bravos penedais cobrem-se algumas centenas de metros. Na
colina, outrora cheia de lares, de muralhas e de armas bélicas, existe
agora somente pinheiros, tojo e soledade. Nas rochas, tão trilhadas há
milhentos anos, os olhos buscam uma pegada impossível e só vêem
indolentes sardões expondo ao sol os seus verdes e os seus oiros. Mas
este próprio abandono, este próprio silêncio que se pega à terra de onde
a vida humana desapareceu, torna mais sugestiva,
 mais profunda, a áspera
paisagem. Chega-se, enfim, ao topo do outeiro. Lá se ergue uma ermida
com o seu pequeno adro. E sempre o mesmo silêncio, a mesma solidão. Em
baixo, corre o Caima, entre escuros fraguedos. E, na banda oposta,
levanta-se outro monte, depois a serrania. O Passado está sob esta terra
nua do adro e nas declividades da colina. Nós próprios o vimos, éramos
ainda crianças – mas vimo-lo. Foi em 1908. O Museu Municipal do Porto
mandou fazer escavações neste cerro. As picaretas trabalharam dias
seguidos, sob os olhos do poviléu das redondezas, que acudia em massa,
julgando tratar-se de pesquisa a fabulosos tesouros. É que, anos antes,
nas Baralhas, aqui pertinho, um sapateiro encontrara, ao abrir os
alicerces para um muro, dezasseis manilhas de oiro, trabalho pré-romano,
que lhe valeram uma riqueza e deram brado entre os arqueólogos. O crasto
de OsseIa reservava, porém, surpresas de outra ordem.
/ 58 / mais profunda, a áspera
paisagem. Chega-se, enfim, ao topo do outeiro. Lá se ergue uma ermida
com o seu pequeno adro. E sempre o mesmo silêncio, a mesma solidão. Em
baixo, corre o Caima, entre escuros fraguedos. E, na banda oposta,
levanta-se outro monte, depois a serrania. O Passado está sob esta terra
nua do adro e nas declividades da colina. Nós próprios o vimos, éramos
ainda crianças – mas vimo-lo. Foi em 1908. O Museu Municipal do Porto
mandou fazer escavações neste cerro. As picaretas trabalharam dias
seguidos, sob os olhos do poviléu das redondezas, que acudia em massa,
julgando tratar-se de pesquisa a fabulosos tesouros. É que, anos antes,
nas Baralhas, aqui pertinho, um sapateiro encontrara, ao abrir os
alicerces para um muro, dezasseis manilhas de oiro, trabalho pré-romano,
que lhe valeram uma riqueza e deram brado entre os arqueólogos. O crasto
de OsseIa reservava, porém, surpresas de outra ordem.
/ 58 /
 Levantadas as primeiras camadas de terra, em breve se ofereciam, aos
olhos dos escavadores, várias sepulturas, feitas de lajes, numa das
quais se ostentava ainda um crânio. Mais fundo, havia ruínas de
edifícios antiquíssimos e exibiam-se restos de muralhas, mais remotas
ainda. Moedas de outrora, romanas e lusitanas, fragmentos de cerâmica de
várias épocas, fíbulas, pedaços de vidro e de bronze, outros destroços,
jaziam na terra. Do encontrado concluiu-se que o morro, estação
pré-romana, fora habitado e defendido por diversas raças, ao longo dos
séculos. Quando fortificado, devia ter tido duas ou três ordens de
muralhas e, dentro, as casas dos habitantes. Levantadas as primeiras camadas de terra, em breve se ofereciam, aos
olhos dos escavadores, várias sepulturas, feitas de lajes, numa das
quais se ostentava ainda um crânio. Mais fundo, havia ruínas de
edifícios antiquíssimos e exibiam-se restos de muralhas, mais remotas
ainda. Moedas de outrora, romanas e lusitanas, fragmentos de cerâmica de
várias épocas, fíbulas, pedaços de vidro e de bronze, outros destroços,
jaziam na terra. Do encontrado concluiu-se que o morro, estação
pré-romana, fora habitado e defendido por diversas raças, ao longo dos
séculos. Quando fortificado, devia ter tido duas ou três ordens de
muralhas e, dentro, as casas dos habitantes.
Depois
destas escavações, a terra, que não foi toda explorada, voltou a
fechar-se e assim se encontra, rasa, sobre as suas velhas sepulturas de
lajes, até que um dia outras picaretas venham buscar nos declives do
morro o mais que ele guarda ainda no seu silêncio e neste abandono a que
a melancólica ermida parece fazer sentinela.
De
regresso à estrada, vê-se, logo adiante das Baralhas, panorama de
pasmar. É o Vale de Cambra. Quase ignorado até há pouco, a sua beleza
adquire, dia a dia, maior renome. Cercado de montanhas de formas
extravagantes, não é fácil descortinar em Portugal outro mais grandioso
e espectacular. Quase não tem planos.
 A vista desce para a imensa
cavidade onde refulgem o Caima e o Vigues; erra entre os campos
agricultados e, depois, encontra, lá longe, o contraforte das serranias,
onde branquejam dispersas aldeias, humildes casitas. A terra é verde e o
céu é azul; é tudo verde e azul, com raras pintas brancas do casaredo,
que, mais do que moradias dos homens, parecem janelas da própria
paisagem. Ao crepúsculo, porém, o grande vale sofre metamorfose,
torna-se policromo – e as suas cores separam-se aqui, muito nítidas, e
dissolvem-se e confundem-se além, num encanto visual indescritível. Nas
noites de luar, quando o grande balão de oiro surge na lomba das
montanhas, o vale enche-se de magia, dum sortilégio que paira desde os
píncaros longínquos às águas sussurrantes do Caima. De manhã, é o
milagre. Todos os dias há um milagre de luz sobre a terra quando o sol
nasce em Vale de Cambra. A vista desce para a imensa
cavidade onde refulgem o Caima e o Vigues; erra entre os campos
agricultados e, depois, encontra, lá longe, o contraforte das serranias,
onde branquejam dispersas aldeias, humildes casitas. A terra é verde e o
céu é azul; é tudo verde e azul, com raras pintas brancas do casaredo,
que, mais do que moradias dos homens, parecem janelas da própria
paisagem. Ao crepúsculo, porém, o grande vale sofre metamorfose,
torna-se policromo – e as suas cores separam-se aqui, muito nítidas, e
dissolvem-se e confundem-se além, num encanto visual indescritível. Nas
noites de luar, quando o grande balão de oiro surge na lomba das
montanhas, o vale enche-se de magia, dum sortilégio que paira desde os
píncaros longínquos às águas sussurrantes do Caima. De manhã, é o
milagre. Todos os dias há um milagre de luz sobre a terra quando o sol
nasce em Vale de Cambra.
 O
espectáculo majestoso pode contemplar-se da estrada, onde há um
miradoiro próprio. E pode sê-lo, também, da Quinta da Bela Vista,
proeminência onde um homem de bom gosto, o sr. Tavares da Fonseca,
mandou edificar uma casa cujas portas se abrem, gentilmente, aos
forasteiros que desejem admirar dos seus terraços, erguidos em sítio
eleito, este panorama excelso. O
espectáculo majestoso pode contemplar-se da estrada, onde há um
miradoiro próprio. E pode sê-lo, também, da Quinta da Bela Vista,
proeminência onde um homem de bom gosto, o sr. Tavares da Fonseca,
mandou edificar uma casa cujas portas se abrem, gentilmente, aos
forasteiros que desejem admirar dos seus terraços, erguidos em sítio
eleito, este panorama excelso.
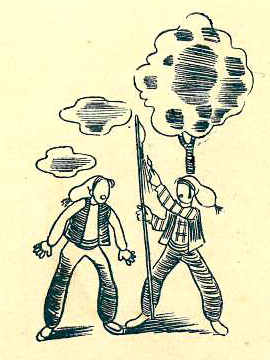 A estrada
desce e entra em Pinheiro Manso, burgo asseado e muito branco, já com os
seus ares de urbanismo e de modernidade. Um ramal avança para Castelões,
velha freguesia, com algumas vetustas moradias e o seu cemitério e a sua
igreja postos em sítio airoso. Sugestão romântica, melancólica embora,
não é, porém, a ideia da morte que nos sai, aqui, ao caminho e sim uma
ideia de comunhão ilimitada e eterna com a natureza bela que nos cerca,
com o sol que prateia as vinhas e os pinhais, os jardins e as vertentes
dormindo em silêncio. Estamos já ao pé da serra que se levanta por
detrás de Castelões, fechando o Vale de Cambra. E no seu pico ergue-se a
/ 59 / Senhora da Saúde, ermida até há pouco, recentemente templo maior,
acompanhado por um albergue. Para a festa que, lá em cima, se celebra
todos os anos, começam a passar aqui, na madrugada de 14 de Agosto,
verdadeiras multidões, Vem gente da beira-mar, a muitas léguas de
lonjura, vem gente de todos os concelhos próximos, das montanhas
vizinhas e das montanhas distantes – e até do Porto e de Coimbra gente
vem. Desde as regiões vareiras às regiões de Arouca, não há estrada nem
sinuoso atalho onde neste dia não se projecte a sombra dos romeiros a
caminho da Senhora da Saúde. Empregam todos os veículos: a tartana
remota, que se julga tirada de museu, a diligência de há tantos anos,
carroças, tipóias, carros de bois engalanados, camionetas e automóveis. A estrada
desce e entra em Pinheiro Manso, burgo asseado e muito branco, já com os
seus ares de urbanismo e de modernidade. Um ramal avança para Castelões,
velha freguesia, com algumas vetustas moradias e o seu cemitério e a sua
igreja postos em sítio airoso. Sugestão romântica, melancólica embora,
não é, porém, a ideia da morte que nos sai, aqui, ao caminho e sim uma
ideia de comunhão ilimitada e eterna com a natureza bela que nos cerca,
com o sol que prateia as vinhas e os pinhais, os jardins e as vertentes
dormindo em silêncio. Estamos já ao pé da serra que se levanta por
detrás de Castelões, fechando o Vale de Cambra. E no seu pico ergue-se a
/ 59 / Senhora da Saúde, ermida até há pouco, recentemente templo maior,
acompanhado por um albergue. Para a festa que, lá em cima, se celebra
todos os anos, começam a passar aqui, na madrugada de 14 de Agosto,
verdadeiras multidões, Vem gente da beira-mar, a muitas léguas de
lonjura, vem gente de todos os concelhos próximos, das montanhas
vizinhas e das montanhas distantes – e até do Porto e de Coimbra gente
vem. Desde as regiões vareiras às regiões de Arouca, não há estrada nem
sinuoso atalho onde neste dia não se projecte a sombra dos romeiros a
caminho da Senhora da Saúde. Empregam todos os veículos: a tartana
remota, que se julga tirada de museu, a diligência de há tantos anos,
carroças, tipóias, carros de bois engalanados, camionetas e automóveis.

A maioria
vai a pé e a pé nu – que a festa nasceu humilde como a capelita
primitiva e é, sobretudo, para gente de pé descalço. Lá vão elas com os
pés grandes sobre o pó dos caminhos, a saia nova a bater-lhes na barriga
das pernas; sobre a blusa de cor, estreada agora também, os oiros do
povo; nas orelhas as arrecadas e, sobre a cabeça, um cesto com o farnel.
Ao lado vão eles. Como ganham mais dinheiro do que elas, compraram
sapatos para este dia; levam cavaquinhos, harmónicas, violas e, desde
madrugada alta, começam a cantar por todos os caminhos. Chegados à
ermida, não entram, que já a viram da primeira vez que ali vieram e a
festa é mais pagã do que outra coisa. O píncaro está cheio de
bandeirolas, de vendedores de quinquilharias coloridas, de frutas
estivais, de chitas das mulheres; não há maior cromatismo em parte
alguma, nem bulício maior. Eles e elas pousam o farnel debaixo de velho
carvalho, na vizinhança dum carro de bois com a pipa de vinho em riba, e
logo desatam a bailar, não acompanhando a música da filarmónica de
Cambra, e sim a dos milhares de instrumentos populares que os romeiros
levam. Bailam, cantam, suam e comem durante o dia inteiro.
À
noitinha, as chitas das raparigas, depois do sol e do suor, desbotaram
levemente; mas elas e eles compram plumas tingidas e estampas
policromas; colocam-nas no peito e no chapéu e, assim adornados, iniciam
a descida da serra, sempre a cantar e a bailar, enquanto outros,
dispondo de maiores ócios, gastam a noite a fazer a mesma coisa no
arraial.
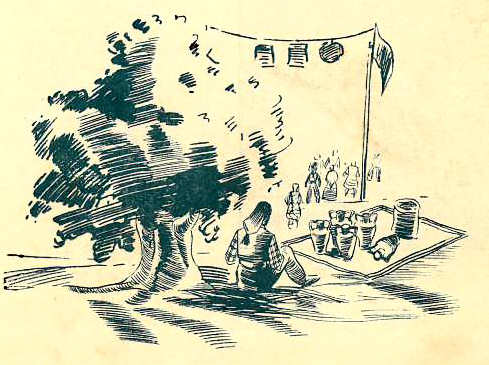 E
cantando aqui, parando ali para o bailarico, fazem léguas e léguas, até
que a voz do oceano, lá para as terras de Ovar, se sobreponha à voz
deles e delas, ou o silêncio das montanhas arouquesas lhes lembre que
chegaram a casa – às preocupações da vida, ao árduo trabalho pelo magro
pão de cada dia. E
cantando aqui, parando ali para o bailarico, fazem léguas e léguas, até
que a voz do oceano, lá para as terras de Ovar, se sobreponha à voz
deles e delas, ou o silêncio das montanhas arouquesas lhes lembre que
chegaram a casa – às preocupações da vida, ao árduo trabalho pelo magro
pão de cada dia.
Inédito
(Trecho
dum trabalho destinado ao «Guia de Portugal»)
Ferreira
de Castro
|