|

UM
simples lance de olhos para a produção literária e científica de cada
dia, em cada país, fará rapidamente concluir que a característica
basilar da época presente é a falta dum ideal gerador, claramente
concretizado em obras de arte, Deslocado o impulso vital ao artista,
faltando-lhe um ponto de apoio, dentro da sua época, em que possa
entroncar a sua obra, ele fica colocado numa contingência flutuante, com
alternativas de subida e descida, rodeado de incertezas, onde mais tarde
ou mais cedo irão naufragar obra e artista.
É rudimentarmente sabido que o ideal estético dum momento determinado
há-de ser a sequência do ideal historicamente dominante nessa época.
Quando um artista se coloca abertamente em conflito com a sua época, ou
mais claramente, quando a obra de arte não for a intérprete da aspiração
momentânea, sofre a vida efémera da Torre de Marfim em que o autor a
enclausurou, como um peixe definhando num aquário. O exemplo concreto da
actual poesia francesa bastaria a tornar claro este axioma: Regnier,
Albert Samain, a Comtesse Matieu de Nouailes, nunca conseguirão uma
leitura universal, nunca sequer obterão uma leitura total na própria
França, porque ensimesmando-se no seu particularismo não procuram a
emoção geral em detrimento da egoisticamente pessoal. Falta nas suas
obras alguma coisa de vital que nos faça sentir como o artista,
pressentindo que o artista nos sente. E no entanto isto é observado em
França, onde os sistemas sociais se atropelam, onde os ideais se
substituem com um fragor ruidoso.
A causa deste conflito geral entre a arte e as ideias, eu cuido que ela
está propriamente – na falta dessas ideias, ou, pelo menos, na falta das
ideias concretizadas e geralmente reconhecidas. Só assim se explica que
anualmente, como efemérides de calendário, um novo sistema faça ruído,
abalando aparentemente a actualidade, com novos sequazes, ora completos,
ora desdobrados em teorias reeditadas ou absolutamente novas que pouco
mais conseguem que dar origem a novas teorias. E é curioso que todos
aqueles que se sentem arrastados no tumulto do pensamento, e não buscam
isolar-se na imutabilidade do egoísmo schopenhauriano, fruto do
momento, seguem ansiosamente essas correntes desencontradas; e enquanto
as seguem, se os arrastam, buscam dar-lhes forma plástica,
exteriorizá-las em obras. Daí a multiplicidade de aspirações vagas e mal
definidas que flutuam à tona, incompletas no seu esboço, e constituindo
no seu conjunto o que os psicólogos alemães chamam – die Weltschmmerz
– a dor universal.
É esta dor universal, esta tristeza contemporânea, como a denominou um
psicólogo belga, que emana de todas as obras de arte da actualidade, de
todas as obras
[SERÕES N.º 51 - FL. 3] /
202 /
que reflectem o actual estado mental tão característico duma época de
decadência, ainda daquelas que mais solidamente pretendem ser
construídas e que mais positivo ideal tenham a levá-las. Os personagens
de lbsen e Björnson, giram curvados à dor da época, sombrias figuras que
servem um alto ideal de felicidade. E é essa extensa galeria que corre
no romance contemporâneo, de Zola a Dostoiewsky, passando pelos Goncourt
e Maupassant.
 Ruídas
as crenças religiosas pela linha filosófica que começa nos
enciclopedistas e acaba em Comte, Darwin e Haeckel, sem que as reacções
sucessivas lhes valessem, um momento a religião do homem dominou as
consciências satisfeitas. Mas a desilusão dos homens de 89 teria que
reflectir-se nos da época positivista: a materialização do seu ideal não
valeu a Comte, cuja genial intuição não conseguiu alcançar o período
construtivo da nova humanidade. Esse ideal que deveria brotar das ruínas
cavadas pelo positivismo, assentando sobre a ciência, ainda hoje não
encontrou solução completa, precisamente por a ciência a não ter
encontrado ainda; é na ânsia dele, procurando-o sem o achar, que se
desenvolve a tristeza contemporânea, com todas as características duma
época onde se solveu a continuidade, e todos os sistemas prontos
/ 203 / a
resolver a crise mental, rodeados do triunfo efémero que a decadência
entrega. Ruídas
as crenças religiosas pela linha filosófica que começa nos
enciclopedistas e acaba em Comte, Darwin e Haeckel, sem que as reacções
sucessivas lhes valessem, um momento a religião do homem dominou as
consciências satisfeitas. Mas a desilusão dos homens de 89 teria que
reflectir-se nos da época positivista: a materialização do seu ideal não
valeu a Comte, cuja genial intuição não conseguiu alcançar o período
construtivo da nova humanidade. Esse ideal que deveria brotar das ruínas
cavadas pelo positivismo, assentando sobre a ciência, ainda hoje não
encontrou solução completa, precisamente por a ciência a não ter
encontrado ainda; é na ânsia dele, procurando-o sem o achar, que se
desenvolve a tristeza contemporânea, com todas as características duma
época onde se solveu a continuidade, e todos os sistemas prontos
/ 203 / a
resolver a crise mental, rodeados do triunfo efémero que a decadência
entrega.
É nesta contínua efervescência de novos remédios, de salutares remédios,
que vemos ora o anarquismo dominando objectivamente na literatura, –
onde foi seu precursor Leopardi, o supremo individualista; ora o
completo refúgio em si mesmo; ora vistas e aspectos inteiramente novos,
como as bizarras criações dos simbolistas e estetas franceses,
entroncadas em Nietzche e Schopenhauer.
Rossi, estudando num livro recente a dor universal, notou como os
fenómenos de contraste que a originam são duas fontes poderosas de
misticismo e sectarismo, cuja propagação epidémica se realiza pela
sugestão. A fácil continuidade, que todas as novas soluções obtêm,
levam-nos a admitir de certo modo a conclusão sociológica de Rossi, sem
prejuízo do ponto de vista individual que em todas as manifestações toma
clara evidência.
A literatura portuguesa contemporânea é um curioso campo de vista onde
se podem verificar todas as observações executadas até aqui.
A chamada geração de 90, reagindo contra o cultivo exclusivo da forma,
como lei inflexível e rígida que regulava a poesia, não foi mais em
começo que uma adaptação francesa, onde se desenvolveram claramente duas
correntes. Uma, que buscava transplantar para o nosso vocabulário as
charadas de René Ghil, em que a vaga evocação egípcia da serpente
mordendo a cauda anuncia que onde tudo acaba tudo começa eternamente; e
doutro lado um falso neo-catolicismo, breve desfeito em laços pagãos,
bebido em Verlaine e Malarmé, – que souberam encerrar os seus poetas na
turris eburnea onde ficaram exoticamente metidos, como nereides
alheadas do mundo e só dando ouvidos ao búzio da arte. Outra remontada a
Banvile e Beaudelaire, só tardiamente reflectidos entre nós, (talvez
porque os seus processos não eram tão violentos como os primeiros) breve
desfeita no ambiente da geração, amornado e apático, que conseguiu
falhar quase todos os seus poetas.
É neste meio que se começa a esboçar, vagamente a princípio, nitidamente
depois com os livros de Manuel da Silva Gaio, – a quem cabe a primazia
do movimento –, primeiro a ressurreição integral das formas
quinhentistas; depois, tomada a consciência do movimento, com a
continuação do sentimento da raça, bebido ora nas contemplações
melancólicas de Bernardim e Cristóvão Falcão, ora na firmeza plástica de
Sá de Miranda e Camões. Buscava-se um novo fundo inexaurível, o fundo
sentimental da raça, achado em documentos artísticos de plena palpitação
nacional e projectados numa adaptação vigorosa às necessidades
artísticas contemporâneas. Foi este poeta o precursor da actual geração,
de que hoje constitui o ponto central; foi este poeta o único da sua
camada que sentiu e palpou o verdadeiro fundo renovador duma literatura,
indo buscá-lo à tradição nacional, reatando-a e amoldando-a, da
aspiração subjectiva que envolvia o lirismo quinhentista, a consciente e
nacional unificação da arte. Tal o intuito do Mondego, e dos
poemas – Sonho e Alma Temida do seu último
/ 204 / livro,
onde se observa toda a evolução do movimento, já esboçado no drama Na
volta da Índia, no estudo humano de caracteres observados através do
prisma da alma nacional. Bem sei que antes de Silva Gaio já António
Nobre voltara os olhos para o seu país; mas o poeta do Só não fez
mais que voltar os olhos melancolicamente para o seu país, última ranca
dum velho castanheiro apodrecido a beira do Oceano Atlântico. A sua obra
não é a do poeta que pressente em si a aspiração nacional; mas a simples
reacção individual contra um meio falho, gasto em temas ou muito velhos
ou muitos novos, que a sua sensibilidade de português e de poeta ou o
aborreciam ou o irritavam.
 Cronologicamente
antes do Mondego, já mesmo Afonso Lopes Vieira tentara a
revivescência formal portuguesa, exteriorizando um lusitanismo
pessoal. Mas a obra de Lopes Vieira encontra a sua explicação na
conclusão do movimento de 90, que, – combatendo a forma, veio a acabar
no culto material da forma, apenas com o aumento de vocabulário e de
nova técnica. Ela é a reacção intencional e subjectiva do artista contra
a materialização da poesia contemporânea. O seu Náufrago procura
a tábua de salvação; mas erradamente a encontra num ideal social, para
onde transitou pela ponte-de-fronteiras do Encoberto. Esse ideal
social não corresponde a uma nítida percepção do movimento, adiante
estudado, do universalismo, mas a conclusões meramente cerebrais que não
chegaram a tomar consciência no poeta. Demorado na primitiva orientação,
Lopes Vieira teria talvez encontrado o filão que o seu espírito
procurava sem o saber; e achando-o, ele marcharia então cônscio de si,
não para a socialização compassiva das coisas, mas para o aspecto
unitário do mundo observado em conjunto, a um grande sopro humano e
universal. Cronologicamente
antes do Mondego, já mesmo Afonso Lopes Vieira tentara a
revivescência formal portuguesa, exteriorizando um lusitanismo
pessoal. Mas a obra de Lopes Vieira encontra a sua explicação na
conclusão do movimento de 90, que, – combatendo a forma, veio a acabar
no culto material da forma, apenas com o aumento de vocabulário e de
nova técnica. Ela é a reacção intencional e subjectiva do artista contra
a materialização da poesia contemporânea. O seu Náufrago procura
a tábua de salvação; mas erradamente a encontra num ideal social, para
onde transitou pela ponte-de-fronteiras do Encoberto. Esse ideal
social não corresponde a uma nítida percepção do movimento, adiante
estudado, do universalismo, mas a conclusões meramente cerebrais que não
chegaram a tomar consciência no poeta. Demorado na primitiva orientação,
Lopes Vieira teria talvez encontrado o filão que o seu espírito
procurava sem o saber; e achando-o, ele marcharia então cônscio de si,
não para a socialização compassiva das coisas, mas para o aspecto
unitário do mundo observado em conjunto, a um grande sopro humano e
universal.
Cabe portanto a Manuel da Silva-Gaio a primazia do movimento
lusitanista, só concretizado e exteriorizado na actual geração
literária, onde constitui uma das modalidades mais características, e
uma das três faces do prisma evolutivo que a domina.
A absorção pessoal na arte, representada na obra de Eugénio de Castro,
(à qual, pela sua vastidão e complexidade, e mais por estar longe do meu
assunto, não me posso entregar por agora) alarga-se naturalmente para
este campo mais vasto, por via de causas anteriormente apontadas.
A tradição garrettiana que a actual geração procura reatar, preparando o
advento do universalismo, foi cortada pelo subjectivismo dos
ultra-românticos e pelos sequazes do ideal de Comte, subitamente
implantado, estabelecendo uma solução de continuidade entre o ideal
nacional, ainda não concretizado em obras de arte, e um ideal universal,
apoiado em bases científicas e filosóficas. Isto tornar-se-á claro num
exemplo: a intuição genial da obra de Teófilo Braga reside
verdadeiramente na História da Literatura, da Alma portuguesa,
nas Tradições Populares, e não na larga idealização da Visão
dos Tempos. Teófilo, sendo a consciência da sua época, reflectiu as
suas aspirações nos primeiros trabalhos referidos, e antecipou o seu
poema, que apenas ficara sendo uma tentativa falhada
/ 205 /
da Epopeia da Humanidade, ao lado da Legende des Siècles,
que é menos vasta, e representa o degrau duma idealização onde Teófilo
está em lugar de mais vasto horizonte.
Enquanto a tradição nacional se reata claramente surgem em torno dela,
justificando-a, curiosos aspectos, como o regionalista, representado
pela Musa alentejana do Conde de Monsaraz, onde a paisagem do
Alentejo, os seus costumes, as suas crenças e os seus tipos, surgem
claramente numa vasta observação da terra; podendo ainda ajuntar, como
documentação, os artigos dispersos de João Correia de Oliveira, em que a
psicologia regional, estudada na alma da paisagem, revive integralmente
a nossos olhos.
 O
universalismo, ou emotivismo filosófico, como numa alta consciência do
movimento o denomina Manuel da Silva-Gaio, projecta o âmbito do
pensamento nacional, apelando para uma acção geral e unitária. Nasce do
próprio movimento nacional, alargado por via de emoções, que tomam
exteriorização vária, e adquirem forma externa cobrindo-se com as
modernas conclusões científicas e filosóficas. O
universalismo, ou emotivismo filosófico, como numa alta consciência do
movimento o denomina Manuel da Silva-Gaio, projecta o âmbito do
pensamento nacional, apelando para uma acção geral e unitária. Nasce do
próprio movimento nacional, alargado por via de emoções, que tomam
exteriorização vária, e adquirem forma externa cobrindo-se com as
modernas conclusões científicas e filosóficas.
Ainda Manuel da Silva-Gaio foi entre nós o precursor do movimento, – e
neste ponto só o precursor –, criando os poemas O Mundo vive de
ilusão, Dom João, Envelhecendo e Nossa Senhora dos
agoiros, dominados por uma aspiração tendenciosamente negativa, e só
atingindo plenamente o ideal construtivo no desvio de curva para a sua
obra de romance, cujo ponto transitório ficará marcado com o
Torturados, que me apresso a anunciar para breves dias.
Esta concepção universal, assente em bases científicas, modificou a
crença religiosa numa crença intelectual, geralmente exteriorizada num
panteísmo em que o poeta observa o universo através da sua concepção, se
liga directamente com ele reflectindo-o e integrando-o em si mesmo.
Tal é a síntese psicológica da evolução de António Correia de Oliveira,
claramente exposta nas Tentações de São Frei Gil, e atingindo um
total poder de exteriorização no Elogio dos Sentidos. A evolução
deste poeta é o caminho aberto para a solução momentânea do problema
estético, que em Portugal tem tomado tais características que eu
desejaria que aqueles que lá fora se ficaram estacionados e quedos
atendessem ao modo como as ideias vão dominando a nossa poesia,
alicerçadas no fundo da raça.
Teixeira de Pascoais eleva de todos os seus livros um ideal amplamente
unitário, condensado em poesia, através da nacional e territorial emoção
alargada subjectivamente.
A obra destes dois poetas tem tido um alcance tão vasto e precursor na
poesia portuguesa que necessita um estudo separado, em que as
modalidades de ambos apareçam claramente diferenciadas.
Antes de entrar propriamente no assunto que pretendo documentar – o
neo-lusitanismo – resta-me falar duma efémera corrente de gabinete,
postiça e regular como o sistema métrico-decimal, que baldadamente
procurou atingir com o naturismo a solução do problema estético.
O naturismo, segundo o programa de Saint-Georges de Bouhélier,
propunha-se combater o simbolismo, «e o seu subjectivismo doentio e
estéril», rejeitar o «espiritualismo nebuloso», «erguer os espíritos
para a Vida, e para Zola, o grande coração
/ 206 /
que pulsa pela Vida». Conforme o testemunho da própria “Revue naturiste”,
os naturistas preferem a acção ao pensamento, o seu papel consiste na
educação superior do povo já como processos, despem-se de todos os
existentes para só se deixarem levar pela contemplação da natureza e do
mundo.
É fácil de ver que este ideal, espalhado no Brasil muito antes de
conhecido em Portugal, nasceu do fanatismo do seu iniciador pela obra de
Zola. Nem ele, nem os seus sequazes, nem os seus introdutores, tinham a
noção do renovamento literário. Tanto, que por postiço e arbitrário, ele
simplesmente produziu obras medíocres; e os seus poetas há muito que não
dão sinal de si, à espera talvez de melhor e mais clara orientação. Não
foi mais que um dos mil sistemas propostos para fechar a lacuna
idealista. Entre um e outro há a diferença de que o movimento
neo-lusitanista não resulta da absorção na pátria, mas da consciência do
verdadeiro fundo renovador duma literatura. Para exemplo: é geralmente
sabido, pelos que lêem a sua obra, que para Carducci a Itália era uma
pessoa, objecto dum culto devotado do poeta, que deu o pessoalismo
à sua obra; enquanto que D'Anunzzio localiza as suas tragédias no fundo
étnico e tradicional da pátria, como processo de fazer reviver a sua
poesia. Ainda a diferença reside no claro conhecimento que este
romancista possui da estética wagneriana, enquanto Carduci foi sempre o
literato que se adaptou à corrente dominante, numa incerteza evidente da
função da arte e do seu valor, e dela só tirando o aspecto literário.
Tal a razão da vida efémera do naturismo, breve substituída pela
completa e sistemática orientação nacionalista, alargada ao depois no
emotivismo filosófico.
As teorias artísticas de Wagner, que representam o maior esforço para a
arte social, são em Portugal quase totalmente ignoradas. Creio que foi o
ilustre crítico de arte António Arroio o primeiro que buscou
propagá-las, aplicando a sua estética num livro notável sobre Soares
dos Reis e Teixeira Lopes. Entretanto, na França sucede
precisamente o mesmo; e o culto que leva anualmente centenas de devotos
a Beyreut pouco tem produzido de sério quanto ao claro conhecimento
geral das doutrinas de Wagner. Interpretando-o à letra, ergueram-lhe
altares os simbolistas e decadistas; e creio que daqui provém a relativa
desconfiança que ainda hoje os franceses têm pela obra colossal do
mestre de Beyreut.
As suas doutrinas são a fonte clara e cristalina onde irão beber aqueles
que forem tomando para si a consciência do significado da arte.
Wagner é um mestre extraordinariamente grande para fazer a iniciação de
todos os que sentem e que em si têm latente um sonho de arte humano e
uno. A todos ensina que a arte vive na própria vida, e que nela cada um
a saberá achar; basta para isso viver a vida completamente.
*
Todos os movimentos de reacção nacional surgem naturalmente em épocas de
decadência. É assim que se desenvolvem simultâneas manifestações do
mesmo ideal estético, sem directa relação inicial entre si, mas provindo
no fundo de causas idênticas, e incorporando-se mais tarde no mesmo
movimento. Fora do âmbito da poesia, que propositadamente guardo para o
fim, – e nesta geração a que chamo nova – encontra-se a mesma razão de
ser do neo-Iusitanismo nas obras do arquitecto Raul Lino, do pintor José
Campas, e do músico Antero da Veiga.
Tentando em justo critério a estilização nacional, Raul Lino foi
tendencialmente levado a encarar o problema sob o duplo aspecto
histórico e natural. Historicamente achou-se concluindo que o tipo mais
definido, o que mais poderia inspirar uma renovação estética, e que
melhor traduzia o cunho português – por ser de plena manifestação
nacional – era a casa portuguesa dos séculos XVI e XVII. Naturalmente,
deu-se a um estudo de observação da paisagem portuguesa, nos detalhes de
província, onde a casa por seu turno iria ser um detalhe. Da
concordância do primeiro trabalho com o segundo resultaram os seus
projectos de casa moderna, que constituem a mais sólida tentativa da
habitação portuguesa, e a obra mais notável que nesse sentido se
empreende agora entre nós.
Raul Lino procura a harmonia da casa
/ 207 /
e da paisagem como o mais seguro efeito de nacionalizar a habitação. Dos
projectos que lhe conheço, examinados aqui, em Coimbra, na Exposição do
Instituto, em Março de 1908, destaquei uma nota que me parece curiosa
para o processo artístico do arquitecto: as suas construções têm sempre
fundos retintamente locais e harmónicos com o projecto. Examinando-os,
sente-se a impressão de que a casa não destaca à paisagem, antes se
confunde nela: são velhos carvalhos, ciprestes esguios, ruínas, serras
que se aprumam, toda uma flora harmónica, rasgando-se sob as janelas
conforme o sítio escolhido para a construção. As suas casas, destinadas
para a vida de hoje, porque têm todo o cunho nacional, evocam-nos nos
detalhes, a que Raul Lino consagra especial cuidado, a nossa casa do
século XVI – onde o arquitecto as foi buscar –, tão serena e tão feita
para as nossas necessidades.
Falando de pintores portugueses, eu tenho que ceder o lugar de honra a
dois artistas, que enchem com o seu nome toda a pintura portuguesa de há
cinquenta anos para cá: Columbano e Silva Porto. Deixou-nos este nas
suas telas toda a face da paisagem portuguesa, animadamente viva e
sentida como só a poderia sentir um grande artista; e em Columbano, num
paralelo a Porto, há todo o vinco da alma nacional, fazendo-nos reviver
em cada um dos seus retratos, o garbo e o aprumo, a melancolia e a
contemplação do português, ao sopro espiritual e fundo dum artista
genial.
E já que falei dos grandes mestres, justo é que me refira aos que
começam, e que na nova geração representam a tendência do meu estudo.
O pintor José Campas, contrariamente a Raul Lino, segue um processo
espontâneo, ferindo de exclusivo aspectos portugueses; buscados ora na
paisagem, na escolha dos detalhes focados, ora nos tipos que completam
os seus quadros, ora nos costumes, ora nos próprios monumentos que
conseguem acordar no seu espírito alguma coisa de português, por algum
lado real o lendário que os ligasse à terra. Conheço-lhe um campo
coberto de malmequeres, onde a impressão da cor domina por completo, com
recortes da máxima variedade, só perceptíveis por uma retina muito
sensível à paisagem portuguesa, e que intencionalmente buscasse esse
efeito.
Exemplifica ainda a minha afirmação o Convento Velho de Santa Clara,
onde o templo de D. Dinis, lentamente afundado nas areias do rio, toma
toda a cor do sítio, recortando-se no fundo da paisagem de Coimbra; e as
Lavadeiras do Mondego, são-me também um claro exemplo,
apresentando o artista no estudo de tipos surpreendidos em detalhes
locais, com traços criados e herdados na alegria da cidade, à sombra
antiga de Minerva... Um poente de Coimbra que lhe vi seria fantástico
para toda a gente que não sentisse a sua paisagem delicadamente
harmónica, à tarde, quando o firmamento entorna sobre ela e sobre o rio
manchas rubras de fogo.
Agora, que a maioria dos pintores se lança exclusivamente por motivos
ideais, este artista, tão claramente português, refugia-se na nossa
paisagem, sentindo-a nitidamente e trasladando-a, como coisa sua, para
os quadros que trabalha.
A obra de Antero da Veiga é talvez a menos conhecida das que me servem
de exemplo para documentar o neo-lusitanismo, porque precisamente é a
que menos publicidade pode ter, visto residir na personalidade do
próprio autor e no carinho com que
/ 208 /
amoravelmente a tem construído. O guitarrista Antero da Veiga está
fazendo dentro da música portuguesa, tão descurada, uma revolução
completa.

Dedicando-se absolutamente ao cultivo do cancioneiro nacional, Antero da
Veiga busca restituí-lo aos moldes primitivos, dando-lhe forma pessoal,
estudando as canções nas primitivas formas, artistizadas no tempo por
compositores que as caldearam com trechos de ópera e música barata. As
modas velhas da Beira, acompanhadas ao adufe por descantadas e
romarias, perdidas no povo, onde o artista as tem ido procurar,
reconstituindo-as conscienciosamente, têm-lhe sido objecto dum culto
devotado. E o cancioneiro musical do seu país tem sido a fonte
inexaurível onde Antero da Veiga tem ido buscar o molde e a inspiração,
que depois vai enquadrar em tipos de canções. A Canção da Fiandeira
é um notável espécime de quanto pode o estudo aturado das formas
populares e do local da colheita. No Fado em ré maior, onde o
cancioneiro foi moldado no ritmo e na quadratura do fado, há toda a
alegria esfusiante e larga das romarias da sua Beira.
E impossibilitado de ir mais longe, em artigo de mera documentação
geral, aqui deixo ficar a promessa dum melhor estudo sobre a sua obra
complexa, limitando-me a notar que perante um trabalho de tão largo
fôlego, anteriormente realizado na literatura, só há a lastimar a pouca
publicidade deste raro artista e o seu quase geral desconhecimento; e
seria para agradecer uma edição integral das suas obras, como motivos de
estudo para a música portuguesa, – tão tresmalhada e perdida como ela
anda.
E fixada a razão de ser do movimento que anima simultaneamente todas as
manifestações artísticas, regresso da digressão ao meu ponto de partida,
escolhendo para estudo do neo-Iusitanismo, o poeta António de Monforte,
como aquele que melhor o encarnou e dele teve mais claro entendimento.
António de Monforte, num elevado sentimento nacional, procura
reconstituir o fundo psicológico da raça, buscando-o em motivos
históricos, detalhes de paisagem, um costume antigo que enche uma
evocação; e em cada um deles separadamente, vê, numa vasta projecção
visual, toda a psicologia do povo português.
Cantam pessoas graves, de idade,
de alguns atalhos lendas funestas;
– ladrões que a tiro matam um frade,
e em postas lhe abrem sem caridade
o corpo magro, sobre as giestas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
/
209 /
. . . . . . . . . . . . . . em tempos
maus a justiça
lento cortejo d'alva seguia;
a forca o negro vulto espreguiça,
ouve-se a queixa grave e mortiça
dos salmos próprios só da agonia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
O titulo do seu livro, em vias de publicação, – Tronco reverdecido,
claramente o indica. Do velho tronco lusitano, esquecido e envelhecido,
cuida ver, numa primavera de hoje, despontar novas rancas, cheiinhas de
seiva, como um caule antigo, perdido numa encosta, que soltasse um ramo
novo e forte, enchendo-a de vida e sombra.
O seu primeiro soneto:
Pórtico
Era uma ver um tronco exausto em
guerra
com a braveza adusta do montado,
que p'ra vingar no estéril chão que o
encerra
anos sem tacto tinha ali teimado.
Vencida a condição ruim da terra,
mal a raiz em torno achara agrado,
logo por entre estevas mais se aferra
no campo que ela sente já domado.
Vergôntea humilde, agora alfim
erguida,
viu-se a poder de tempos quase seca,
depois de quanto esforço fez p'la
vida.
Mas só de se alembrar que fora um dia
o enternecido exemplo da charneca,
de novo a seiva aos braços lhe acudia.
Na Fala do Poeta, o poeta dirige-se à terra; e como o Anteu da
fábula na luta com Júpiter, que ao contacto com a terra tirava toda a
força, assim comunicando com ela, lhe arranca toda a seiva que
enche o seu livro. N'O Arauto, – o arauto, em grande
cerimonial antigo, no ritual do velho estilo, lança o seu pregão, em
gesto largo, na confiança de si mesmo; e vai dizendo:
Ouvi-o todos vós, raça de heróis,
e da íntima ousadia que inda sois,
largai frotas de novo à roxa aurora.
Talvez que a pobre pátria agonizante,
revendo-se entre as águas do Levante
ressurja em si o Portugal de outrora.

Vejamos agora o seu mecanismo psicológico, surpreendido em páginas desse
livro.
/ 210 /
António de Monforte começa pela visão de aspectos históricos externos,
que incarna e procura viver, tirando daí a emoção, (Noite de Tanger,
Ormuz). A impressão é ainda reflectida do exterior; e é essa
impressão, projectada do exterior, que acorda no mundo interior o
sentimento da raça, indefinidamente manifestado numa vaga aspiração (Triste
fado). Esse sentimento vago vai-se definindo, particularizando-se na
observação regional, como no soneto Amor da terra, que é antes
uma conclusão do anteriormente citado. Tal estado de espírito observa-se
curiosamente na poesia Natal, – característica nota do lar, mais
que português – regional, a que o poeta aspira, onde possa trabalhar na
paz da família, enquanto os filhos crescem e a terra frutifica na
colheita de cada ano. Um lar simples, com um parreiral à porta, uma nora
que geme pelas tardes de Junho, e a água correndo na faina da rega...
Nesta poesia vai o poeta vivendo o seu sonho, na paz dos seus, junto ao
fogão, na noite tradicional do Natal, enquanto a chuva, caindo lá fora,
lhe vai acordando a ânsia de realizar a sua aspiração:
Maré de sonho, se ela espraia a vaga,
de ópio mortal me inunda as tristes
veias...
Dentro do aspecto regionalista há o aspecto externo ou visual (Terra
do Sul, Canícula), e o aspecto interno ou emotivo (Amor da terra,
Caminhos velhos).
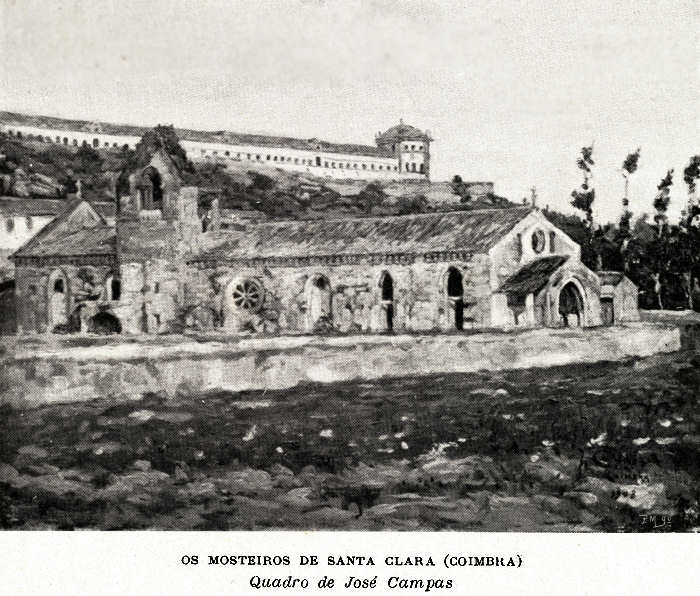
O solo, a preocupação da terra, é para o poeta a síntese da ideia
nacional. No soneto Aos Mortos d'Olivença, a piedade do poeta, no
cortejo das suas visões, fala àqueles portugueses de outrora, que
descansam em terra que já foi nossa, sob as lajes sombrias onde outra
gente caminha:
E se no seio a pátria abriu rendida
final repouso à vossa humana lida,
depois de quantos feitos de epopeia,
quando chegar o grande julgamento
e der de novo a alma ao corpo alento,
acordareis com pasmo em terra alheia.
/ 211 /
Todas as poesias, que se bordam em torno da ânsia geral da vida sobre
aspectos regionais, conduzem-no a conclusões mais largas nas poesias
Às Virgens, Elegia das Estéreis, Águas-correntes; é
por meio da paisagem nacional, que o poeta sente (Piteiras, Sagrada
Paixão), humanizando-a, que dilata os seus horizontes, tornando-os
mais vastos, e abrindo-os para concepções universais.
António de Monforte, – que no prólogo do livro parte da reconstituição
saudosa do seu lar de infância –, lança o último brado num apelo para a
Acção e para a Unidade, onde a dispersão egoísta só viva na lembrança
para tirar dela toda a seiva e todo o vigor duma nova floração.
Manifestada na última parte do livro o alargamento desta claríssima e
profunda concepção literária, elevada ao máximo neste claro poeta,
seja-me dado concluir que no seu novo poema em preparação – Juízo
Final – a aspiração messiânica da raça se definira sobre um aspecto
totalmente novo, sofrendo uma tendência universalista, – como mais larga
expansão do tronco que se ramificou e quer abranger toda a floresta.
*
Tal é a síntese crítica do neo-Iusitanismo, base conscienciosa e
precursiva da emoção unitária e universal, que se observa numa linha
evolutiva, e que a actual geração entrou a definir, dando à arte os
aspectos belos da vida, e à ciência os ritmos da arte.
A semente começa a lançar raízes: é a primavera sagrada que se agita.
VEIGA SIMÕES
|