Sempre que abordo um tema de
paisagem topo, de frente, com a impossibilidade de ultrapassar a
repugnância de a despovoar e de a dar, apenas, fisicamente,
destituindo-a de antroposfera que a envolve e a modela, que a
anima e transfigura.
E, ao mesmo tempo, não me agrada
tentar transmitir um panorama povoado de figuras inertes como
bonecos de barro colocados num presépio, a subirem por estradas de
serradura, pastoreando rebanhos de loiça, ou navegando em lagos de
papel estranho.
|

A ré do moliceiro com as suas
figurinhas maliciosas. |
Apraz-me ver a Geografia a
procurar dominar o homem e o homem a lutar para vencer a
geografia; gosto de procurar a impressão digital humana num campo
de cultura amorosamente riscado e trabalhado com requintes de
jardinagem, ou nas velas de um moinho que mói, infinitamente, o
grão, alcandorado no cimo de um outeiro, como uma sentinela, e na
margem afeiçoada de um canal que rompe, corajosamente, pelo meio
da secura; preciso, insofridamente, de vislumbrar nos longes a
mancha viva do casario, ou o caminho que se esfalfa pela montanha
acima, ocupando, «improdutivamente», o solo.
|
Estes sinais que me põem diante
dos olhos a escrita que exprime a luta da antroposfera, quer
modelando a dureza pertinaz da litosfera, quer subjugando os
ímpetos de hidrosfera, não me regalam, apenas, o sensório com a
gulodice das cores e dos volumes e, ao contrário, põem em vibração
toda a minha condição humana, desde os domínios da fogueira
afectiva, até a zona mais gelada do glaciar racional.
Aos resultados desta luta do homem
com o mundo físico envolvente chamou Leoncio de Urabayen
«precipitados geográficos», importando da química nomenclatura
para designar os produtos da reacção homem-geografia que
insculturaram a superfície da ecúmena de um alfabeto rico de
simbolismo e de uma pictografia perene de sentido estético.
Pois são esses «precipitados
geográficos» o que numa paisagem serve de estímulo para me
solicitar a pupila hiante da atenção e me fornece a lenha da
quentura emotiva.
Se é certo que a paisagem
geográfica, direi melhor, o suporte geográfico, pode, em grande
parte, explicar a gente que o pisa com passos concretos e
dolorosos, é certo, também, que não é passivamente que o
bicho-homem aceita a condenação de lhe obedecer e de lhe acatar o
determinismo que ele pretende impor-lhe, imperativamente.
Sem dúvida que o meio físico lhe
condiciona a mão e a inventiva, despertando-lhe virtualidades
soterradas e acordando-lhe o engenho sonolento; mas não deixa de
ser certo, também, que não encontra sempre no homem a
disponibilidade, dócil e servil, que aceite o achatamento; e, ao
contrário, a maior parte das vezes, provoca nele uma viva reacção
expressa em fadiga e suor que o leva a arrotear caminhos que
pareciam intransponíveis, a desbravar selvas opressivas como
renques de baionetas e a dominar loucas torrentes que, mordendo o
freio, tudo arrasavam no caminho.
«Onde melhor se nota a influência
da terra sobre o homem é na influência do homem sobre a terra»,
escreveu um dia José de Ortega e Gasset, numa síntese lapidar do
problema, ao dissertar sobre a paisagem castelhana, tão desolada e
tão seca, tão desalentada e tão triste, e que, mesmo assim, não
foi capaz de siderar os movimentos do castelhano firme e pertinaz
que, acariciando-lhe o lombo e regando-a com suor conseguiu
dominá-la e vencê-la.
Realmente, o que o meio faz de
essencial é dar o estímulo desencadeante que há-de aguçar o
entendimento e temperar a energia para o homem dominar a natureza
onde ela lhe mostrar o cariz carrancudo, ou para lhe aproveitar o
afago onde ela se apresenta acetinada e material.
Claro está que o Gafanhão – ou o
avô do Gafanhão – quando se foi às lombas para as cultivar sabia
que ia investir contra vidro moído, totalmente carenciado de
matéria orgânica que desse qualquer quentura
/ 16 / ao berço de
uma planta. Ele bem via a mica a faiscar-lhe no lombo e bem sentia
o vento a transmutar-lhe, de momento a momento, o versátil.
Não foi a ela com a esperança do
filho que se achego ao colo maternal e ao seio opíparo que destila
o leite da humana ternura. Nado disso! Ao invés, investiu com ela
como enteado que não espera da madrasta a carícia rica de
promessas, nem a generosidade que dá o pão milagroso...

Batatais viçosos - «negros de verdes»,
no dizer dos gafanhões.
Quem surriba chão de areia não
encontra onde enterrar raízes de esperança e quem irriga duna
virgem sabe que mija numa peneira! Quem lança a semente num ventre
que é maninho não pode ter esperanças de fecundação. E, por isso,
o Gafanhão, antes de cultivar a lomba, teve de corrigir-lhe a
esterilidade servindo-se do Rio que lhe passa à ilharga,
procurando nela a nata com que amamentou a semente que deixou
cair, amorosamente, naquele chão danado. E humanizou a duna...
O mesmo, ou semelhante, fez o
marnoto: foi-se à água informe, desordenada e caótico, e
domesticou-a, enjaulando-a em tabuleiros que mais parecem
brinquedos de menino. E, a água, no seu cativeiro, sob o sol
escaldante e bafejada pelo nordeste, começou a evaporar-se e a
deixar o Iodo, que lhe servia de leito, coberto de cristais
coruscantes.
Quer a britar xistos e a fazer
socalcos nas serras do Alto Douro para plantar bacelo, quer a
engordar areias, aqui, à beira-mar, o drama é sempre o mesmo e
gerado pelas mesmas causas.
E boas razões tinha o espanhol –
como o espanhol bem tatuado pela dureza deste combate –, que se
chamou José de Ortega e Gasset, para ler, como num livro aberto, o
efeito da natureza sobre o homem nos efeitos da pertinácia do
homem sobre a Natureza...
A paisagem que nos cerca é macia e
acetinada. Um não sei quê de aguarela almofada a retina de um
sossego repousante e calmo e, por muito que se trepe no relevo do
distrito até ao cume dos montes, avista-se sempre uma nesga de
água de superfície serena e polida a refrescar o conjunto de paz e
de lirismo...
A visão sincrética, por vezes, dá
uma fanfarra cheia de estridências metálicas onde o sol dardeja e
se multiplica. Mas analisadas as gradações, soletrado o panorama
no seu alfabeto constitutivo, logo se ameniza a estridência com
sons magoados de oboé, da fruta e de ocarina, que regalam o
sensório de um banho lustral de inocência.
O nosso panorama não tem, de um
modo geral, funduras que dobrem os homens sobre si mesmo,
introvertendo-os em densas meditações metafísicas catadoras de
essências soterradas e, ao contrário, é estimulante para uma
actividade extrovertida e confiante, comunicativa e grácil.
Os montes debruam-no, de longe,
sem lhe confinar a visão; e não existem abismos de vale onde o
homem se sinta esmagado por muralhas de pedra que o insulem numa
soledade propícia a silolóquios intermináveis.
A Ria entende-se em canais, em
esteiros, em valas, em fiozinhos de água, dividindo-se e
subdividindo-se até ao capilar, entrando pela terra dentro,
recortando-a e irrigando-a de água salgada, ou, pelo menos,
salobra, e que se vai adocicando à medida que foge do mar e se
estende, por aí fora, a servir de espelho a uma lavoura anfíbia
que lança a semente ao chão e penteia o fundo lodoso das cales,
que surriba terra até sentir os pés encharcados e pesca pimpões
nas valas intercalares nos fugidios momentos de lazer.
Os longes de água são emoldurados
por um debrum delgadinho – topo de planície raso povoada de casas
alapadas – e tem-se a sugestão de que a terra se envergonha e se
humilha perante a imensidade da laguna, esfumando-se e diluindo-se
no horizonte de encontro ao perfil violeta dos montes das
distância...
/ 17 / Em certas manhãs, doiradas pelo
sol nascente, a Ria parece toda um espelho onde, apenas, um trémulo
de evaporação – ténue e vibrátil – põe um vestígio de movimento
ritmado.
E, então, os malhadais, os montes de
sal, os palheiros exíguos e pintados a zarcão, duplicam-se,
invertidos, nas águas quietas onde, de vez em quando, uma gaivota,
maleabilíssima e ágil, raspa uma tangente quase imperceptível.
As pálpebras cerram-se sobre a
pupila magoada por esta duplicação da luz que se remira no espelho
da água e, no silêncio inundado de sol, o chap chap de uns remos, ou
o golpe da ponta de uma vara que empurram o barco que desliza, põem
uma nota fugidia de onomatopeia.
Um homem de músculos
individualizados – como num quadro mural de anatomia – corre sobre a
borda de uma bateira mercantel como se andasse sobre o asfalto de
uma avenida. Visto de longe, recortado na luz diáfana da manhã que
lhe aviva as linhas e delimita os contornos, não sabe a gente se tem
na frente um ginasta, se um bailarino. Os pés parece que não pisam e
os movimentos de vaivém, desembaraçados e leves, semelham passos
coreográficos.
|
Com a vara fincada no ombro, a
empurrar, inclinado em ângulo muito agudo sobre a borda, os músculos
retesam-se, fazendo proeminência e o suor cobre-lhe a pele de um
verniz que brilha e corusca, enquanto o barco negro escorrega,
sereno, sobre a superfície de aço polido.
O moliceiro! Deixemos-lhe lá a
origem para os catadores de raízes; entreguemos-lhe a árvore
genealógica aos pesquisadores de impossíveis e fixemos os olhos no
seu perfil de agora, presente sobre o alçado da nossa visão, a
bolinar quase contra o vento, todo empertigado na sua proa
policromada de ornatos e figurinhas polvilhadas de ironia e de
malícia, a ilustrar textos ingénuos salpicados de harmoniosos erros
de ortografia.
|

A proa polvilhada de ornatos e
figurinhas. |
Deslizam na água, vaidosos e
vibrantes, com os ancinhos descomunais a arrastar, com a borda
rasando o lume de água, sob o peso do moliço de um verde fresco e
intenso, a vela a panear tacada pela aragem levezinha, quando viram
de rumo para novo bordo.
Homens da terra a pentear o leito da
laguna para fertilizar as dunas – vidro moído ainda há poucos anos
estéril, ainda há poucos anos maninha – terra que parecia gafada, a
terra da Gafanha!
Foi o moliço ou foi o suor humano
que fecundou as areias picotadas de mica brilhante? Foi o Iodo, a
Ria ou a fadiga dos homens que realizou o milagre que, agora,
reverdesce sobre o nosso olhar, nos batatais viçosos («negros de
verdes», dizem os gafanhões), e nos feijoais delicados como placas
de jardim?
Onde vai a flora cinzenta como
quaresmas e o juncal agressivo como coroa de espinhos, que
entristeciam os olhos e agrediam a epiderme? Quem fez o milagre?
Foi o labrego que, posto o pé na
tosta, se fez marinheiro de águas mansas, mareante de lagoa
/ 18 /
adormecida, e aproveitou o Nilo fecundante da laguna para emprenhar
o ventre da terra arenosa que parecia excomungado e que, afinal,
tinha humidade e quentura para fazer germinar a semente humilde e
seca que lhe lançaram no dorso.
Algas e peixe podre para enterrar,
Iodo para impermeabilizar o fundo da regadeira, e aí está a
comedoria que serviu de mantença ao milagre das Gafanhas – tapetes
infinitos de verdura, alfobres de pão para a fome dos homens e de
bandeiras floridas para voracidade dos bois ruminar nos invernos
desolados...
Com enxadões desmedidos fazem
surribas que vão ao centro da Terra! Nasce-lhe água sob os pés
descalços, água salobra que pode meter medo à puerícia da novidade
mas que, no final de contas, a acaricia com desvelos de ama de
leite. E, só depois, é que vem a tarefa de incorporar, na terra
remexida até ao tutano, o moliço que, com o suor adstringente do
rosto, arrancam do fundo gordo dos canais e deixam ficar no areal da
borda, durante o tempo necessário para lhe corrigir o tempero
excessivo.
Vejo-os, como brinquedos, os
moliceiros, a flutuar à flor das marolas, ou, preguiçosos, sobre o
espelho das águas, e sinto o drama da terra faminta de matéria
orgânica a escancarar a bocarra num esgar hiante para o trabalho
duro destes homens obstinados que nunca desanimaram ante a negativa
hostil da duna que, na sua nudez desoladora, nada prometia em troca.
A humanização da paisagem de Aveiro
sugere qualquer coisa de actividade lúdica, de esforço manobrado
pela mão da inocência criadora da infância que se compraz em regalar
os olhos com o produto da sua energia. O pragmatismo, aqui, surge
corroborado por uma moldura doirada de beleza e aconchegado pelo
calor de uma visão que amacia o sensório.
O cagaréu foi-se à água informe e
desordenada e domesticou-a dentro de rectângulos de uma esquadria
rigorosa, realizando uma paisagem geométrica com murinhos pueris de
Iodo que parecem riscados a régua e esquadro.
É a humanização geográfica mais
epidérmica que conheço e, consequentemente, a mais frágil e
vulnerável.
Em cada ano estes marnotos-geómetros
têm de refazer tudo desde o princípio: a água tem de ser novamente
domada nos seus ímpetos arrasantes e contida no viveiro para ser,
depois, usada por conta-gotas e, com ela, formar camadinhas de
espelho que estende pela planície fora... Ali se armazena a água e
começa a condensar-se para a via sacra que tem de percorrer: algibé,
caldeiras, sobre-cabeceiras, talhas, cabeceiras, meios de cima...
É um penoso calvário em que cada
dolorosa etapa foi baptizada e tem o seu chamadoiro: o marnoto sua a
fralda da camisa a estranger os meios à força de ugalho,
a almanjarrar a lama que o inverno depositou, a bimbar
os travessões, a apancar as próprias pegadas, a curar o leito
dos tabuleiros, à força de círcio... É um nunca acabar de fadiga até
à festiva botadela do sal... Mas por fim, quando a marinha
começa a produzir, quando o sal cintila e o codejo crepita,
estendem-se os olhos e é um nunca acabar de espelhos que faíscam
lume e endurecem numa cristalização almofadada de brancura. E, em
dado momento, montes de neve alvíssima começam a crescer, a
recortar-se sobre o azul e a repercutir-se na água lisa, como seda,
a sua imagem imaculada.
Só a fita estreita do malhadal
separa os dois cones unidos pela base – o que, concreto, se eleva
para o céu e o que, reflectido, se mergulha na água que o recebe
depois de o ter dado.
Um não sei quê de estranho se
descobre nesta paisagem de sonho que corusca, emitindo fogachos
doirados para uma atmosfera clara e inundada de luz.

Tapetes infinitos de verdura, alfobres
de pão.
De noite, quando a lua-cheia vem
cobrir tudo de alumínio com a sua luminosidade fria, abre-se, em
frente dos nossos olhos, um panorama surrealista
/ 19 / – visão onírica onde se não cata um vulto, nem um fantasma, e onde, apenas,
algum maçarico noctívago abre o bico numa queixa desolada de mágoa.
Uma névoa translúcida tremula a esfumar a nitidez como um vidro
despolido que oxida a prata do luar; e a água parece dormir, tão
branda e macia é a sua respiração. Só, de tempos a tempos, se ouve
um suspiro mais fundo, quando qualquer peixito tresnoitado risca a
camadinha ténue de um tabuleiro com o seu perfil incisivo e nervoso.
Mas um clarim estridente vibra na
madrugada de luz indecisa que luta com a cinza envolvente, quando o
sol surge na linha do horizonte, vermelho e pagão, a tingir a cor
macilenta da ante-manhã com o escorrer dos seus lampejos de rubi.
Como uma donzela violada, a paisagem
aquática estende a luz, descarada e crua, a sua nudez recatada e o
nocturno, lírico e pudico, é despertado e sacudido pelos sons da
fanfarra que lhe arranca das cordas a surdina discreta.
Toda a Ria desperta e se povoa de
barcos e de vozes. Pelos esteiros rangem as remadas nos
escalamões enquanto os vertedoiros botam fora a água das
cavernas, chap que chap, a salpicar o polido da laguna.
Afadiga-se a lavoura marginal sobre
os caules acariciando as folhas, a cuidar das plantinhas de mama, ou
a catar os indícios da novidade; os marnotos reiniciam a faina e
esperam, a pé firme, a torreira que, daí a pouco, lhes vai cair em
cima, inexoravelmente, com o nordeste que abre sobre os meios a boca
de uma fornalha incandescente, cobrindo de uma viscosidade de
unguento as expressões dolorosas destes homens que correm,
afadigados, sobre os murinhos inverosímeis, em prodígios de
equilíbrio.
Quando vem o Outono toda a brancura
se cobre de burel, engaboando-se de bajunça, e a paisagem toma um ar
franciscano de penitência. Um banho de cinza tolda o azul de
melancolia e o vento sul encrespa a água de marolas que lhe dão uma
cor de zinco, que roem o torrão dos malhadais e arroteiam os muros
delgadinhos de lama.
A faina parou, petrificada pelo frio
que vem encanado pela boca da barra e enregelou os gestos num
espasmo.
Certo é que, se as nuvens
enfarruscadas que tapam o céu adregam de abrir um vitral, um banho
quente de luz e de púrpura derrama sobre a nudez aquática uma paleta
opípara de cor e a própria estamenha que veste as mulas de
sal escorre oiro rutilante sobre a flor da mareta.
A água! Sem ela a paisagem torna-se
mais pobre e mais triste!
É a sua frescura que, pela regadeira
fora, animada de movimentos vermiformes, vai molhar o pé do milho
que floresce na sua bandeira e engorgita a espiga bordada de ruivo;
é ela que, pela caneja de três tábuas vai animar a roda da azenha
que move a atafona ao mesmo tempo que deixa, a vibrar na verdura, o
som magoado e lírico da frauta do pastor; é ela que,
/ 20 / rompendo
pela secura, almofada o fundo do barco que singra na sua superfície
de prata; é ela que, domada e amestrada pela mão de ferro da
técnica, serve de fonte de energia, como serviu de fonte de beber; e
é ela, ainda, que, quando se exaspera arrasta na sua frente a cabana
e o rebanho, as culturas rasteiras e as árvores gigantes.
De água são algumas das coordenadas
da História e dão pelos nomes de Nilo, de Tigre e de Eufrates, de
Tibre e de Jordão; o Nilo a cobrir de nata os campos do Delta e a
chocar a civilização; o Tigre e o Eufrates a estimularem o engenho
do homem que com eles irrigou os campos de cardos da Mesopotâmia; o
Tibre a servir de espelho ao narcisismo da Roma Imperial; e o Jordão
a correr lá nas funduras da terra e a fornecer a água lustral com
que a concha de João baptizou o Cristo...

Os moliceiros deslizam na água, vaidosos
e vibrantes de côr.
Pelos tempos fora o homem foi
Narciso e a água espelho, o homem foi sede abrasadora e a água
refrigério, o homem foi semeador e a água ama de leite. E, não
contente com isso, foi sobre ela que instalou a palafita como é à
tona dela que hoje ancora a champana.
Os homens da região vivem na
paisagem. Dispondo de um chão pouco sólido para peanha, são fugidios
e esvaem-se como enguias. Tanto estão aqui como na Terra Nova, tanto
espairecem na malhada de Ílhavo como se insulam no bote, nos mares
da Groenlândia. Avenida ou convés é para eles a mesma coisa; cama
doméstica ou beliche exíguo, tanto faz, para conciliarem o sono bem
merecido.
E, no entanto, não há, suponho eu,
terra mais humanizada do que a nossa. Se cair do céu um alfinete, é
certo e sabido, que não cai em nenhuma brenha, nem em nenhum
chaparral. Vem, com certeza, cravar-se numa terra farta de pão, numa
vinha viçosa e pagã, numa salina caiada, se é que não vem direita a
um cortiço de gente – tão apegadas são as povoações umas às outras.
Como em camândulas de rezar sucedem-se, por exemplo, as Gafanhas:
Gafanha de Aquém, Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo, Gafanha
dos Caseiros, Gafanha da Vagueira, Gafanha da Boa-hora, Gafanha do
Areão..., etc.
Mesmo se a gente arranca daqui, da
beira-ria, e investe pela Bairrada dentro, o mesmo fenómeno ressalta
e se impõe.
Quem desce do Buçaco, que uns
humildes monges silvicultores transformaram, aos poucos, num paraíso
de verdura e de sombra e desemboca na terra bairradina onde os
«bairros» que lhe dão assento de baptismo e segregam vinho espesso
através das cepas alapadas e estorcidas que na vindima emprenham
cubas e tonéis com seus cestos opíparos de baga rica de sumo, aí
temos uma terra tão humanizada que não deixa uma nesga para nascer
uma urtiga ou para uma silva estender o braço, a dar amoras que
possam competir com as uvas.
As povoações sucedem-se em «lagarta»
ao longo das estradas – casas alapadas, vergadas sobre a terra,
/ 21
/ como se a planície desse a medida e o tipo da construção.
Só, muito acidentalmente, se cata
fachada solarenga com lavras de pedra patinada a impor respeito e a
dar tom de fidalguia. E, mesmo as igrejas, são, de um modo geral,
edifícios esparrinhados de cal branca, onde só se cata pedra nas
aduelas dos portais e das janelas e, essa mesma, constituída por
cantaria de calcário de Ançã, ainda em clorose de adolescência.
Uma vez por outra, a monocardia
uniformizada das aldeias é conspurcada, aqui e além, por construção
de estilo banqueiro a enodoar de mau gosto a humildade lavada do
casario que se alinha no topo dos vinhedos, ora desolados no inverno
que lhe deixa as ossadas a negrejar no meio da argila vermelha, ora
engalanadas da verdura mais incrível que os olhos podem topar,
quando a primavera lhe vem puxar pela seiva e arrancar-lhe
vergônteas da cepa corcovada.
Para o Sul, tão pegados estamos à
Gândara, que trincamos as camarinhas do Pinhal da Tocha que as
gandaresas vêm apregoar, com voz cristalina, pelas aldeias e vilas
humildes e, até, no coração do distrito onde, ainda, encontram
freguesia para o açafate onde o saco branco e grávido de pérolas,
ressuma frescura doce e macia.
Passamos a vila de Vagos logo começa
a cheirar à resina das matas gandaresas; e são patentes as
afinidades entre as populações, quer na indumentária discreta das
mulheres, quer nos métodos de lavoura e na eleição das culturas.
É uma extensa região de chão
arenoso, chata como um tabuleiro, onde, aqui e além, ondeia uma
lomba enfeitada de pinheiros, toda cultivada a milho cagão e a
feijão manteiga, ou a batatais viçosos e ramalhudos. Também aqui, a
gente não deixa palmo de terra por esgravatar. E, como formigueiros,
os povoados sucedem-se, alapados nas dunas enfarruscadas pelo
cultivo que, cobrindo-os de poeira, lhe comunicam um sombreado baço
de cinza. Um contraste dissonante se estabelece entre a verdura rica
dos campos e a estamenha monástica das aldeias onde o gandarês come
o caldo amargo da mantença e estende o corpo fatigado para o repouso
merecido, após um dia de lavoura encharcada de suor.
Esta humanização intensiva da
paisagem aveirense que não deixa, à grama, nesga de chão para
aflorar, tem, aqui e além, as suas barbas brancas de anciania – de
uma anciania que enterra, fundamente, as raízes na pré-história e na
história.
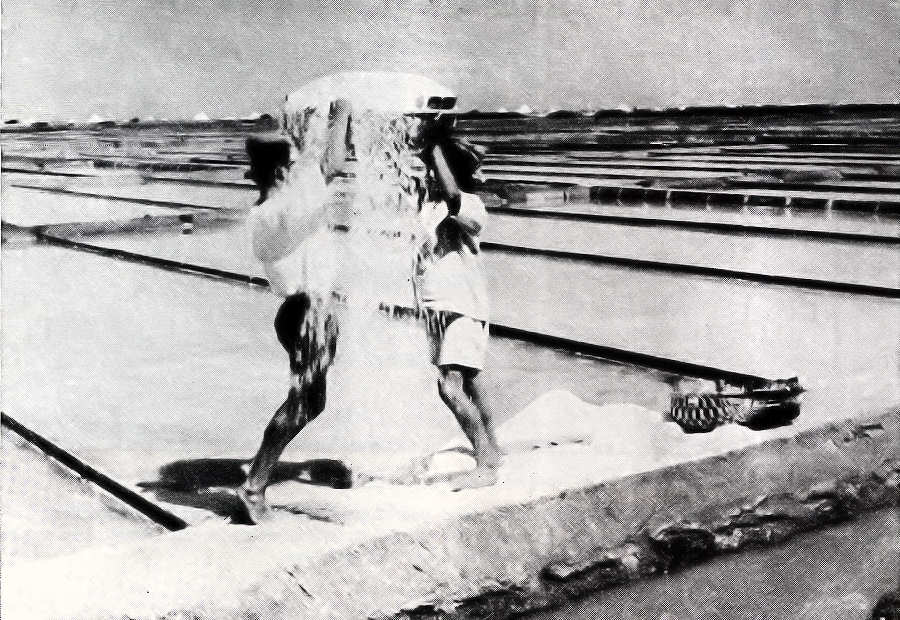
A faina do sal.
Mas, para catar esses indícios, para
desenterrar estas ascendências veneráveis, não há remédio senão
trepar a gente no relevo do distrito, guinando para o interior, à
procura de Antas e petroglifos na serra do Arestal, de motivos de
meditação histórica no Castelo da Feira ou no Convento de Arouca, e
a esgravatar, às mãos ambas, na terra gorda do Cabeço do Vouga, onde
já afloram vestígios bem capazes de dar alento às ganas insofridas
dos arqueólogos.
Mas, cá para baixo, se descermos até
à orla onde as ondas rendilham prodígios de espuma, para além do
Convento de Jesus e pouco mais, não há outro remédio, para sondar
alguma coisa, que não seja o de esfregar as córneas em leituras
paleográficas sobre papéis que vêm do tempo da Mumadona e dão a
certidão de idade da nossa paisagem actual.
Mas, quer os testemunhos concretos
que fazem saliência na crosta, quer os documentos que é preciso
passar a pente fino, depõem expressivamente e cheiram ao suor do
homem que investiu com os penedos da altura para os insculturar ou
afeiçoar e que amassou a lama para modelar salinas que esmaltam o
horizonte de brancura. |