|
A casa da Rua de São Marçal
começa a ser habitada pelos fantasmas a quem a avó dirige
«intermináveis perorações permeadas de obscenidades» (Ángel
Crespo). E um dia o caldo entorna-se, Dona Dionísia deixa-se de
intermitências e fica tão «fora de si» que a mãe de Fernando se
decide pelo seu internamento no asilo de Rilhafoles. Isto após
meses de uma compostura destrambelhada, com «a criança a
assistir». Supomos que Fernando aliviava esta crispação latente
recebendo umas cartas do seu amigo Chevalier de Pas. O episódio da
loucura da avó sulcou fundo em Fernando, que tomou para si o
sentimento da loucura como um destino tão funesto como inevitável,
o que acentua numa nota em inglês que Ángel Crespo situa à volta
de 1909: «Um dos males do meu espírito — e é de um indizível
horror— é o medo da loucura, que é já a loucura». Em 1896, meses
depois do internamento da avó, está em Durban, na África do Sul,
onde João Miguel Rosa fora colocado como cônsul. Durban era uma
cidade recente (fundada em 1846), arrancada aos pântanos e à
pródiga vegetação subtropical e com uma baía por assorear, à qual
só acostam baleeiros e barcos de pesca.
| |
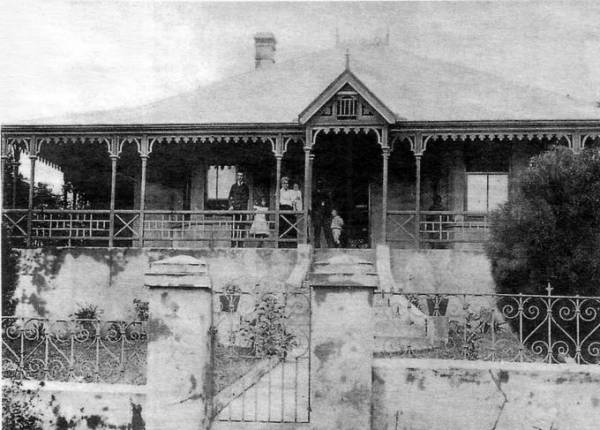 |
|
| |
A primeira casa de
Fernando pessoa em Durban, na Ridge Road, um lugar pouco
civilizado. |
|
A PRIMEIRA casa
dos Rosa situava-se em Ridge Road, que — segundo H. D. Jennings —
era à época «um lugar muito pouco civilizado, para pessoas que
acabavam de chegar a África». Seria a casa colonial que imaginamos
rodeada de sebes de caniço, mangueiras, palmeiras palhotas ou
casas de adobe e colmo, em cujas varandas se ouvia o mar
entrecortado com o ritmo dos pilões e de alguns cantos pagãos, a
imagem que nos sugere a expressão de espanto de Jennings. Mudariam
depois para uma outra casa do bairro comercial, mas as primeiras
impressões estão tatuadas na retina e no coração de Pessoa (tal
como as primeiras tempestades tropicais, que o levam a um pânico
de borrascas nunca mitigado).
EM 1899, depois
de ter frequentado uma escola de freiras irlandesas, Pessoa é
matriculado na Durban High School, um sóbrio edifício de tijolos
vermelhos e arcadas ao longo da fachada, onde se esmerou numa
educação o mais vitoriana possível. Em breve se destaca pelo
aprumo e nas matérias curriculares, aliás adiantando-se dois
níveis em relação aos rapazes da sua idade. E, pelo que o próprio
relata, já nesta altura os seus gostos diferiam dos dos seus
colegas. Fernando abominava a literatura para «jovens» e o
espalhafato das aventuras que exigiam alguma performance física:
«Não era atraído pela vida sã e natural. Aspirava, não ao
provável, mas ao incrível; não ao impossível teórico, mas ao
impossível em si».
EM 1901 acabada
a sua escolaridade e como o padrasto obtivera um ano de licença, a
família embarca para Lisboa. Com eles viaja também o cadáver da
pequenita Madalena Henriqueta, sua irmã, nascida em 1897 e finada
de véspera. Em Setembro, Pessoa regressa sozinho à capital de
Natal, no vapor alemão «Herzog». Tem catorze anos, uma ramagem de
mortos sobre os ombros, um isolamento que a sua timidez não
quebra, nem quando se exprime com a enfática locução de um futuro
locutor da BBC — e quem sabe o que imagina um rapaz dado aos
prodígios da mente e fechado na cabine de um navio durante
semanas. De qualquer dos modos, esta segunda estada em Durban
trará enigmas que levedarão, a meu ver, no poeta em delta que
Fernando se tornará. No que ratificamos Alexandrino E. Severino (Fernando
Pessoa na África do Sul, edição da D. Quixote, 1983): «A
partir de 1903, contudo, quando do seu regresso a Durban, depois
de uma ausência de um ano em Lisboa e Açores, houve uma
modificação na vida do poeta que, apesar de indefinida, deve ter
sido altamente significante para o desenvolvimento da sua
personalidade». Já vimos que fora um período difícil. Abandonara o
curso clássico do liceu de Durban para matricular-se à noite numa
escola comercial de nível elementar (primeiro ciclo).
 |
REFERINDO-SE a
este período, Fernando Pessoa anotou anos depois em um caderno
escolar: «Bom foi para mim e para os meus que até à idade de
quinze anos permaneci sempre em minha casa entregue sem revolta à
minha velha maneira de ser reservada. A essa época, contudo, fui
enviado para uma escola longe de casa e então o novo ser que eu
tanto temia se manifestou e tomou forma humana». Muito embora não
possamos precisar o que lhe acontecera, o novo ser de que Fernando
Pessoa se sente possuído desabrocha em actividade artística. Que
susto persegue Pessoa, ou o visita? Clifford Geerdts, seu colega
de Durban e seu amigo natural pela inteligência e aproveitamento
escolar, lembrou a Hubert Jennings, em 1964, que, estando em
Oxford a estudar, recebeu uma carta de um suposto psiquiatra de um
senhor Fernando Pessoa, que o sondava a respeito da lucidez do seu
cliente e sobre que ideia fazia do seu comportamento em Durban.
Outra carta semelhante recebeu Ormond, outro amigo de Durban, com
o mesmo teor e inquirição. Geerdts adivinhou que a carta era do
próprio Pessoa e ter-lhe-á respondido evasivamente. |
|
A família em
Durban: a mãe Maria Madalena Nogueira com a filha Madalena
Henriqueta ao colo, Fernando Pessoa, a irmã Henriqueta
Madalena, o irmão Luís Miguel e o padrasto João Miguel Rosa. |
Jenning,
entretanto, descobriu outros dois documentos referentes a este
«caso», uma nota em francês que pretendia ser um relatório
psiquiátrico sobre um paciente chamado «P», redigido com a letra
de Pessoa; o segundo documento é uma resposta do professor Belcher,
de Durban, a um pedido de informações emanado pelo mesmo suposto
psiquiatra de Lisboa. Como escreve Crespo, há razões para crer que
Fernando Pessoa foi compelido a esta correspondência não apenas
por uma bizarra inspiração lúdica mas «porque atravessava anos
difíceis durante os quais ele pensava efectivamente estar à beira
da loucura». Sim, Pessoa desejava avaliar, com tão rebuscado
artifício, se se notava e «via» nele a perturbação que
transportava, o segredo que o fendia.
QUE SEGREDO? Acresce a estes dados
uma precoce e singular apetência para a literatura esotérica e as
leituras heterodoxas, desde o princípio da sua carreira literária,
e manifestamente desde o pacto firmado por Alexander Search,
«residente do Inferno» e seu semi-heterónimo (curiosamente dado
como nascido no mesmo dia e ano de Pessoa), com Jacob Satanás. E
como explicar o poema em inglês, «Anamnesis», escrito em 1901 —
ano da morte da irmã Henriqueta — e onde se lê:
«Somewhere where I shall never live / A palace garden bowers /
Such beauty that dreams of it grieve.// There, lining
walks immemorial, / Great antenal flowers / My lost life, before
soul, recall. // There I Was Happy and the child / That had cool
shadows / Wherein to feel sweetly exiled. // They took all these
true things away!» / O my lost meadows! / My Childwood before
Night and Day!»? É mais do
que uma súmula de leituras platónicas, não se escreve «My lost
life, before soul, recall», nem «My Childwood before Night and Day!»
aos 13 anos por mero mimetismo literário, sobretudo quando o
futuro confirma o génio e que não se é um literato. Que abalo
empurra o autor para o seu destino? Abrem-se aqui dois aspectos.
Primeiro, apesar da presença da morte que lhe agoirou infância e
anos de formação, um interesse por temas esotéricos e heterodoxos
de comum só ocorre depois de um primeiro impacto no «numinoso». O
numinoso designa uma qualidade do vivido que nos desvela uma outra
dimensão, uma realidade que transcende o horizonte da consciência
ordinária. Esta experiência pode ser uma experiência de terror e
dilaceramento: só em aceitando-a, como se aceita o luto, se volve
a ferida, o impasse, na «passagem» que permite a conversão, a
metanóia — uma mutação da vida e da consciência. Como na alquimia,
uma calcinação precede a «conjunctio» que significa literalmente a
«união de opostos» e só aí a «alma» se liberta da sua coagulação e
paralisia, i. e., como diz Titus Burckhardt, das garras do ego e
da mente intelectual. É por isso que não se pode ter uma
«propensão intelectual» pelo esotérico ou pelo hermetismo: este é
vivido, buscado, «de dentro», e absolutamente vedado para «os de
fora», para os que nunca afrontaram a presença do incondicionado.
O próprio Fernando Pessoa, num escrito intitulado «Um Caso de
Mediunidade», releva que uma das condições básicas para adquirir
os dons da mediunidade é, taxativamente: «O estado de depressão
produzido por: 1) desgostos e perturbações várias, 2) a própria
perturbação mental causada pelo aparecimento dos fenómenos ‘mediúnicos’,
tanto por esse aparecimento, como pelo conteúdo das chamadas ‘comunicações’,
e 3) o conflito entre tudo isto e o basilar e normal espírito de
lucidez, lógica e necessidade de precisão científicas (...)».
Depois, a inacreditável denegação com que Pessoa silenciará a sua
experiência africana, o clamor das suas paisagens, do seu espaço
(e Pessoa é um poeta onde abunda a evocação espacial), a força dos
seus contrastes; o silêncio suspeito com que abdica de um
testemunho sobre vizinhanças tão claramente nos antípodas da sua
educação europeia — é uma atitude inverosímil em alguém da sua
inteligência, sensibilidade e probidade, a não ser que algo, um
transtorno mais forte que a razão, se tenha passado. Aliás, o
«profeta» do «sensacionismo», um homem que escreve, pela voz de
Álvaro de Campos, «Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. /
Sentir tudo de todas as maneiras. / Sentir tudo excessivamente, /
Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas / E toda a
realidade é um excesso, uma violência, / Uma alucinação
extraordinariamente nítida (...)», cala voluntariamente sobre
África? Só acredita nisso quem nela nunca sentou as suas próprias
sensações.
É AQUI que
entra a antropologia africana. Madre Teresa dos Anjos era habitada
por sete demónios, cada um do seu estilo. Ainda hoje o maior crime
para os cristãos, o pacto com o espírito possessor, é o maior dos
bens para o tsonga, a etnia do Sul de Moçambique. Lê-se no livro
da antropóloga Alcinda Manuel Honwana, Espíritos Vivos,
Tradições Modernas, Possessão de Espíritos e Reintegração Social
Pós-Guerra no Sul de Moçambique (Ela por Ela, 2003): «(...) ao
analisar a politica de identidade na África pré-colonial, Ranger
argumentava que, longe de estarem ligados a ‘uma única identidade
tribal, a maior parte dos africanos entravam e saíam de múltiplas
identidades, podendo definir-se a dado momento como súbditos deste
chefe, noutro como membros daquele culto, num outro momento como
parte deste clã e noutro, ainda, como iniciados daquela corporação
profissional. Estas redes sobrepostas de associação e intercâmbio
estendiam-se por várias áreas’».
E ESTA FLUIDEZ
da identidade sobe de grau no caso da possessão pelos espíritos —
de ancestrais que se tornaram deuses ou de inimigos mortos sem os
devidos ritos funerários cumpridos. Duma forma grosseira, diga-se
que no quadro do pensamento tradicional, não se verifica, tanto na
zona do Sul de Moçambique, entre os tsongas, como em Durban, com
os zulus, o sentimento de uma separação entre os homens e a
divindade — «em virtude de se conceber que os agentes espirituais
se apoderam dos corpos e das faculdades, vivem e se desenvolvem
nas pessoas» (Honwana). A volição, nestas áreas, é uma modalidade
da incubação com o sonho, o transe, os mitos e a vida material
mesclados num tipo distinto de racionalidade. Neste preciso
momento em que escrevo, 30 de Janeiro, saiu no semanário
«Domingo», de Maputo, uma reportagem enorme, de Bento Venâncio,
sobre o canhoeiro misterioso (uma árvore de grande porte) que em
Magude, a cem quilómetros de Maputo, «conserva virtudes humanas,
‘passeia-se à noite’ e ‘não aceita’ que um dos seus ramos seja
arrancado de qualquer maneira». Compreende-se então que os mundos
de Mia Couto não existem só nos livros.
| |
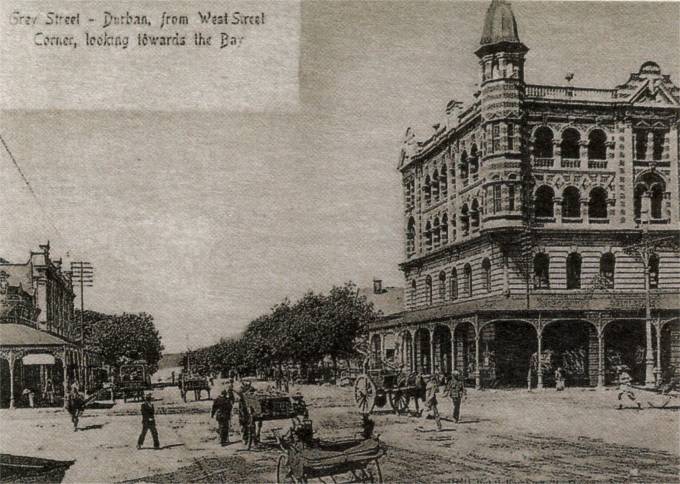 |
|
| |
Centro de Durban
na viragem do século XIX para o século XX. |
|
ATÉ À INVASÃO
dos nguni, um ramo dos zulus, no século XIX, os tsonga não
conheciam a possessão por transe. Entre os zulus, os tais vizinhos
bárbaros de Pessoa, é comum, tal como o carácter múltiplo da
possessão. O que significa que cada veículo corporal pode ser
tomado por vários espíritos e enredar-se numa constelação
linhageira, num arquipélago identitário. Como se coubesse a cada
humano incorporar a sua genealogia e às vezes a de outros —
habitualmente misturam-se os espíritos locais e os estrangeiros.
Isto deu origem a um novo tipo de curandeiro, o «nyamusoro», cuja
institucionalização subentende «a aceitação implícita do carácter
transcultural da posse pelos espíritos» (Honwana). O «nyamusoro»
incorpora os espíritos «tinguluve» (tsonga), e os espíritos «vanguni»
(de origem nugni) e «vandau» (de origem nnau), que os nguni
trouxeram consigo, a fim de poder tratar «todos» os casos, tendo
em conta as diferentes etnias. Será preciso dizer que cada
espírito tem a sua caracteriologia e às vezes a sua própria
língua? Henri Junod, etnólogo suíço que palmilhava a África do Sul
e Moçambique precisamente na altura em que Pessoa viveu em Durban,
estudou os povos bantu (que englobam todas estas etnias que temos
referido), e precisa quanto aos cantos, nos rituais de exorcismo:
«Estes cantos são, geralmente, em zulu e afirma-se que ainda
quando o paciente não fale essa língua torna-se capaz de se servir
dela nas suas conversações, por uma espécie de milagre das
línguas» (Usos e Costumes dos Bantu, vol. 2, pág. 419,
Arquivo Histórico de Moçambique, 1996).
E QUE DIZER
quando se constata, conforme escreve Alcinda Honwana, que «os
diversos tipos de espíritos, que frequentemente coexistem no mesmo
indivíduo possuído, inter-relacionam-se uns com os outros» e
estabelecem relações de poder, como as que o mestre Caeiro
estabelecia com os restantes heterónimos? Não é claramente a
etiologia da possessão que nos interessa mas a estranha
coincidência entre os seus mecanismos e o dispositivo da
heteronímia em Pessoa, que passeou em África dez anos da sua
porosidade e inteligência. Era esta a realidade a que assistia
entre a criadagem, no vozear que polvilhava as cercanias (portas-meias,
segundo Hennings) da casa de Pessoa. Dez anos que calou, num
mistério nunca profanado. Diga-se previamente que o transe, ou a
possessão pelos espíritos, não reveste sempre uma forma
espectacular manifesta. Esclarece Gerrieter Haar, referindo-se à
possessão na Zâmbia (L’Afrique et le Monde des Esprits, Karthala...), que «nos
homens, em particular, tende a tomar uma forma latente e pode
nunca se manifestar abertamente». Na esteira da ‘histeria branda’
autodiagnosticada por Pessoa em carta para Adolfo Casais Monteiro,
de 13 de Janeiro de 1935: «A origem dos heterónimos é o fundo de
histeria que existe em mim (...) residindo na minha tendência
orgânica para a despersonalização e para a simulação. Estes
fenómenos (...) fazem explosão para dentro e vivo-os eu a sós
comigo. Se eu fosse mulher (...) seria um ataque para a
vizinhança. Mas sou homem — e nos homens a histeria assume
principalmente aspectos mentais; assim tudo acaba em silêncio e
poesia...». «Controle» corroborado pelo que se explicita no
clássico de Ioan M. Lewis (Êxtase Religioso, Editora Perspectiva,
1971): «...em muitas culturas onde a possessão por espírito é a
interpretação única ou principal do transe, a possessão pode ser
diagnosticada muito antes do verdadeiro estado de transe ser
atingido.»
QUAL PODE TER SIDO o «mistério
africano» de Pessoa? Imagino a cena. É noite e Pessoa vai entregue
aos devaneios, a caminho da escola comercial — uma caminhada e
tanto por ruas semi-construídas e alguns atalhos onde o negrume da
vegetação se mistura aos barracos em madeira e colmo, rasgados
pelo bruxuleante crepitar das fogueiras. É um adolescente com uma
cabeça que ferve em pouca água — felizmente refrigerada por uma
fantasia que lhe amortece os sinais de uma emocionalidade à beira
de desmoronar.
Como tantas vezes,
às vezes corta a eito, pelos sítios mais sombrios, a ruminar em
versos alheios, pletóricos e enigmáticos, como estes de John
Donne, «This ecstasy doth unperplel. / We said, and tell us what
we love; / We see by this it was not sex, / We see we saw not what
did move». De repente
eclodem tambores, nas suas costas. Fernando sabe — já se informou,
discretamente, nos bares de baleeiros, no cais — que o exorcismo
pelo toque dos tambores é o método clássico para expulsar os
espíritos, e que cada espírito tem o seu ritmo. Desde miúdo que o
«sente», mas agora as peles percutem nas suas costas, numa
clareira que se abre atrás duma caniçada. Resolve ir espreitar. Vê
um pequeno grupo de homens em redor de uma fogueira, evocações que
não compreende, cantos e inexplicáveis gestos do curandeiro e duas
mulheres que estão convulsas, enquanto os tambores lhe burilam o
coração. Sai detrás do arbusto e aproxima-se, hipnoticamente,
fascinado, a medo. Senta-se, a cinco metros da fogueira, ninguém
parece dar por ele. A cerimónia sobe de tom e os tambores retumbam
na consciência impressionável de Pessoa. A noite está quente, mas
o seu suor começa a esfriar nas omoplatas como uma língua de
cobra, O curandeiro ergue as mãos cheias de sangue. E, de repente,
«algo» entra nele, ou sai, ou flui, numa alteração subitânea da
sua percepção e consciência. Não interessa se foi «possuído», se
teve simplesmente uma experiência de «não-dualidade» para a qual a
sua educação, lógica e embebida em senso comum, não o preparara.
Quando ocorre uma situação desse tipo em quem não a previra, nem
para tal fora iniciado, instala-se a «inquietante estranheza a si
mesmo» («Das Unheimliche») a que Freud alude, um estudo de
desconexão motivada por uma ausência de categorias para traduzir a
inexorável sensação de que o exterior e o interior são
inusitadamente simbióticos; com a supressão das marcas que
colocava o sujeito face ao objecto e o sobressalto que daí advém.
Pode então o «sujeito», de repente, ouvir as vozes dos outros como
se emanadas «de dentro» de si, do jorro de vibrações que o inunda
— e o susto é brutal, pois confunde essa plenitude saturada com a
vacuidade.
IMPREPARADO
para detectar de imediato os padrões-que-religam e para afastar os
panejamentos pesados de um inesperado sentimento de irrealidade,
essa nova forma de ler o real solta-lhe os ferrolhos de todas as
palavras e os significantes ejectam-se aflitos e doravante
flutuantes. Há uma cesura, a que decorre do «conflito entre tudo
isto e o basilar e normal espírito de lucidez». Neste sentido se
apura a veracidade da dissociação que Pessoa tão brilhantemente
descreveu numa fala da Terceira Veladora em «O Marinheiro»: «Minha
irmã, não nos devíeis ter contado essa história. Agora estranho-me
viva com mais horror. Contáveis e eu tanto me distraía que ouvia o
sentido das vossas palavras e o seu som separadamente. E
parecia-me que vós, e a vossa voz, e o sentido do que dizíeis,
eram três entes diferentes, como três criaturas que falam e
andam». Vaticina Gilbert Durand em A imaginação Simbólica, a meu
ver, com rigor: «A doença mental reside justamente numa
perturbação da re-presentação. O pensamento doente é um pensamento
que perdeu o ‘poder da analogia’ e no qual os símbolos se
desfazem, se esvaziam de sentido». O poder da analogia só se
exerce com um mapa à frente e coordenadas psíquicas. Quando estas
se extraviam, a realidade estilhaça-se, sem nexo, «partes sem um
todo» como diz Pessoa — até que aquela se reordene, reencontrando
o seu intérprete. Aí o pensamento volta a reencontrar a liberdade
da transumância e o seu «guardador de rebanhos». A experiência da
«não-dualidade», ou a de uma «consciência alterada», se
impreparada, pode desencadear uma cisão devastadora ou uma
sensação de «esburacamento» da consciência onde, como nos «buracos
negros», tudo se absorve — «espíritos alheios)), se a oportunidade
proporcionar, ou o simulacro disso; os analistas referem a
existência de um simulacro inconsciente quase constante (cf.
Possessions et Simulacres, Jacques Bourgaux). E quem a sofre
torna-se, como no drama estático «O Marinheiro», um Velador, um
interlúdio da morte: lembremos, «(...) o novo ser que eu tanto
temia se manifestou e tomou forma humana». Julgo que esta hipótese
torna mais transparentes muitos versos da obra ortónima «Sinto de
repente pouco, / Vácuo, o momento, o lugar. / Tudo de repente é
oco — / Mesmo o meu estar a pensar. / Tudo — eu e o mundo em redor
— / Fica mais do que exterior». «Além-Deus, I»; «Vasto por fora do
Vasto: Sem ser, que a si se assombra...», .Além-Deus, II»; «Venho
de longe e trago no perfil, / Em forma nevoenta e afastada, / O
perfil de outro ser que desagrada / Ao meu actual recorte humano e
vil (...) «Passos da Cruz, VI»; «Hoje sei-me o deserto onde Deus
teve / Outrora a sua capital de olvido...», «Passos na Cruz, X»;
«Não sou eu quem descrevo. Eu sou a tela / E oculta mão colora
alguém, em mim.», «Passos da Cruz, XI»; «Emissário de um rei
desconhecido, / Eu cumpro informes instruções de além, / E as
bruscas frases que a meus lábios vêm / Soam-me a um outro e
anómalo sentido...», «Passos da Cruz, XIII»; «(...) / A noção de
mover-me / Esqueceu-se do meu nome. // Na alma meu corpo pesa-me.
/ Sinto-me um reposteiro / Pendurado na sala / Onde jaz alguém
morto. // Qualquer coisa caiu / E tiniu no infinito»., «A Múmia, I»;
«De quem é o olhar / Que espreita por meus olhos?», «A Múmia, III»;
«Sou já o morto futuro. / Só um sonho me liga a mim — O sonho
atrasado e obscuro / Do que eu devera ser — muro / Do meu deserto
jardim.», «O Andaime»; «Não dormes sob os ciprestes, / Pois não há
sono no mundo. / ...................... / O corpo é a sombra das
vestes / Que encobrem teu ser profundo.», «Iniciação». E se
deixássemos o demónio da interpretação e lêssemos estes versas de
forma «literal»? Como se lê em «Para Além Doutro Oceano», do
sigiloso heterónimo C. Paceco: «Sentir a poesia é a maneira
figurada de se viver / Eu não sinto a poesia não porque não saiba
o que ela é / Mas porque não posso viver figuradamente». Paradoxo
que Jorge de Sena ilumina pertinazmente: «A poesia ortónima não é
a poesia de uma personalidade, e sim a de uma personalidade que
analisa a sua inexistência, precisamente porque as outras lhe
existem» (in O Heterónimo Fernando Pessoa e os Poemas Ingleses
que Publicou). Parecem-me por isso adequadas estas formulações
de Eduardo Lourenço, no recente O Lugar do Anjo, «o ‘eu
como ficção’ não é para Pessoa um achado literário — é a realidade
e o lugar de uma busca, o signo de um sofrimento», (...) «De outra
forma não seria possível compreendermos o eu empenhadamente na
criação de outros eus marcados como o dele, por idêntica
vacuidade. Aquilo que Pessoa quer convencer-se, é da realidade do
mundo exterior(...)». Haverá realidade do mundo exterior para «o
possesso», em África? É duvidoso, e tudo se franja de símbolos na
rodada saia de Maya, a ilusão. Com Caeiro, que não emergiu à
cautela como um periscópio, mas rompeu águas de uma vez como as
crianças de algumas tradições orais africanas que se cansaram da
«luz negra» do útero e resolvem vir cá fora banhar-se na luz do
dia, as clivagens conheceram a cicatriz.
A ERUPÇÃO de
Caeiro fez Fernando Pessoa «cavalgar o tigre» — formula-se no zen:
se cavalgamos o tigre impedimo-lo de lançar-se sobre nós — da
«loucura», exorcismou-o. Chegou então à arte de esvaziar (a
«doença dos símbolos»). Caeiro fê-lo passar de figurante temeroso
a demiurgo e orquestrar o «adorcismo». O adorcismo designa o acto
de convocar periodicamente os espíritos e de os socializar,
baptismar, pelo ritual. O medo transfigura-se em sentido, em
fruição de jogo — convertido o caos em linguagem. Não esqueçamos
que o actor nasce da morte da possessão efectiva.
VIRIA DEPOIS a
crise de 1916, empurrada pela doença da mãe e o suicídio de
Sá-Carneiro, mas houve um momento em que Pessoa pôde dizer como
Pascal: «Le monde me comprend, et m’engloutit comme un point, mais
je le comprends». Situou-se, finalmente, no espaço. Nesse espaço
vasto que é um sistema de pontos diferentes (diria Bourdieu). Como
em África, o mais vasto dos espaços porque neste continente a
topologia não prescinde do invisível: «A casa branca nau preta //
Felicidade na Austrália...»
António Cabrita
|