|
 |
Foi durante
um ensaio do grupo de serenatas do Orfeão Universitário do
Porto que, pela primeira vez, ouvi esse nome pronunciado, com
contagiante entusiasmo, por Roxo Leão, um tocador afamado de
viola, que tinha vindo para a Faculdade de Farmácia do Porto
completar a licenciatura iniciada em Coimbra. A falta da fase
terminal do curso de farmácia e de engenharia na Universidade
da cidade do Mondego tornava obrigatória a migração de grupos
significativos de estudantes que, todos os anos, se
transferiam para o Porto, onde vinham frequentar as últimas
cadeiras das respectivas licenciaturas. Com estas revoadas de
estudantes transferia-se, também, o influente ambiente
estudantil coimbrão, culturalmente muito enriquecedor para os
universitários portuenses que, assim, recebiam uma infusão de
multidisciplinaridade que os cursos eminentemente técnicos
ministrados no Porto e o estilo de vida que aqui se adoptava
não propiciava. |
O Roxo Leão era
um daqueles conhecedores certificados do fado de Coimbra e um
animador entusiasta da academia portuense, em tudo o que ao fado
coimbrão dissesse respeito. Nessa mesma sessão de uma noite de
Novembro de 1953, tomaram parte o José Vitorino Santana, que era o
mais consistente fadista da nossa Academia, o Barroso, outro
estudante de farmácia com carimbo de Coimbra, ele, também, um
excelente tocador de viola, e os dois guitarras, o Carlos
Couceiro, um executante seguro vindo, também, da cidade do Mondego
para acabar no Porto a licenciatura em engenharia, e o Leonel,
quartanista de Medicina, segundo guitarra e único elemento daquela
tertúlia, genuinamente nortenho. No fim dos primeiros testes, em
que a timidez natural de um principiante já tinha conseguido
dissipar a expectativa densa que a circunstância exigente criara,
todos concordaram em que eu deveria cantar os mesmos fados que o
Zeca, porque, segundo as suas esclarecidas opiniões, a minha voz
tinha uma estrutura musical parecida e os estilos interpretativos
assemelhavam-se. Caloiro, obedeci, longe de saber o que é que esse
veredicto, estando certo, significava de Iisongeiro. Contudo, e
apesar de, então, essa semelhança me dizer pouco, a comparação
ficou a fazer parte do meu consciente passivo, ligando-me,
sentimentalmente, a esse nome que haveria de vir a ser,
artisticamente, tão honrado. Passei a prestar maior atenção às
canções que ele então interpretava e de que sobressaíam o fado
«Incerteza», o «Contos velhinhos», o «Águia que vais tão alta», o
«Meu menino é d’oiro», entre outros, e confesso o encantamento
criado pela sua voz trémula e quente, que era, também, fruto do
seu espírito original e sensível, voz que ora se arrastava numa
dolorosa queixa, ora se erguia num grito de rebeldia e de
protesto. O Zé Afonso, como outros preferiam chamar-lhe, era, sem
dúvida, um estudante que cantava um fado novo que Coimbra nunca
tinha ouvido.
Mas o Zé Afonso
era, vi-o, depois, muito mais do que isso. Pessoalmente, encontrei
esse quase-sósia canoro numa tarde de Agosto de 1956, a bordo do
«Vera Cruz», a caminho de Angola. Ele viajava integrado à sua
maneira (o Zeca nunca se integrou em nada) na Tuna Académica de
Coimbra e o seu destino era navegar à roda da África para animar
um vasto mundo de gente rica e culta que tinha decidido alugar o
«Vera Cruz» para um périplo de África; eu viajava integrado no
Orfeão Universitário do Porto, que seguia para Angola como agente
de uma festa académica que tinha como missão apertar os nós dos
laços de uma identidade lusotropical que se desejava duradoira.
Cada grupo possuía a sua equipa de serenatas: a nossa era
constituída pelo Rosa Araújo e o Costa Leite (guitarristas), o
Hermenegildo Tavares e o Quartim Graça (violas); eram cantores o
José Vitorino Santana, o Gameiro e eu. Do lado de Coimbra seguiam
o Fernando Xavier e o Júlio Ribeiro (guitarristas), o Manuel Pepe
e o Levi Baptista (violas); os cantores eram o Zeca Afonso e o
Fernando Machado. Esse encontro fecundou uma amizade que estava
destinada a crescer e que sem sobressaltos de percurso veio a ser
muito grande e sincera.
Numa tarde de
Agosto, quente, apesar de ser de cacimbo o tempo do calendário, o
«Vera Cruz» deixou-nos no Lobito e seguiu a sua viagem, à roda do
continente africano, levando consigo a «malta» de Coimbra.
Vivíamos nós,
por essa altura, numa espécie de república, um vasto espaço de
três quartos, uma sala e uma cozinha, num terceiro andar no Campo
dos Mártires da Pátria (n.º 135), sob a vigilância aflita mas
benevolente de uma velhinha, a Sr.ª D. Aninhas. Eram sete os
habitantes regulares desses aposentos, mas alturas havia em que o
número de comensais chegava a duplicar. Depois da viagem a Angola,
um dos frequentadores desse lar aberto era o Zeca. Sempre que as
deslocações da Tuna ou do Orfeão Académico de Coimbra, os seus
afazeres pessoais ou qualquer decisão repentista, disparada pela
sua irrequietude sentimental, o traziam ao norte, lá o tínhamos
connosco, com toda a Fantasia do seu ser poético e a rebeldia do
seu idealismo descomprometido. Uma das vezes (em vésperas das
férias grandes de 1958), a sessão artística da Tuna ia ser no
Rivoli. O Zeca apareceu, como de costume e por uma das razões de
sempre. Tinha vindo «à boleia», ia cantar, estava à futrica e
tinha umas horas para pôr a conversa em dia. Comeu connosco,
cantarolou os fados que tencionava interpretar nessa noite — e que
o Costa Leite e eu acompanhámos à guitarra —, enfiou a minha capa
e batina, completando, assim, o ritual e lá descemos os dois a Rua
dos Clérigos, a caminho do Teatro. Ao passarmos em frente da
Igreja dos Congregados, num súbito arrebatamento, parou, fitou-me
com o ar concentrado que a testa franzida denunciava — era assim
sempre que falava a sério — e atirou-me a seguinte proposta: «— Oh
pá (ele usava esta abreviatura quando ela era ainda erudita,
tu tocas guitarra, eu toco viola e cantamos ambos. Vamos os dois
fazer férias por essa Europa fora, como artistas vadios?» Sorri,
creio que candidamente, para quebrar com ternura o ímpeto do seu
entusiasmo.
Na verdade, não
era fácil recusar tão espontânea, sincera e amiga sugestão; mas a
minha vocação de aventura tinha asas mais curtas e, além disso,
tinha duas cadeiras do meu quinto ano para fazer em Outubro; e as
férias iam ser pequenas para pôr o estudo em dia. Sanado este
breve desencontro, retomamos a marcha rumo ao Rivoli.
Este nomadismo,
que era nele genómico, era uma das facetas que tornava visível a
irrequietude do seu espírito! Mas foi, sobretudo, em Coimbra que
convivemos e nos conhecemos melhor e que a nossa amizade cresceu e
se radicou. O Zeca era, na verdade, uma criatura rara, de uma
enorme originalidade: inteligente, culto, criativo e, ao mesmo
tempo, bondoso e decifrável, era muito fácil gostar-se dele.
Sempre que nos fins-de-semana o tempo era meu, lá ia até à velha
cidade tratar do fado e das guitarradas, em correspondência a esse
apelo primário que vinha da infância. E foi assim que muitos
fins-de-semana passei na capital do Mondego, onde nos
encontrávamos, ora na Baco ou nos lncas, ora em sua casa ou no seu
verdadeiro lar, que eram as ruas de Coimbra. E foi assim que se
desenvolveu, não uma estima superficial de convenções, mas uma
amizade de gente nova, sem rugas, própria dos afectos simples e
verdadeiros.
Além de cantar,
o que nós conversámos! Os problemas de então, as preocupações
humanísticas e sociais eram assuntos nunca calados nos nossos
longos diálogos. O cristianismo e os seus valores, os compromissos
que a dignidade humana implica; a coerência e a hipocrisia.
Avessos a todas as tiranias, éramos, assim, apóstolos silenciosos
de um mesmo credo. O Zeca era espontâneo, desacautelado e livre
como se vivesse sozinho no Mundo!
Apesar dos
anúncios iniciais premonitórios, que estiveram na origem da nossa
aproximação, afinal, nós éramos muito mais irmãos pela
inteligência interpretativa do mundo e pela confiança na bondade
dos afectos, do que pela voz! Éramos mais parecidos calados do que
a cantar.
O Zeca tinha
sofrido a influência religiosa densa de uma tia «beata», que
talvez tenha contribuído para que tivesse deixado, logo no limiar
da adolescência, qualquer manifestação de prática religiosa, mas
essa formação, que continuou a fazer parte do pavimento em que
assentava como criatura, acompanhou-o até ao fim. Nunca rejeitou a
essência daquilo que moldou a sua natureza inquieta e generosa e
deu expoente aos seus valores sociais.
Uma vez em que,
com um pequeno grupo de amigos, decidi ir a Fátima de bicicleta,
amedrontado com os duzentos e vinte quilómetros que tínhamos de
percorrer, resolvi, com a anuência dos companheiros de viagem,
partir a meio a distância e pernoitar na república Baco, sempre a
primeira a ser procurada, porque nela viviam muitos conhecidos e
alguns bons amigos: o Fernando Machado, o Manuel Pepe, o Batalim,
o Dario — e também porque a canção coimbrã tinha aí uma grande
sede. O convívio alegre e saudável compensava bem o sacrifício de
certas incomodidades do alojamento. Era também frequente o Zeca
passar por lá e, nessa noite, passou mesmo. Falou-se de tudo e,
obviamente, também do motivo da nossa viagem. Ficou entusiasmado
com a «peregrinação» e só não nos acompanhou porque, na manhã
seguinte, não conseguimos encontrar em Coimbra uma bicicleta
disponível.
|
A
convergência das nossas pessoas, sentenciada naquela noite de
Inverno, nunca sofreu retrocessos ou foi posta em causa por
qualquer acidente ou assintonia. Pelo contrário, foi tomando
corpo, progressivamente, mais verdadeira e consciente. Quanto
melhor nos conhecíamos, mais os nossos ideais batiam certo ao
ritmo de um mesmo compasso. Não há dúvida de que social e
humanamente assentávamos os pés num mesmo chão e que, no
essencial, éramos guiados por uma bússola orientada para um
mesmo norte. Menos ancorado nos valores tradicionais, o Zeca
sempre foi mais solto e, por isso, vagabundo. Mas, se em
alguma coisa divergíamos, era em pequeníssimos pormenores que
se escondiam na espuma de certos comportamentos.
Subitamente, fui mobilizado para prestar serviço médico
militar em Angola. Os três anos (de 1963 a 1966) que lá passei
foram muito mais do que a interrupção fortuita de um convívio
que sempre fora reciprocamente desejado. Nenhuma das minhas
outras amizades sofreu com essa ausência forçada. |
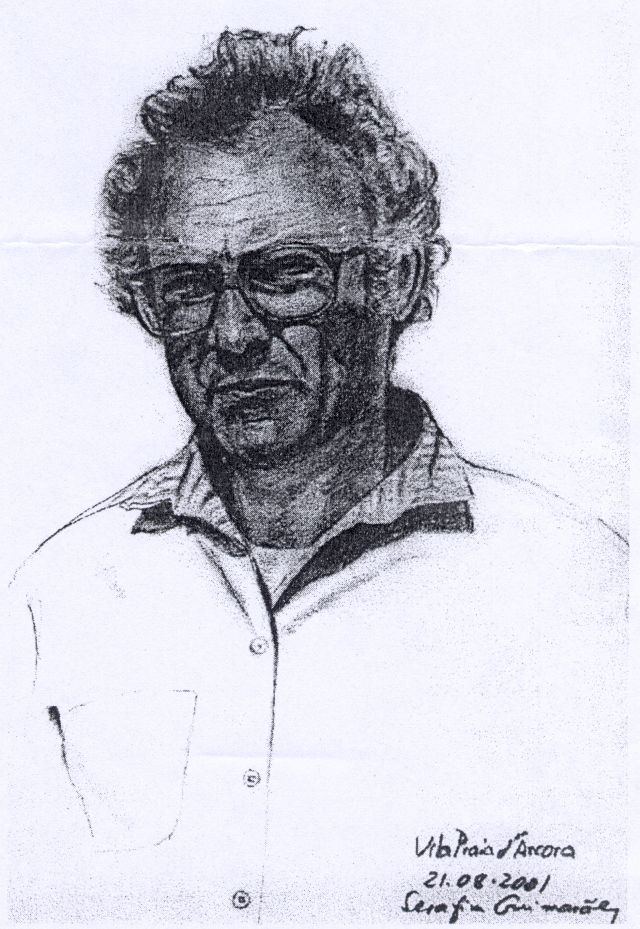 |
Quando
regressei de Angola, fui reencontrar o meu Amigo Zeca em Vilar de
Mouros, protagonista zangado de um extenso protesto, ora em prosa
ora em verso, meio recitado, meio cantado e que tinha como objecto
a história de Catarina Eufémia. A mudança senti-a, sobretudo, no
abraço frio que me deu quando, no fim da longa catilinária, desceu
do palco! Não me surpreendeu o seu entusiasmo pela causa abraçada.
Alguém agarrou bem a sua generosidade disponível, o vazio criado
pela sua bondade por realizar. Espantou-me, sim, que na sua mente
independente e lúcida deixasse de haver lugar para a sublimidade
poética que nos tinha feito muito amigos! Nem a poesia escapa a
certas escorregadelas da lógica! Tão semelhantes e, contudo, o
Zeca acabou por ser o símbolo de uma revolução que me expulsou da
Universidade.
Serafim Guimarães
|