Sabe-se o quanto Camilo, em seu
tempo, foi alvo de grossa bordoada porque, no entender dos opositores,
o corpo lhe puxava para isso e estava mesmo a pedi-las, se não em
todos os momentos, quando lhes dava jeito provocar alguém para mais
uma polémica, não rigorosamente à moda de Fafe.
Ocasiões nunca lhe faltaram e,
por isso, a história está cheia, também, desses seus predicados,
pouca gente lhe contestando, hoje, o ressabiado pendor para umas
tiradas bem assentes no costado fosse de quem fosse, desde que isso
lhe aguçasse a pena, e o bico retirasse do escudo contrário nem
sempre pingando somente tinta...
Muitas das suas estocadas
foram, realmente, para matar e, de alguma forma, os inimigos o feriram
também, e algumas vezes de morte, só não tendo baqueado — ao que
dizem os trasmontanos — por, em pequenino, e outras vezes na vida,
haver profundamente respirado os ares do Marão...
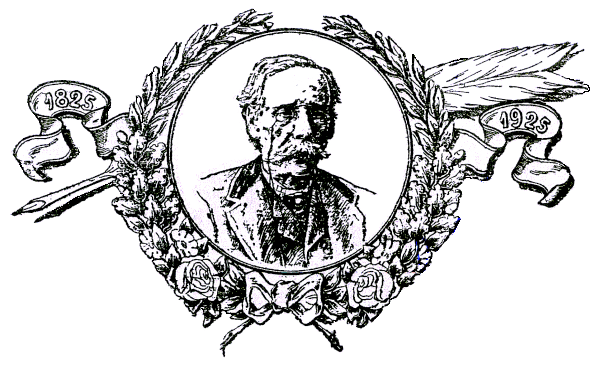
E
esta referência serve exactamente para o que aqui nos traz, em
apressado apontamento sobre uma outra faceta de Camilo, já que o
escritor, também em seu tempo, foi sobretudo alvo de grandes
manifestações de afecto e admiração.
Lá
chegaremos mas, antes disso, talvez seja oportuno recordar o
testemunho poético que adiante se transcreve e partir de um autor
transmontano, praticamente esquecido, de seu nome Afonso de Castro,
com dois ou três livros publicados, o primeiro dos quais, pelo menos,
justamente saudado por poetas desde Teixeira de Pascoaes e Mário Beirão
a Júlio Dantas, além de prosadores como Ferreira de Castro.
Pois
esse «poeta de sangue», como lhe chama Júlio Brandão, retrata
assim, em bons relampejos maranenses do seu tempo, um razoável pedaço
da história genuinamente camiliana, precisamente sob o título
CAMILO, nas páginas do seu segundo livro, chamado Antifonário Pagão,
em cujo limiar aponta esta frase de Camões: «Homem feito de carne e
de sentidos», não necessariamente por acaso:
A
Dor e o Riso, o Amor e a Morte, o Bem e o Mal,
O desespero humano, em gritos de aflição.
O sarcasmo a explodir no verbo genial,
Marés vivas de choro a arder no coração.
A ironia e a tristeza ingénitas da raça...
Mórbido fatalismo, em rasgos de aventura,
Num tropel de paixões, a soluçar, perpassa
No teu génio onde a luz é sombra que murmura.
Sombra
de astrais clarões do Universo inteiro,
Que trouxe à nossa terra o poder criador
De quem soube pintar o drama verdadeiro
Dos que morrem de amor sem conhecer o amor.
Quando
os teus livros leio, é quando me comovo,
Tendo de suspender, por vezes, a leitura.
Oiço neles vibrar a grande voz dum povo
Que viveu e sofreu calvários de amargura.
«Amor
de perdição» foi, desde a mocidade,
Tua existência audaz, de revés em revés.
E «amor de salvação» para a imortalidade
Da nossa língua enquanto houver um português.
(...)
Vejo-te em Vila Real, na loja Zé da sola,
Aos vinte anos de idade, a discursar às turbas.
E mais tarde, no Porto, a zangarrear na viola,
Um magnetizador com que as mulheres perturbas.
Na
rude Samardã, o teu primeiro afecto
De amoroso infeliz, com o transe final
Da macabra visão do alvíssimo esqueleto
Da Maria do Adro, ossada escultural.
E
em S. Miguel de Seide, àquela hora triste
Do redentor suicídio, a que a cegueira leva
Teu cérebro de luz, como nenhum existe,
A mergulhar na eterna e enregelada treva.
És
o símbolo vivo e romântico desta
Terra santa de exílio, onde a saudade mora.
A ausência é a nossa cruz, sombria nuvem mesta
Que faz da nossa vida um dia sem aurora.
Vila
Real como terra santa de exílio, é o que diz o poeta, mas não só
para Camilo, o que pode, em nossos dias, levantar sérios problemas
aos poetas de hoje como, por exemplo, António Cabral e outros demais
«homens que cantam a Nordeste»...
E note-se a forma
como, em 1925, por alturas das comemorações do primeiro centenário
do nascimento de Camilo, Albino Forjaz de Sampaio reclamava, em
discurso inflamado, o regresso do famoso novelista (seus restos
mortais) à terra amada da sua infância; não como lugar de exílio,
mas de eterna morada:
«Agora move-se
novamente a questão de se Camilo deve continuar no jazigo do cemitério
da Lapa (Porto), se deve vir para os Jerónimos. Quanto a mim, a mais
grossa partida que podem fazer a um morto é pregarem com ele nos Jerónimos
e sem o meu protesto nunca Camilo virá. Os Jerónimos são a
festarola de um dia, não são a devoção, nem o culto. Os Jerónimos
são a indiferença gélida, bafienta, húmida, risível. Os Jerónimos
são o abandono e nós não podemos abandonar Camilo. Se o quiserem
deslocar algum dia do jazigo onde ele repousa, muito por sua vontade,
não o levem para os Jerónimos, levem-no para Vila Real de Trás-os-Montes.
Aí, sim. Aí tudo se conjuga para a sua morada eterna. O local entre
serranias, com o Corgo aos pés rugindo espumas, o caminho até lá,
das mais belas coisas que existem em Portugal. E foi ali que ele
passou a sua mocidade. Agora, para os Jerónimos, não. Bem basta o
que basta. Mas Camilo continuará no jazigo do seu amigo (Freitas
Fortuna) e quando o queiramos visitar sempre o cemitério da Lapa é
mais cheio de ternura do que o abandono do Pantheon improvisado».
Neste naco de prosa
sentimental e duramente cáustica, a pedir meças à truculência do
próprio Camilo em seus hábitos de polemista, Albino Forjaz de
Sampaio troca os passos aos acérrimos defensores de «sempre a mesma
morada final» para todos os que, nesta Pátria Lusitana, «se vão
das leis da morte libertando» e prova (como pretendemos neste mau
dactilografado) a grandeza de Camilo, para os seus indefectíveis
admiradores.
Mas o melhor está
para vir, já que nesse campo de idolatria por alguém, o poeta
brasileiro Gonçalves Crespo (muito português pela ascendência e por
seus hábitos), deve ter passado a perna a muito boa outra gente,
visto que assim relata, ou melhor, faz o retrato, não só do primeiro
instante em que, de longe, avista o grande «Athleta do Romance» (aí
por 1864 ou 65), como da própria figura física de Camilo, desde o
rosto picado das bexigas às mãos, para o retratista, espantosamente
femininas desse «artista prodigioso».
E assim, tal e qual
a grafia da época para melhor os leitores se aperceberem de como um
poeta pode perder as rimas, mas nunca as estribeiras se humildemente,
por admiração sincera, deixa expandir o estro a respeito de um
grande vulto das letras, em cujas águas afinal navega a poder dos
seus frágeis remos ainda nessa altura...
Eis, pois, o retrato
do autor do Amor de Perdição, segundo Gonçalves Crespo e, no dizer
também de Albino Forjaz de Sampaio, um «poeta de altíssimo valor
prematuramente roubado às letras»:
«Camillo
Castello Branco
A primeira vez que o vimos foi na casa Moré do Porto.
Há
que tempos isso foi!
Parece,
porém, que o vemos ainda esbeltamente embuçado em um capote
espanhol, farto e elegantíssimo, calçando botas forcadas que lhe
subiam acima do joelho, e trazendo na cabeça inquieta e nervosa um
chapéu alto preto, sem lustro de abas direitas e largas.
Sem
este último acessório poderíamos tomal-o por um d’aquelles
cavaleiros do século XVI que os felizes admiram nas telas do grande
Ticiano.
A
sua voz era abemolada, e com ligeiras inflexões ironicas.
Quando
fitava o seu interlocutor vimol-o por mais de uma vez cerrar o olho
esquerdo, e toda a força de observação de que é capaz este Athleta
do Romance como que se concentrava intensamente no olho direito,
indagador, cheio de lava coruscante.
—
Barnave, dizia Mirabeau, tens os olhos frios e fixos; em ti não
habita a divindade.
Ah!
se o grande orador podesse ver os olhos peninsulares de Camilo!
Ha
mezes vimol-o de novo em Braga e eis como elle se nos apresenta deante
dos olhos:
O
rosto é vivo, moreno, gracioso, ainda que flagelado pela varíola; a
bocca é benevolente, e risonha, e todavia quando elle falla,
afigura-se-nos que n’aquelles labios finos e levemente desbotados se
nos entremostra uma vaga expressão do doloroso cançasso e de indizível
melancolia.
Os
cabellos da côr de azeviche, de onde, como de uma cidadella inexpugnável,
a neve dos annos refoge, vão-se empobrecendo, não chegando contudo a
desnudarem aquella cabeça febril e poderosa de poeta e
de creador.
O
bigode negro e transparente, à semelhança do de Soares de Passos,
descae-lhe negligentemente arqueado sobre o labio inferior.
As
mãos d’este prodigioso artista são delgadas, mimosas e
aristocraticas.
E,
foi com estas mãos femininas, que elle, a par de tantas creações
adoravéis, fundiu em uma hora de immorredoura inspiração a figura
obesa, vermelha, quadrangular e grotesca do Chatim da America, deante
da qual as gerações por vir soltarão uma risada colossal e enorme
como a dos Deuses à vista do satyro hediondo, hirsuto e deslumbrado
no meio dos explendores do Olympo.»
Não
nos parece que estas linhas estejam muito divulgadas, sendo também
essa a razão porque as julgamos úteis à curiosidade dos
camilianistas mais jovens, neste 1990 em que se completam cem anos
sobre a morte de Camilo Castelo Branco, e isso sem que precisássemos
de repetir novas palavras do comovido e irónico Forjaz de Sampaio,
mas lá vão, para acabar.
«Cada vez que se
olha a obra de Camilo é que se vê como ele é grande. O que se
escreveu, o que se escreve, o que se escreverá, Santo Deus. Todos os
dias afloram à superfície páginas esquecidas, coisas que ninguém
conhecia e creio que por muito tempo ainda essa tarefa continuará»...
mesmo conhecendo-se — acrescentamos nós — o exaustivo Dicionário
de Camilo Castelo Branco, de Alexandre Cabral, felizmente desde há um
ano e tal nas livrarias.
Mas reincidiremos na
lembrança doutros textos porventura mal conhecidos...
De
perdição em perdição
Juntemos
mais umas quantas prosas alheias para que os leitores mais jovens se
apercebam do impacto que certos contos e ditos de Camilo Castelo
Branco (ou de alguns seus admiradores por ele) tiveram na sociedade do
seu tempo e também depois que, por cegueira, meteu uma bala na cabeça.
Comemora-se este ano
o primeiro centenário da sua morte e a passagem de uma conferência
de Albino Forjaz de Sampaio, a que agora voltamos, tem a
particularidade de haver sido dita por ocasião do primeiro centenário,
sim, mas do nascimento do notável homem de letras, que ainda hoje faz
correr muita tinta e está como que em pelourinho para ser amado e
desamado.
Um homem como
Camilo, sempre na liça batendo-se por muitas e variadas damas, desde
a literatura ao jornalismo, à política e outras formas de ganha-pão
com que sempre se debateu, deixou, por isso, monumentos de cultura,
mas também alguns rabos de palha, a que seus inimigos ou meros críticos
em todos os tempos se agarraram com unhas e dentes, porque a palha é
mole e dá acamação...
 |
Isso é dos livros e
da vida corrente, e muito especialmente do próprio autor de A Corja
que, assim, por exemplo, se atirava (salvo seja) às canelas de seus
parceiros mais chegados:
«Este Chagas que eu
nunca vi, é um lebréu do Castilho, espécie de Soromenho do
Herculano e Gomes de Amorim do Garrett. Aqui, cada prócere tem o seu
cão.»...
Ele não poupava,
nomeadamente, o próprio Gil Vicente que apodava de «criador (apenas)
da gordurosa chalaça lusitana em diálogo», assim se limitando às
«chocarrices plebeias» somente da arraia-miúda, desconsideração,
aliás, semelhante à de um Fialho de Almeida, quando disse que «quatro
milheiros de vinha bem postos, valem todas as estâncias de Os Lusíadas»...
Albino Forjaz de
Sampaio nunca se conformou foi com o facto de alguns se terem atirado
à obra de Camilo como gato a bofe, isto é, menosprezando-lhe o pano
e o feitio ou, melhor dizendo, a carne e o espírito, o sangue vivo
dos seus enredos, feitos escrita da melhor, em língua portuguesa. |
Por certo, batendo
as palavras como punhos, o conferencista enchia, assim, de murros, a
sala da Biblioteca Nacional de Lisboa: «Eu tenho ante os meus olhos
ainda uma página que li ontem e que vem na Revista de Estudos Livres,
de Teófilo Braga e Teixeira Bastos. E um artigo sobre Camilo e foi
escrito em 1884 (seis anos antes da morte do prosador). Nesse artigo,
todo ele motivado porque Camilo fora proclamado o primeiro romancista
português num plebiscito literário, se diz que a sua literatura é
pura fancaria. E mais: que ao fraco conhecimento da vida, o estilo
quase sempre afectado, a nenhuma elevação de espírito nem o menor
intuito filosófico; nada disto, enfim, que constitui a grandeza do género
literário a que nos referimos, prova evidentemente que o romancista
é duma impresciência deveras lamentável nos talentos que aspiram à
glória e à imortalidade. E que o Amor de Perdição não passava de uma
história inverosímil e doentia, que parece inspirada dos
extraordinários dramalhões antigos, etc., etc.»...
Forjaz
de Sampaio não se contém que não diga das muitas contrafacções
porque o Amor de Perdição
passou e isso provando tratar-se de uma obra querida de toda a gente,
para além de um roubo, um «escarninho martírio» da bolsa pobre do
escritor em glória, também, e sobretudo, no Brasil.
E o conferencista,
certamente vermelho de indignação, prosseguia: «O Amor de Perdição
foi impresso no tipo e nos papéis mais ignóbeis, em velhíssimos
prelos lazarentos. O português era quem quase sempre roubava o seu
patrício. Nem sempre o faria na intenção de o defraudar, não. É
que perdido naquela imensidade ele era ainda coração de português e
a tragédia de amor de Mariana, era um pouco a sua tragédia de amor.
Dizer que o Amor de
Perdição é um mau livro, lá porque é romântico, é tão tolo
como dizer que o Paulo e Virgínia, ou a Manon Lescaut deviam ser
naturalistas. Não. O Amor de Perdição é e será sempre um grande
livro. Camilo mostrou nele o seu enorme coração. Na Corja há mais a
forma literária, vocabulário preciso, boleio de período, mas a
Corja é o livro de um escritor.
No Amor da Perdição
há mais sentimento, mais ternura. É a obra-prima de um grande homem.
Quantas lágrimas ele não tem feito chorar, quanta mulher sobre as
suas páginas se não tem compadecido pelas suas personagens!»
Era o conde de
Maistre, autor de Viagem à Roda do Meu Quarto, quem dizia, há
muitos anos, uma coisa que também hoje parece estar na moda: «Há
uma regra para julgar dos livros, como a há para julgar dos homens;
basta saber por quem eles são amados e por quem odiados». Mas a esse
respeito e, pelo menos, ao Portugal do seu tempo, o próprio autor do
Amor de Perdição usava outra receita, muito mais envinagrada do que
a do engenhoso escritor francês e assim, sem papas na língua, mas
talvez esporões nos calcanhares, para sangrar bem a barriga do bicho:
«Neste país só faz estrondo o escândalo ou a chalaça. Um livro
bem pensado e bem composto apenas impressiona os dez literatos
inteligentes que por aí vivem lurados na sua obscuridade. O restante
é a malta dos noticiaristas, gentio que os porteiros de Paris
levariam na vassoura para as carroças. O senso público — a gente
que compra — como fica dito, quer que Offenbach colabore no livro»...
Zombando do escândalo
e da chalaça, também com eles o destemido polemista não prescindia,
em ocasião nenhuma, dos seus estrondos e, por isso o Amor de
Perdição talvez lhe tenha saído num período de assumida
quarentena para as lágrimas, principalmente do público com senso
bastante para lhe esgotar a obra...
Mas isto são suposições
e ainda bem que sem paralelo com as que, primitivamente, o levaram a
escrever a célebre Maria, Não me Mates que Sou Tua Mãe; e,
além disso, para os leitores de hoje, os amores são outros.
Escrevendo, muito
recentemente, sobre o seu «meu bendito País, ronceiro e manhoso como
não há outro», Agustina Bessa-Luís não deixaria de frisar o
seguinte: «O Amor de Perdição é água passada e mesmo aquele
sempre me deu que pensar. Não era amor, era raiva, e Simão tinha
mais vocação para a guerra que para o casamento».
Aqui chegados, pois,
é lógico entender-se da nossa própria mancebia ou amigância com as
prosas que vimos de transcrever a favor ou contra o Amor de Perdição,
de cujo suposto choradinho o próprio autor viria, mais tarde, a falar
em termos já então pouco afectivos para essa obra considerada máxima
ainda em 1879 (ano dessas faias) e muitas décadas após, não
positivamente apenas pelos leitores de lágrima fácil.
Não se ignora que o
país corre facilmente atrás de uma bem enchouriçada e romântica
história de amor (que nunca foram as de Camilo, nos livros e na vida
real) e bastará que, de permeio, entre uma princesa, para que todos
se esqueçam do republicanismo, e pior que isso, dos seus próprios
dramas. Só que, de repente, as badaladas, até no sino da aldeia, são
do século vinte, o que se não sabe ao certo o que é, mas não de
certeza o toque de finados que perpassa por um livro antigo, embora de
amor... e, no conceito de alguns ensaístas, «o mais bem estruturado
de Camilo» e o que melhor define «os valores íntimos do
temperamento português» (António José Saraiva e Jacinto do Prado
Coelho).
Mas vamos ao prefácio
do autor, expressamente escrito para a quinta edição dessa sua obra
e que, por esquecido, até pode assombrar os leitores mais antigos,
enquanto admite que o Amor de Perdição possa ser, agora, de leitura
para o cómico e, de novo, embrulhado em lágrimas nos tempos que vão
correndo — o seu habitual costume de dar uma no cravo e outra na
ferradura, quase ao estilo, ou à imagem e semelhança, de João da
Cruz, o ferrador...
«Se
comparo o Amor de Perdição, cuja 5ª. edição me parece um êxito
fenomenal e extralusitano, com o Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio,
confesso, voluntariamente resignado, que para o esplendor destes dois
livros foi preciso que a Arte se ataviasse dos primores lavrados no
transcurso de dezasseis anos. O Amor de Perdição, visto à luz eléctrica
do criticismo moderno, é um romance romântico, declamatório, com
bastantes aleijões líricos, e umas ideias celeradas que chegam a
tocar no desaforo do sentimentalismo. Eu não cessarei de dizer mal
desta novela, que tem a boçal inocência de não devassar alcovas, a
fim de que as senhoras a possam ler nas salas, em presença das suas
filhas ou de suas mães, e não precisem de esconder-se com o livro no
seu quarto de banho. Dizem, porém, que o Amor de Perdição fez
chorar. Mau foi isso. Mas, agora, como indemnização, faz rir:
tornou-se cómico pela seriedade antiga, pelo raposinho que lhe deixou
o ranço das velhas histórias do Trancoso e do padre Teodoro de
Almeida.
E
por isso mesmo se reimprime. O bom senso público relê isto, compara
com aquilo, e vinga-se barrufando com frouxas de riso realista as páginas
que há dez anos aljofarava com lágrimas românticas.
Faz-me
tristeza pensar que eu floresci nesta futilidade da novela, quando as
dores da alma podiam ser descritas sem grande desaire da grannitica e
da decência. Usava-se então a retórica de preferência ao calão. O
escritor antepunha a frequência de Quintiliano à do Colete-encarnado.
A gente imaginava que os alcouces não abriam gabinetes de leituras e
artes correlativas. Ai! quem me dera ter antes desabrochado hoje com
os punhos arregaçados para espremer o pus de muitas escrófulas à
face do leitor! Naquele tempo, enflorava-se a pústula; agora, a carne
com vareja pendura-se na escápula e vende-se bem, porque muita gente
não desgostosa de se narcisar num espelho fiel.
Pois
que estou a dobrar o cabo tormentório da morte, já não verei onde
vai desaguar este enxurro que rola no bojo a ideia Novíssima. Como a
honestidade é a alma da vida civil, e o decoro é o nó dos liames
que atam a sociedade, lembra-me se vergonha e sociedade ruirão ao
mesmo tempo por efeito de uma grande evolução-rigolboche. A lógica
diz isto; mas a Providência, que usa mais da metafísica que da lógica,
provavelmente fará outra coisa. Se, por virtude da metempsicose, eu
reaparecer na sociedade do século XX, talvez me regozije de ver outra
vez as lágrimas em moda nos braços da retórica, e esta 5.ª edição
do Amor de Perdição quase esgotada».
Assim mesmo, porque
só ingenuamente se poderia pensar que o extraordinário narrador e
polemista fosse capaz de abjurar um livro seu, assim o dizendo com
referência a outro escrito e da seguinte maneira: «... e já que
jurei comigo defender bem ou mal o que da minha pena saísse, aí está
reconhecido esse filho, dou-o por meu, e nada se me dá que ele seja
feio, e desajeitado».
Feio seria ele de
feições, mas não desajeitado ou podão na escrita, sendo aliás de
lembrar quanto à feiura da cara que a própria Ana Plácido dizia
para a criada: — Olha, se o não conheces, entrega a carta ao mais
feio que lá estiver... E a empregada não se enganou!...
Mas, ainda sobre o
prefácio e para acabar esta abordagem a tanto Amor de Perdição, é
bom não esquecer que em tal prefácio Camilo apoucava o livro só
para, mais veladamente, gozar os seus rivais do romance naturalista,
tendo-lhe os mesmos pago essa afronta em estranha outra moeda, visto
que não fizeram sequer figura de corpo presente no seu enterro.
Um tiro como ponto
final
Foi
depois de ter sido observado por um médico oftalmologista de Aveiro
que lhe receitou as termas do Gerês (por não ter remédio. para a
sua cegueira) que Camilo Castelo Branco ou, porventura, o
autodenominado «cadáver representante de um nome que teve alguma
reputação gloriosa neste país, durante quarenta anos de trabalho»,
sacou do revólver e pôs termo à vida.
Literariamente, à
moda de um outro suicida, chamado Mário de Sá-Carneiro, muito mais
tarde, prevendo o mesmo fim, a coisa poderia ter-se passado da
seguinte maneira:
«Sim, sim! Sou eu o
primeiro homem que não morre... (indo ao encontro da morte). Colombo
descobriu a América, Vasco da Gama a Índia... eu descobrirei a
Morte... Um pensamento me atravessou agora o espírito: serei um
louco? Talvez, é possível... Sou um louco, um louco... Que me
importa?... Quero saber, quero saber!...
......................................................................................................................................
Os ponteiros avançam...
Um minuto... trinta segundos... quinze segundos... um tiro»...
E, ainda
literariamente, viria Fernando Pessoa para ajudar à missa: «Estou
morto: E contudo, por caminhos não conhecidos dos homens, tem a minha
história que ser contada aos homens para que aprendam. Por caminhos
que não são da terra, cada dor que sofri tem que ser escrita, para
que eviteis o que eu não evitei e vos afasteis daquilo de que eu me não
afastei. Estudai a minha história com atenção, pois há nela mais
do que sabeis».
Tão tétrica como
literariamente, poderiam também estar por perto Os Canibais de Álvaro
do Carvalhal, e logo o morto: «Medistes — diz —, medistes toda a
grosseira fragilidade, toda a. acanhada contextura da comédia humana
em que, por zombarias do acaso, tivemos o nosso papel. Aprendestes de
mais para rir na adversidade. Coragem, pois! A vida é um sangrento
escárnio, que se paga com outro escárnio. Deixai as lágrimas às
mulheres, para que se não diga que tudo lhes tiramos.
Eu estou sereno. Que
importa que...? Margarida (outro nome qualquer)... o visconde...
Sabeis!... / Comemo-lo — respondem os outros com voz de dentro. /
— Comemo-lo — repete o venerando ancião»...
Nada, porém, se
passou assim, ainda que, neste chorrilho de considerações literárias,
pudéssemos recorrer ainda a um naco poético de Ernest Hemingway,
outro mais inesperado suicida:
«Dorme
ele agora
Com essa cabra velha, a Morte,
Que ainda ontem três vezes se negou.
Repitam comigo
Dorme ele agora
Com essa cabra velha, a Morte
Que ainda ontem três vezes se negou...
Esperem. Aguardem que eles terminem.
Continuemos,
Negaste-a?
Sim.
Três vezes?
Sim.
Repitam comigo.
Aceita esta cabra velha, a Morte,
Por legítima esposa
Diante da lei?
Sim.
Sim.
Sim»...
Alexandre
Cabral já tudo relatou acerca das circunstâncias em que ocorreu a
morte de Camilo e, sobre poesia, o próprio autor do soneto Amigos,
cento e dez e talvez mais, deixou claramente dito que ela «não tem
presente — ou é saudade ou esperança», logo passado e também
futuro, o que, na prática, pode ser que não, conforme os casos...
O apagamento físico
de Camilo foi o que se sabe, mas o seu funeral não correu melhor. E,
de novo, recorremos, nesta última série de transcrições, ao
testemunho falado de Albino Forjaz de Sampaio que, por ocasião da
primeira comemoração do nascimento do grande escritor, produziu um
agreste e furibundo discurso contra os seus detractores presentes e
passados, e do qual extraímos mais a seguinte passagem:
«No seu tempo, o
Porto, que hoje o celebra, odiava-o. O seu enterro foi menos
concorrido do que o do mais modesto juiz de paz. E houve impas de
satisfação. Morrera o homem temeroso, o gigante capaz de esfarelar
os homúnculos que o povoavam»...
Os jornais pouco
falaram dele; e para dizer que «o cortejo atravessou a cidade, no
meio da indiferença geral e quase despercebido», para mais que sem a
presença de um só notável, seu confrade das letras, a quem a morte
trágica de um homem infeliz pudesse causar o esquecimento de algumas
afrontas.
Numa carta a Tomás
Ribeiro, citada por Alexandre Cabral, Camilo só desejaria tornar a
ter a vista que lhe faltava «para poder trabalhar até morrer», o
que, aliás, terá feito, já em mortificação completa, até que se
deu um ponto final de pólvora e chumbo em toda a escrita, não
podendo, nunca mais, saber que o seu corpo chegaria «ao Porto num
furgon de mercadorias, sem tochas, nem pano negro nem cortejo na gare»,
conforme descrição feita, mais tarde, por Fialho de Almeida, em
carta ao poeta António Feijó.
Também, de todo em
todo, não sabe que ao seu enterramento «não compareceu um único
escritor ou artista» e que isso também agora acontece em vida de
muitos escritores contemporâneos, para quem servirá, na emergência,
uma certa cantiga popular, que reza assim:
Quem
a mim ouvir cantar,
Cuidará que estou alegre;
Tenho o coração mais negro
Que a tinta com que se escreve.
A
respeito de tinta (da tinta de que os escritores se entornam verbo),
talvez venha a propósito conhecer a de Vitorio Nemésio, precisamente
sobre a maneira como o torturado de Seide mal a poupou em tão vasta
obra: «Camilo teve o condão de imolar o seu infeliz destino à tinta
de escrever. E, quer contando-se às claras — como nas Memórias do
Cárcere, no Bom Jesus do Monte e em tantos outros livros —, quer
insinuando-se no perfil de galãs e heroínas a sua própria silhueta
e a sombra das mulheres que amou, criou uma autobiografia
intermitente, como que irresistivelmente brotado dos lances da novela
entre mãos, que é um dos ingredientes da sua aura incomparável,
mais viva talvez que a de Camões».
E de rios de tinta,
para e sobre Camilo, falava ainda Forjaz de Sampaio, por assim dizer
pretendendo antecipar-se a um dito de Torga sobre os seus próprios
gastos nessa matéria: «O meu espaço de liberdade é o mapa de
Portugal subentendido na folha de papel onde escrevo».
Esta a frase do
autor dos Contos da Montanha, porque as do autor das Palavras Cínicas
e mesmo da obra Porque Me Orgulho de Ser Português, gastavam assim
suas tintas a favor desse tão incomparável génio das letras e da
desventura:
«Camilo Castelo
Branco, considerado bibliograficamente, não é uma espécie livresca,
uma etiqueta bibliográfica, é uma bibliografia inteira. Ele é no
mapa desta Biblioteca (Nacional de Lisboa) repositório de tudo quanto
há impresso em Portugal, um rio de tinta como o Amazonas, um monte de
livros como o Himalaia. Em qualquer ponto da carta que nos coloquemos
não podemos deixar de dar por ele. Pelo rugir da sua torrente como o
Amazonas, pela sombra da sua grandeza como o Himalaia. E, todavia, a
projecção da sua obra é ainda insignificante. À medida que Camilo
entra no tempo a sua sombra cresce. Parece que a Morte está dando
quinau nos vivos, como aqueles entendedores de arte que comprando por
macuta e meia preciosidades de que, para comprar, desdenhavam, depois
as mostram em plena riqueza, numa beleza estonteante. A Morte está
agora a dizer-nos que tem lá, que é todo seu o homem ante o qual a
gente se prosterna. E, que em nossas mãos, tão mal compreendido foi.
Porque Camilo, o grande, só por grandes pode ser compreendido».
Na sua incomensurável
admiração pelo «número um» das letras e tretas deste país,
Forjaz de Sampaio, também ele, não faz contas à tinta e, depois, à
saliva que consome em tão frenético panegírico escrito e oral, que
julgamos perdido na memória, dos biógrafos de Camilo e, daí, que o
tragamos, parcialmente, à baila, também para que os mais moços
tomem o pulso a esta antiga forma de se falar acerca de certos vultos
do nosso pequeno-grande mundo literário, cada vez menos de trazer por
casa...
A conferência a que
nos reportamos foi pronunciada em 15 de Março de 1925, eram
decorridos cerca de 35 anos sobre o dia em que o grande profissional
das letras, por vontade própria, se finou (1 de Junho de 1890) e o
conferencista passava a pente fino todos os sucessos e recessos da
vida e obra de alguém que, popularmente, é dito ter sido «génio e
figura até à sepultura».
Desta maneira,
ainda: «Camilo é grande em tudo. Grande no amor, grande no
sofrimento. Grande pelo génio, grande pela obra que deixou. Esta, que
V. Ex. irão ver noutra sala (exposição bibliográfica camiliana),
é que é o seu verdadeiro monumento. O alicerce está nos
Pundunores Desagravados, no Juízo Final, no Agostinho
de Ceuta, na Maria Não Me Mates, o remate encontra-se no
voluminho Nas Trevas. Toda esta fábrica um braço levou da
mente ao tinteiro e do tinteiro ao papel. De 1845 a 1890, quarenta e
cinco anos a embrulhar o coração em mortalhas de linguados! E não
havia ele de cegar! E não havia de meter uma bala na cabeça!»...
Quando isto passamos
à máquina, tendo a mesa pejada de papéis e alguns retratos de
Camilo, chega alguém que nos lembra vir O Seringador deste ano
carregadinho de anedotas «à moda de Bocage, desse senhor das letras
e antigo caceteiro de Vila Real». E quem diz o Seringador diz também
o Borda d’Água, «com pensamentos bonitos de Camilo sobre as
mulheres, que ele tratou com quatro pedras na mão»...
Será a lenda e
vamos, depois disso, ao encontro da senhora Margarida de Lobrigos, lá
do Douro, cuja fresca memória para as redondilhas do seu tempo é um
portento. Mas não se lembra de nada de Camilo, que, aliás, era lá
mais de cima, do Marão, onde, por certo, nunca correu o folheto do Ó
filha, não me esfaqueies que sou tua mãe. Tem, porém, sobre amores
de perdição, outras cantigas como, por exemplo, estas duas, mais ou
menos ligadas entre si:
Batatas
e castanholas,
Bacalhau, peixe do rio,
Raparigas de Além-Douro,
Rapazes de Mesão Frio.
Em
Além-Douro anda a guerra,
Eu bem oiço cá os tiros,
Já os sinto combater:
Os teus ais com meus suspiros!
|