|
Pobres moleiros, tristes, solitários,
Quebra-se a roda, já não moem pão».
Adolfo Portela, Poema das Águas
O concelho de Águeda
abrange uma grande área repartida entre a serra e a planície. A
parte montanhosa fica «toda ela ao nascente, para as bandas de
Belazaima, Agadão, Castanheira, Préstimo, Macieira de Alcoba, e
ainda Macinhata do Vouga, abrangendo tudo uma estreita faixa do
concelho, de norte a sul. As restantes regiões são todas de
configuração mais ou menos plana, com pequenos outeiros e cabeços,
quer em cadeia, quer isolados, os quais se estendem na direcção
nascente poente e acompanham os três principais rios do concelho
— Vouga, Águeda e Cértima» (1).
|
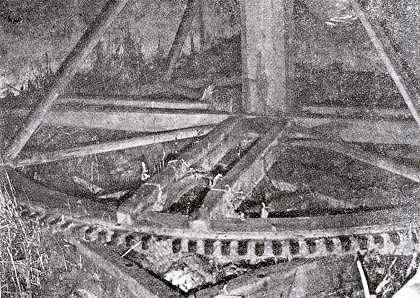
|
|
|
Exemplar de
uma atafona em Ois da Ribeira, em perfeito estado de
funcionamento. |
|
Três rios!...
Mas outros há em rede por toda a parte do concelho, mais ou menos
caudalosos, em cujas margens, e por benefícios das suas águas, o
campo frutifica exuberantemente e o moinho, obra sublime de uma
experiência popular de séculos, se ergue aqui e ali, a rodar
noite e dia, transformando o milho, o trigo e outros cereais em
alvo lençol de farinha que, mais tarde, no pequeno forno de cada
lar, se tornará pão.
Milho, trigo,
centeio, eis a trindade que, desde sempre, constituiu a base
alimentar, mais ou menos sólida, da boa gente do malhão. Para
tanto, basta folhear as páginas amarelentas, com cheiro a pó e a
bolor, e ameaçadas pela traça, de alguns documentos do Arquivo e
Biblioteca Municipal de Águeda, para nos apercebermos disso.
«De todo trigo
çemteo çevada milho paymço avea ou de farinha de cada um delles...
se pagara quando se tirar pera fora...» (2). Assim nos fala
eloquentemente o foral de Ois, Espinhel e Fermentelos. O mesmo
sucede com o de Segadães, de 20 de Março de 1516, onde, a dado
passo, se afirma que os seus «doze cazaes e meyo» pagavam «deiradegas
seis alqueires de trigo... e outros tanto de milho do monte»; os
de Travassô «cada hum dos doze cazaes eiradegas seis alqueires
de trigo, e outros seis de milho»; os «dous cazaes e meyo» de
Eirol, «igualmente ametade deIles de quatro hum e outra ametade
de cinco hum»; os «quatro cazaes» de Cabanões «pagam
deiradega trez alqueires de trigo e outros tres de milho e de fogaça
seis alqueires de trigo»; e, finalmente, «os quatro cazaes e
quarto» de Oronhe «pagam por emprazamentos por prazos novos
deiradega trigo trez alqueires, de milho outros trez e davea
outros trez, de fogaças... de trigo cinco» (3). Na vila de Casal
de Álvaro e seu termo, lavraram-se, em 1817, «de trigo cento e
quinze alqueires», «de centeio... tresentos e vinte e oito
alqueires», de «milho... mil novecentos e quarenta alqueires»
de «cevada... vinte alqueires», de «trigo... sincoenta
alqueires» (4).
|
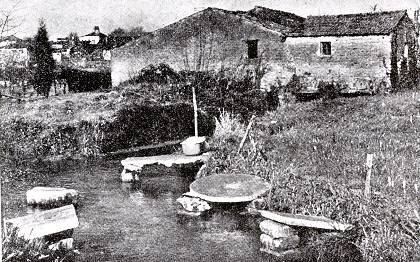
|
|
|
Moinho de água de
Macieira de Alcoba. |
|
Por seu lado, ao
terceiro quesito que, pela Junta da Reforma dos Forais, foi
expedido e remetido à Câmara de Assequins, esta, em sessão de 4
de Março de 1826, respondeu que «o foral diz haverem na villa
vinte cazaes e meyo, de que manda pagar cada hum pela vélha dés
algres de trigo a saber quatro de eiradega quejando o
lavrar o lavrador na Eira e seis de fogaça pelo Natal, e quatro
de aveia, e quatro de milho tãobem de Eiradega» (5). E logo se
acrescenta: «Em lugar dos des alqueires de trigo pela vélha, pagão-se
seis e meio pela medida nova ora corrente. Em lugar de quatro de
aveia e quatro de milho, pagão se dois e meio de cada espécie
pela nova certo desde tempo immemorial porque já se acha
mencionado no ultimo Tombo precedente». Nas Chãs partia-se «o pão
e o milho de seis e sete». No Gomoal e Cortinhal partia-se [o pão]
«e o milho de quinto». Na Giesteira os trez casais pagavam cada
«hum alqueire de trigo». Na Maçoida havia um casal que pagava
também «hum alqueire de trigo».
No entanto, e
apesar das muitas referências ao trigo, não se deve inferir daí
que o concelho de Águeda era muito farto de cereais. Com efeito,
depois de cuidadosamente analisadas todas as respostas dadas aos
19 quesitos vindos da Junta da Reforma dos Forais depara-se-nos
uma realidade bem diferente: uma situação verdadeiramente
angustiante. Os trabalhadores agrícolas que não podiam pagar
aquele cereal pela sua manifesta carência adquiriam-no fora ou,
então, pagavam, em dinheiro, o equivalente ao seu valor. Isto
mesmo se pode constatar na leitura da resposta ao quesito n.º
17:
«O trigo sabido
que se paga não he ordinariamente produção da terra obrigada,
porque / este País he pouco predomínio de trigo.
Os lavradores se
vem na necessidade / de pagar os foros ao Senhorio por alto preço».
E logo se
acrescenta que «a sua redução a milho serviria de alivio aos Póvos».
Contra tal
exploração se levantaram os lavradores através dos Oficiais da
Câmara. Da resposta ao quesito n.º 9 (Qual é a obrigação
proveniente de Forais que mais vexa os Foreiros?) saiu a seguinte
informação:
«Primeira: As
excessivas Reções principalmente / de quatro sendo pagas sem
deduzir a semente / e mais despezas de cultura desanimando-se os /
lavradores com receio de fazerem as despezas / que são certas,
sendo incerto o seu lucro. / E por isso os lavradores deste
concelho e em seu / nome os officiais da Camera humildemente /
suplicão a Vossa Magestade Imperial e Real a / Graça de ordenar
que as Rações sejão pagas de / duzidas as despezas da cultura
ou que para / a sua compençassão se deixe metade dos frutos /
aos lavradores izenta da ração.
«Segunda: A
obrigação de levar ao Seleiro do Senhorio he outro vexame para
os Povos. Pois / ainda que esta condução não paressa muinto /
trabalhoza, Rezultão della graves inconvenientes, porque os
lavradores ordinariamente se / esquessem de o fazer e são depois
violentados / a pagar os frutos a dinheiro por preços excessivos.
O senhorio mesmo ou seu / Rendeiro he nisto prejudicado pela falência
/ de muintos devedores pobres; quanto alias / se tivesse cobrado
as Rações logo depois da / colheita por caza dos lavradores,
como se / pratica com o Dízimos não teria sofrido tais falencias.
Ao menos para
evitar / o Excesso do preço dos frutos exigido pelos Ren / deiros
seria justo declarar-se que estes somen / te os podessem cobrar
pela tarifa da Camera.
«Terceira — A
obrigação da cobrança dos foros por ca / beceis (6) trienais
que cobrando os dos Lavra / dores os serem por inteiro ao saleiro
do senho / rio, he outro grande vexame que tem o / cazionado a Ruína
de varios Lavradores /
Tal obrigação
não he imposta na / Letra do Foral. / O Senhorio he que tem
imposto no seu Tombo. / Mas o Senhorio ou seu Rendeiro po / dia
com facilidade cobrar os foros juntamente com as Rações da mão
de cada la / vrador» (7).
Por toda a
parte, ao longo dos rios, ribeiros, corgas e regatos se foram
levantando moinhos de água, de um, dois ou mais rodízios, sem
esquecer as atafonas, também chamadas moinhos de sangue, ou os
moinhos de vento, ainda que muito mais raros. Destes, pouco ou
nada resta. Apenas os nomes que deram a certos locais continuam a
recordar a sua presença em tempos mais ou menos recuados.
Raríssimas são
também as atafonas, moinhos domésticos puxados por muares, bois
ou cegos (8) Destas, descobrimos um belíssimo exemplar em Ois da
Ribeira, apta, se porventura fosse caso disso, a recomeçar
eficazmente o seu trabalho de outrora.
Qual a diferença
que vai da atafona ao moinho ou azenha?
Di-no-lo o Dr.
José Leite de Vasconcelos pela boca de D. João de Portugal, de
Campo Maior: «...a atafona é um engenho muito simples, montado
dentro dum casebre e movido por tracção animal, como se usa para
tirar as águas dos poços e nas noras das hortas. (9).
Este primitivo
engenho de fazer farinha já, em 1919, estava em vias de extinção
e como ele a arte de atafoneiro, que teve um certo prestígio nos
primórdios da nossa nacionalidade, prolongando-se até pelos
tempos fora, como aliás, o atesta a existência, no Arquivo
Municipal de Lisboa, do Regimento dos Atafoneiros, inserido na
colecção de regimentos de Duarte Nunes de Leão, de 1572 (10).
No princípio do século XVI só na cidade de Lisboa havia 264
atafonas as quais, juntamente com os 300 moinhos do seu termo, ao
avaliar pela sua maquia, moíam em cada dia quase quatrocentos
moios de trigo.
No entanto,
apesar de numerosos e de serem examinados, os atafoneiros não
formavam corporação e havia até penas muito pesadas contra as
suas infracções. Na verdade, «por uma provisão de 10 de Maio
de 1542, D. João III autorizou que a Câmara de Lisboa pudesse
aplicar as seguintes penalidades ao atafoneiro que defraudasse os
que lhe entregavam trigo para moer: quando o atafoneiro desse
menos farinha do que a devida, seria exposto no pelourinho à
vergonha, onde estaria duas horas em exposição; e pela reincidência
se lhe aplicariam 70 açoites, e por este facto não podia ser
mais atafoneiro» (11).
O moinho de água
é bem mais complexo. A sua origem perde-se no tempo, não
havendo, quanto a este problema, grande unanimidade de opiniões.
Para Jean Gimpel,
os primeiros forem construídos provavelmente por volta do final
do século II a.C., acrescentando que a mais antiga referência se
encontra na obra de Estrabão, onde se assinala a existência de
um exemplar em Cabira, no palácio de Mitrídates, rei do Ponto. Aí
o encontraram os exércitos vitoriosos de Pompeu, no ano 63 a.C. Só
entrou em Roma no fim do século I antes da nossa era, sendo muito
melhorado pelos engenheiros romanos, que conseguiram sextuplicar o
seu rendimento (12). Quem primeiro descreveu o seu mecanismo foi o
engenheiro romano Vitrúvio, no seu Tratado de Arquitectura (Livro
X).
Quando teriam
chegado à Península Ibérica?
Alberto Sampaio
afirma que «dada a completa ausência deles, é de supor que os
cereais continuaram a ser moídos nas mós antigas, enquanto não
foram importados os novos moinhos de água, que não tardaram
muito» vulgarizando-se «rapidamente, em consequência da abundância
de correntes aproveitáveis para este fim. (13). A sua presença
durante a monarquia visigótica é-nos atestada pelo Código que
legisla a respeito deles (14).
As azenhas,
segundo Viterbo e outros autores, só deveriam ter aparecido por
volta do século X, dada a sua proveniência árabe. O mesmo autor
afirma que no «Livro X dos Testamentos de Lorvão, n.º 67,
68 e 72 se faz menção de moinhos d’água na ribeira de Forma,
junto de Coimbra deixados ou comprados pelo mosteiro no tempo do
abbade Primo» (15).
Não temos
conhecimento, se bem que se indique no mapa militar que consultámos,
de qualquer azenha em actividade, facto que já não acontece com
os moinhos de água. Por toda a parte ainda se encontram bastantes
em plena laboração, podendo citar-se, entre outros, os do
Garrido, Sabugueiro, Pisão e, ainda há pouco, os do Pousadoiro,
em Aguada de Cima, os de Belazaima, Castanheira, Macieira de
Alcoba, Aguada, Espinhal, etc. Aqui encontrámos um pertencente ao
senhor Joaquim, operário metalúrgico, que nos informou que as mós
pertenceram a uma atafona de Perrães. É um moinho quase
totalmente restaurado por ele, onde se encontram ainda todas as
dependências dos seus últimos proprietários: uma pequena divisão,
já em ruínas, para habitação, um forno ainda a ser utilizado
pelo actual proprietário e em bom estado de conservação.
Segundo o senhor Joaquim, este moinho deve ser muito antigo,
porque durante a restauração se encontrou uma data do início do
século XIX.
Muitos já
desapareceram, quer por morte dos que os utilizavam, quer ainda vítimas
da concorrência dos progressos da técnica moderna (16), e com
eles, para sempre, se entretanto não se olhar bem a sério pela
protecção desta singular arquitectura de produção popular, a
figura bucólica do moleiro ou da moleirinha, outrora inspiradora
de versos admiráveis como o são, por exemplo, estes de Guerra
Junqueira:
«Pela estrada plana, toc-toc-toc,
Guia um jumentinho, a velhinha errante. (17).
Que as pessoas
responsáveis pelo pelouro autárquico não se esqueçam desta
riqueza cultural, que dificilmente outros concelhos ainda terão
em tão grande quantidade e não contribuam para que os versos de
A. Portela constituam o quadro final de todo este património
cultural com tão larga expressão na linguagem popular através
de expressões, tais como, moinho de palavras, lutar contra
moinhos de vento, levar a água ao seu moinho, águas passadas não
movem moinhos, etc.
AMÉRICO BARATA
FIGUEIRA
_____________________________
BIBLIOGRAFIA
E NOTAS
(1)
— Adolfo Portela, Águeda, 1964, p.
5.
(2)
— Foral de Ois, Espinhal e Fermentelos, in Arquivo do Distrito
de Aveiro, Vol. IX, 1943, pp. 34-43.
(3)
— Certidão do Foral da ViIIa de Segadães, in Actas das Sessões
de Arrancada, Concelho do Vouga, flls. 1-12 v.
(4)
— Autto de Camera para declaração dos frutos que se lavrarão
na VilIa de Cazal d’Alvaro e seu termo..., de 14 de Março de
1817, fl. 44.
(5)
— Auto de Camera e Resposta q. esta deu aos Quezitos sobre o
Foral de Assequins, fl. 26v, iri Actas da Camara de Assequins,
(4.3.1826).
(6)
— Cabecel ou casal encabeçado, segundo Viterbo, era o nome que
se dava ao «casal ou prazo fatiosim que, dividido por muitos ou
alguns colonos, um só, a que chamam cabeceira, cabeça ou cabecel
é obrigado in solidum a responder pela pensão e foros, cobrando
os dos mais pessoeiros e, entregando-os, ele só ao direito
senhorio».
(7)
— Auto de Camera e Resposta q. esta deu aos Quezitos sobre o
Foral de Assequins, fIs. 29-30.
(8)
— Amador Arrais, IV, cap. 22, p. 319: «...há entre atafonas de
mãos em que os cegos ganham de comer»; Carta de D. Henrique a
favor de Tristão Teixeira, in Magalhães Godinho, Documentos
sobre a expansão portuguesa: «E outrossim me praz que o tido
Tristão haja para si todos os moinhos que houverem na parte desta
ilha [Madeira] de que assim tenho cargo que ninguém faça aí
moinhos senão ele ou quem a ele aprouver e nisto se não entenda
mó de braço que a faça quem quiser não moendo a outrem e não
faça atafona»; Banha de Andrade, Atafona, in Enciclopédia
Luso-Brasileira de Cultura, VoI. II, col. 1698; Raul Brandão,
Ilhas Desconhecidas, p. 44: «Olho para... os bois que passam com
solenidade e que vão moer pão nas atafonas»; etc.
(9)
— José Leite de Vasconcelos, Etnografia Portuguesa, Vol. VI, p.
8.
(10)
— Banha de Andrade, Atafona, in Enc. Luso-Brasileira de Cultura,
VoI. II, col. 1699.
(11)
— ATAFONEIRO, in Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira,
Vol. III, p. 612.
(12)
— Jean Gimpel, A Revolução Industrial na Idade Média. Publicações
Europa-América, Lisboa, 1976, p. 13; Jean Cousin, A República
Romana, in Roma e Seu Destino, Edições Cosmos, Lisboa, 1964, p.
81.
(13)
— Alberto Sampaio, Estudos Históricos e Económicos. «As
VilIas do Norte de Portugal., (voI. 1.º), Lisboa, 1979, pp.
85-88.
(14)
— H. da Gama Barros, História da Administração em Portugal
nos Séculos XII a XV. Lisboa, 1950, T. IX, p. 30.
(15)
— Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, Elucidário, VoI. I, p.
697.
(16)
— Segundo informações do senhor Joaquim lá se encontram em
Espinhel alguns pequenos moinhos eléctricos em casas
particulares.
(17)
— Guerra Junqueiro, A Moleirinha, in Os Simples.
|