|
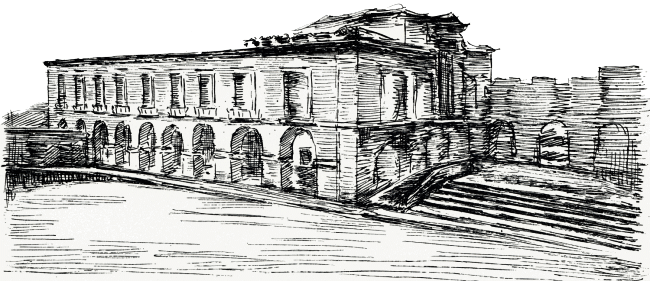
Paços dos Condes da Feira.
PRÓLOGO
Há seis décadas, na freguesia onde
nasci, poucas eram as pessoas que não conheciam lendas relacionadas
com os mouros do Castelo. Verifico agora o contrário: das novas
gerações, raras são as que conhecem alguma coisa sobre essas lendas.
Mesmo na Vila, onde, pela proximidade do Castelo, era natural que a
memória delas se conservasse mais viva, dá-se o mesmo fenómeno: é
insignificante o número de pessoas que delas têm algum conhecimento.
Da mente do povo já muitas lendas
desapareceram e outras estão em vias de desaparecer, o que é pena,
porque algumas são bastante interessantes e dignas de serem
conhecidas.
Para que de todo não se perca a sua
memória se faz a presente publicação, trabalho muito incompleto, mas
que terá o merecimento de servir de estímulo e de dar uma pequena
ajuda a outros escritores que, com conhecimento mais amplo e
perfeito do lendário do nosso Castelo, venham a tratar deste
assunto. Assim poderá um dia aparecer um trabalho completo, que
muito enriquecerá o património cultural do nosso concelho.
*
*
*
O CASTELO DA FEIRA
Breve resenha histórica
Fortaleza militar, cuja primeira
construção se perde na nebulosidade dos tempos, ergue-se altiva e
imponente no cimo de um outeiro de onde se abarca uma paisagem
deslumbrante.
Quem a fundou?
A tradição oral e mesmo escrita diz
que foram os mouros, mas é facto que não pode merecer contestação
que, quando estes invasores chegaram ao local onde se
/ 42 /
encontra o castelo, já lá existia um povoado. A comprová-lo, há três
inscrições romanas ali encontradas, uma em 1912, outra em 1917 e a
última em 1937.
Diz a primeira:
«Ao benevolo deus Tueraeus consagrou
este monumento Arcio, filho de Epeico, bracare de nação».
E a segunda:
«Lucio Latrio Bleso cumpriu de
boamente o voto que fizera a (o deus) Bandevelugus Toiraecus.»
A terceira está bastante mutilada,
pelo que não é possível fazer a sua leitura.
Estes achados sugerem-nos, em
primeiro lugar, a existência de um templo. Ora, para haver um
templo, era preciso que o povoado tivesse certa importância. Em
segundo lugar, a circunstância da localização deste povoado no
cabeço de um outeiro, aliada à importância que forçosamente temos de
atribuir à povoação, leva-nos a crer ter havido no local um castro
ou castelo, erguido para defensão dos seus moradores. É, portanto,
verosímil atribuir a fundação do castelo aos romanos e não aos
mouros como refere a tradição.
*
*
*
Permaneceu a fortaleza na
obscuridade durante muitos séculos.
A primeira referência
verdadeiramente histórica foi registada pela Chronica Gothorum que
diz: Era MLXXXIII.Xc calend. aprilis rex donnus Vermudo habuit
victoriam de mauris, pugnavit cum eis, et cepit ibi regem eorum
Cemia in Villa Cesari in territorio castelli S. Marie.
Esclarece-se que esta data está
errada, pois Bermudo III faleceu em 1037. (Enciclopédia Luso
Brasileira).
Daqui em diante, a existência do
castelo acha-se bem documentada, como vamos ver.
Osberno, 1147, fala-nos dele: Est
castrum quod dicitur Sanctae Marie interfluvium Doira.
D. Afonso Henriques furtou-o à mãe e
com a ajuda da sua guarnição a combateu e venceu em S. Mamede.
D. Sancho I no seu testamento
refere-se-Ihe: ...et Castello sancte marie, uxor mea, Regina Domna
D., et filie mee ad tutionem corporum. et rerum suarum intrare
voluerint recipiantur a Militibus...
D. Dinis doou-o à sua esposa rainha
Santa Isabel. Em 1323, na sua revolta contra D. Dinis, seu pai, por
causa do bastardo Afonso Sanches, D. Afonso, o futuro D. Afonso IV,
dele se apoderou.
D. Pedro I fez dele menagem a
Gonçalo Garcia de Figueiredo.
D. Fernando fez mercê das terras de
Santa Maria ao conde de Barcelos, irmão da rainha D. Leonor Teles.
Por morte de D. Fernando, este D. Afonso Tello apoderou-se do
castelo, mas foi vencido por D. Gonçalo Coitinho que, num rasgo de
heroísmo o conquistou para o serviço do Mestre de Avis. Mais tarde,
já senhor da coroa de Portugal, D. João I fez mercê dele (não das
terras que ele encabeçava) a João Rodrigues de Sá, mercê confirmada
depois a seu filho Fernão de Sá por el-rei D. Duarte. Como D. João
Afonso Tello se havia declarado por Castella, el-rei D. João I doou
todas as terras que lhe pertenciam (as terras de Santa Maria) a
Álvaro Pereira e na posse dos Pereiras elas se conservaram até à
extinção da Casa da Feira e sua incorporação na Casa do Infantado.
Temos assim, na altura da doação, o domínio do castelo separado do
domínio das terras de Santa Maria. Ora a posse do castelo tinha mais
de honorífica do que de proveitosa. Por isso a família dos Sás se
foi desinteressando dele, deixando-o chegar a um estado de
verdadeiro abandono. Valendo-se desta circunstância, Fernão Pereira,
terceiro Senhor das terras de Santa Maria, representou a D. Afonso V
no sentido de este monarca lhe fazer mercê do castelo, pois «à sua
própria custa o queria correger, refazer e reparar de muros,
paredes, casas e todas as outras coisas que fossem necessárias para
sua fortaleza e defensão». Concedida a mercê que pedira,
desobrigou-se do compromisso tomado, fazendo-lhe todas as obras
necessárias.
Conservou-se o castelo na posse dos
Pereiras até ao falecimento do oitavo conde D. Fernando, último do
seu ramo por ter falecido sem sucessão. Por esta razão D. Pedro II
integrou-o na Casa do Infantado. Revertendo posteriormente à coroa
veio a ser incorporado com suas terras anexas, nos bens da Casa do
Infantado, os quais, subsequentemente ao triunfo da monarquia
liberal, foram vendidos em hasta pública (1837). Daqui em diante
entrou em verdadeiro período de abandono. Mais tarde (1881) por
efeito do relatório apresentado por Inácio de Vilhena Barbosa
publicado no D.º do G.º n.º 62 daquele ano, foi classificado de
monumento nacional.
Durante o período a que esteve
votado ao abandono pelas autoridades, recebeu algumas benfeitorias
de particulares que se interessaram pela sua conservação,
evitando-se assim que se viesse a tornar num montão de ruínas.
Em 1909 foi criada uma «Comissão de
Vigilância pela Guarda e Conservação do Castelo da Feira» que, como
o título indica, se atribuiu a sua vigilância e conservação, o que
tem feito até ao presente.
A Direcção-Geral dos Monumentos
Nacionais em trabalhos prolongados de 1935 a 1938, restitui-o ao seu
maravilhoso esplendor quatrocentista.
*
*
*
A forma do Castelo não foi sempre
aquela que actualmente nos apresenta. Passou por diversas
reconstruções e em várias épocas que lhe modificaram a feição.
/ 43 /
«A grandiosa fábrica de linhas
sóbrias e majestosas, não é já senão em parte mínima, aquele
velhíssimo Castelo denominado de Santa Maria».
Algumas das reformas e reconstruções
por que passou, facilmente se podem reconhecer ainda:
● nos vestígios romanos que ficaram
na entrada da torre;
● nas paredes da torre de menagem,
numa linha irregular de antigas ruínas diferenciadas pela alvenaria
miúda em contraste com a cantaria grossa e aparelhada;
● nas antigas muralhas da torre,
reforçadas com pedra grossa pela parte de dentro;
● nos restos de uma construção
anterior ao século X ou XI, numa velha ameia ao Norte;
● e, finalmente, na grande
reconstrução de Fernão Pereira.
A actual forma arquitectónica do
Castelo deve remontar ao tempo de D. Afonso V.
PAÇO OU ALCAÇAR DOS CONDES
Quem visita o Castelo fica admirado
de não encontrar quaisquer dependências que pudessem ter servido de
moradia aos seus ilustres senhores – os Condes da Feira – e então
faz-se esta pergunta: onde viveram?
Na vasta esplanada ou praça de armas
do castelo tiveram eles o seu alcaçar. Hoje está tudo limpo, sem
quaisquer vestígios que nos possam dar a conhecer a sua existência.
Abandonado pelos homens, o tempo o
tomou à sua conta e o fez derruir. Fazia pena ver aqueles montões de
pedra, cobertos de silvas a mostrar ao visitante o desleixo, o
desinteresse das pessoas ou entidades responsáveis pela sua
conservação.
Que contraste entre as suas pedras
tombadas e a grandiosidade da torre de menagem. Mas, mesmo caídas,
aquelas pedras tinham ali o seu lugar próprio. A arcaria, as
varandas e portas ornamentais de granito, eram dignas de ser
conservadas mesmo em ruínas.
Velhinhas de séculos, apesar de
mortas, aquelas pedras davam vida ao ambiente porque eram páginas da
história a falar ao visitante. Uma ideia em má hora germinada fez
demolir em 1929 os restos do Paço dos Condes e transportou-os para a
Vila onde os reergueu.
Foi um erro. Ainda se toleraria que,
por falta de verba para a sua reconstrução, o alcaçar fosse removido
para desobstrução da espionada, mas nunca para ser levantado noutro
sítio. O dinheiro gasto no transporte de pedra e nas obras que foram
feitas devia chegar para a sua reconstrução no próprio local, onde
se poderia ter criado um belo museu.
Demais, aquelas pedras, fora do seu
ambiente, nada poderiam dizer ao forasteiro que as contemplasse.
Enfim, o sacrilégio foi tão grande, que até a própria Natureza,
indignada com a passividade dos homens perante aquele atentado de
lesa-história, se revoltou e, tão violentamente, que acabou por tudo
destruir. (Ciclone de 15 de Fevereiro de 1921).
Que saibamos, por culpa dos homens,
nada resta hoje do que foi o Alcaçar dos Condes da Feira.
O CASTELO NA LENDA – A SUA CONSTRUÇÃO
Quando eu era criança, gostava de
ouvir às pessoas de idade as histórias que, a propósito do castelo,
elas contavam dos mouros e das mouras encantadas. Por mais
inverosímeis que fossem, os seus narradores imprimiam-lhes sempre um
ar de verdade, verdade que talvez eles mesmos acreditassem. É
baseado naquelas narrativas que fundamento o presente trabalho.
Sabe-se hoje que a primitiva
fortaleza sobre que assenta o actual castelo não foi obra de mouros,
mas todas as narrativas o dão como obra sua. Ouçamos a linguagem do
povo a propósito da construção do castelo:
«Os mouros eram homens
extraordinários portadores de uma grande civilização, valentes,
decididos e trabalhadores, mas as mouras não lhes ficavam atrás nem
no amor ao trabalho, nem na decisão, nem na sua valentia. Quando os
homens iam para a guerra, elas substituíam-nos em todos os
trabalhos. Como estas terras pela sua configuração não ofereciam
grandes possibilidades de defesa e havia sempre o perigo de uma
guerra, pois os cristãos estavam perto, resolveram construir uma
grande fortaleza onde, em caso de ataque, se pudessem refugiar e
defender. Os que aqui habitavam eram poucos e a obra a construir
grande demais para eles. Um dia reuniram-se em conselho todos os
mouros das redondezas para avaliarem das suas possibilidades sobre a
construção. Verificaram então que os homens disponíveis eram
insuficientes para a levarem a cabo e desistirem. Ao saberem desta
resolução logo as mulheres acudiram, dizendo em tom firme: avante
com a obra; nós ajudamos. E assim fizeram. Escolhido o local,
traçada a planta no chão, deu-se começo à construção e era digno de
ver-se o esforço e entusiasmo com que iniciaram os trabalhos.
Falava-se de inimigos, era preciso andar depressa. Os homens
encarregaram-se do levantamento das paredes e demais serviços e as
mulheres do transporte dos materiais. Causava espanto e admiração
como elas carregavam à cabeça e traziam enormes pedregulhos,
enquanto, para não atrasarem os serviços domésticos, iam fiando o
linho e a lã com que haviam de tecer as suas roupas. Da mesma forma
transportaram também as madeiras. Com esta ajuda a obra crescia a
olhos vistos e em pouco tempo ergueu-se a notável
/ 44 /
fortaleza, tão solidamente construída que nem os homens nem o tempo
jamais conseguiram vencer e destruir e ainda hoje a vemos ali a
desafiar os séculos.
VER A SINA
Das várias lendas referentes aos
mouros e ao castelo que a tradição popular trouxe até aos nossos
dias, apenas temos conhecimento de uma que nos foi transmitida por
escrito. É seu autor o P.e José de S. Pedro Quintella, Cónego
secular de S. João Evangelista no Mosteiro da Feyra e Vigario da
Parochia de S. Nicolau da mesma Vila.
*
*
*
(Respostas dadas a um questionário
pelo P.e José de S. Pedro Quintella, Conego Secular de S. João
Evangelista no Mosteiro da Feyra).
Extracto do Grande Dicionário
Geográfico de Portugal-manuscrito (Vol. XV, fls. 195 e segs.) que se
guarda na Torre do Tombo – 1758.
«Em resposta a pergunta 22.ª e com
referência a antiguidades: (A segunda é no dia 24 de Junho, no qual
dia todos os homens que servem, e têm servido a República, montados
a cavalo com a bandeira da Camara adeante e os Vereadores com as sua
insignias, vão um ano à freguesia de S. João de Ver e nesta Igreja
se canta uma missa e outro à freguesia de S. João da Madeira, do
mesmo modo. Chama-se nesta terra a esta função «Ver a Sina». Não
sabemos a sua origem e a notícia que temos referiremos no compendio
das coisas menos verosímeis»).
Notícia apêndice das Coisas menos
Verosímeis.
– A tomada do Castello aos mouros,
só anda nas tradições do vulgo, o qual assevera que o primeiro Conde
da Feyra, intentando conseguir a terra, a posse do Castello, e do
título por indústria, prendera o cão que era fiel guarda de todo
elle, a qual falta foi muito sentida de seus senhores, e que tendo-o
uns poucos de dias sem comer, ajustou o dia do assalto para a manhã
do dia vinte e quatro de junho, dia festivo por ser do Baptista e
que levando o cão atado e faminto, enquanto a sentinela da Porta
chamada da Traição, por isto mesmo se detivesse em o festejo do
achado cão e sua fiel companhia; podiam entrar repentinamente e
assenhorearem-se do Castello, como fizeram e por esta causa se diz
que ficara a obrigação de irem todos os anos os homens que têem
servido e servem a República, a S. João da Madeira, ou a S. João de
Ver da sorte que dissemos acima; e por esta razão lhe chamaram a
«Sina».
Ao lermos a notícia de que o
primeiro Conde da Feyra intentara «conseguir a terra e a posse do
Castello» o nosso pensamento vai imediatamente para o primeiro conde
da Feira, da estirpe dos Pereiras (1452). Se assim fosse, esta lenda
seria absurda, pois, nesta data havia mais de dois séculos que os
mouros tinham sido expulsos de Portugal. Mas não é a este conde que
a lenda se refere como vamos ver.
Diz o Doutor Aguiar Cardoso na sua
obra «O Brasão de Armas do Concelho da Feira»:
«D. Munio Viegas, também conhecido
por Muninho Viegas, o Gascão, o célebre cavaleiro protagonista da
tomada do Porto aos mouros, o principal heroi desses retumbantes
sucessos que o escudo d'armas da Feira, como o antigo do Porto e
doutros concelhos consagra, foi conde das terras de Santa Maria».
«Comes dominus Munnius Benegas,
prolire Egeas Erotis. dominante in terra Sancta Maria» (most. de S.
João de Ver. Escrip. de 10 de Junho de 1012) cit. pelo dr. Gonçalves
Coelho na Memória Arqueológica «Notre Dâme de Vendôme et les
armoires de Ia Ville de Porto», ed. de 1907-fls. 5. D. Garcia Moniz
filho do anterior» Este morreu em hua batalha que deu aos mouros em
terra de Santa Maria» Vide Catálogo dos Bispos do Porto de Dr.
Rodrigo da Cunha, ed. primitivamente em 1623 e reeditado em 1742 –
Parte I fls. 10 e 282.
D. Men Lucidio, notável senhor da
Feira a quem se atribui, juntamente com os outros fidalgos, a
reedificação da Feira por 990 com a denominação de Vila de Santa
Maria – Pinho Leal ob. cit. vol. 3.v fls. 115. Atesta que foi Conde
de Santa Maria o seguinte documento transcrito pelo Dr. G. Coelho
(ob. cit. fls. 13).
In dios regnante serenissimus
Alfonsus imperator obtinente comite Menendis prolex Lucitu Sancta
Maria... Monast d'Anta – Festam do ano de 1037».
O Conde a que se refere a «Sina»
deve ser aquele D. Munio Viegas ou seu filho D. Garcia Moniz, mas,
por certo aquele.
*
*
*
Durante largos anos os vereadores da
Câmara da Feira foram a S. João da Madeira e a S. João de Ver
assistir à missa que, em acto de Sina, ali se cantava. O cumprimento
desta obrigação acha-se registado nas actas das sessões da Câmara
Municipal da Feira, em alguns livros da escrita do Tesoureiro e em
registos de mandados de pagamentos e da conta corrente com a
tesouraria. Segundo o que nestes livros ficou registado, ainda nos
anos de 1840, 1842, 1844, 1848, 1850, 1852, 1858, 1862, 1864, 1870,
a Câmara incorporada com as pessoas da governança foi a S. João de
Ver tomar parte na Missa da Sina.
/ 45 /
A SUA TOMADA PELOS CRISTÃOS
Ben Iussef era o governador do
Castelo. Entre ele e Cale, terra em poder dos cristãos, havia uma
espécie de terra de ninguém (ermanato) que separava as duas
comunidades.
A fama de que em Cale um rico homem
tinha uma filha dotada de grande beleza e ainda maior bondade, que
todos os dias distribuía aos necessitados que a procurassem junto a
uma pequena ermida consagrada a Santa Maria, tinha chegado ao
Castelo. Ben lussef levado pela curiosidade, quis certificar-se do
que poderia haver de verdade nas informações que recebia dos seus
espias. Vestido de pedinte, aproximou-se de Lia (assim se chamava a
filha do rico homem) e esmolar um bocado de pão. A beleza da donzela
logo o fascinou e ele passou a ser um dos seus pobres mais assíduos,
não obstante uma imposição que ela fazia aos seus protegidos: logo
após a refeição, todos tinham de entrar na ermida para dar graças a
Deus. Ben lussef não sabia orar mas logo tomou o compromisso de
aprender a rezar com a donzela. Depois de ter aprendido era ele que
aos olhos de Lia rezava com mais fervor. Durante muito tempo recebeu
das mãos da sua benfeitora substanciosa refeição e na ermida fez as
suas orações. Com esta prolongada convivência nasceu no moiro uma
grande paixão que já não podia reprimir por mais tempo. Então, um
maldoso pensamento lhe tomou conta do cérebro: Lia havia de ser sua.
Mas como, se ele lia no Alcorão e
ela nos Evangelhos de Cristo?
Falar-lhe de sua paixão? Seria
deitar tudo a perder, podia até ser o fim das tréguas em que há
muito viviam mouros e cristãos. Mas ele não era homem para recuar
diante de uma dificuldade ou desistir de qualquer empreendimento que
houvesse projectado. Num momento a sua imaginação fértil em
estratagemas, tinha-lhe mostrado como seria possível conduzir Lia ao
Castelo sem correr grandes riscos, nem perturbar as suas relações
com os cristãos. Entre Cale e o lugar que hoje chamamos Areinho,
completamente despovoado naquele tempo, havia um denso bosque que
lhe facilitaria os seus planos de rapto.
Depois de bem estudado o local e
demarcado um trilho através da floresta que lhe dava saída para o
ermanato, mandou por um seu súbdito, disfarçado de cristão, e que
bem conhecia a sua língua, construir nos estaleiros de Cale um barco
que pudesse transportar três cavalos com os seus cavaleiros. Este
barco, depois de construído, foi levado para o referido local do
Areinho e ali ficou a aguardar as ordens de lussef. Entretanto o
moiro mandou aparelhar seis cavaleiros a quem deu as seguintes
instruções: ao fim da tarde, Lia será surpreendida na ermida e, num
golpe rápido, amordaçada e de olhos vendados, posta sobre um dos
cavalos e logo encaminhada na direcção do barco.
Antes, porém, a meio da floresta,
sair-Ihe-ão ao encontro os outros três cavaleiros que, para o
efeito, ficarão emboscados e tomarão conta dela, internando-se
imediatamente na espessura do arvoredo.
Entretanto os primeiros, agora
vagarosamente para que possam ser vistos e seguidos pela multidão
que, é de esperar, acorrerá, se aproximarão do barco, nele se
embarcando em direcção à outra margem, para despistar, levando com
eles um vulto que, visto à distância, dê a ideia de ser Lia.
Enquanto a multidão ficará a
vociferar contra os do barco, Lia pelos caminhos previamente
estudados, será conduzida ao castelo.
Acalmado o tumulto, os do barco,
depois de o terem abandonado à corrente que o levará para o mar,
regressarão à fortaleza.
Assim foi feito e tudo correu
conforme o imaginado.
Quando tiraram a mordaça e a venda a
Lia, já ela estava no castelo na presença de lussef – aquele pobre a
quem ela às sextas-feiras dava de comer. Ao ver-se prisioneira no
castelo à mercê daquele pedinte, agora mudado em poderoso mouro, mal
teve tempo de implorar a protecção da Virgem Santa Maria da Sua
ermida. Uma forte convulsão a sacudiu e caiu inanimada. Grande foi a
aflição de lussef que logo chamou os seus físicos a reanimá-Ia.
Quando voltou a si, interpelou violentamente o mouro:
– Vilão, como te atreveste a cometer
tal infâmia, sabendo que eu era cristã e que por isso nem com
promessas, nem com ameaças, nem com sevícias consentiria que te
aproximasses de mim?
De mim nunca nada alcançarás. E,
para que morram em ti tão depressa as tuas esperanças como em mim
morreu a liberdade, com o fim da minha vida, tudo se acabará para ti
neste momento.
Dizendo isto, num repelão, lançou-se
contra Iussef e, arrancando-lhe do cinto a adaga, com ela se feriu
profundamente no peito, caindo inanimada a jorrar sangue. Tudo isto
foi tão rápido que ninguém pode impedir este tresloucado gesto de
Lia.
Durante muito tempo inconsciente,
esteve entre a vida e a morte: mas os cuidados, desvelos e atenções
que lussef lhe prodigalizou e, sobretudo o respeito com que por ele
foi tratada, salvaram-lhe a vida e restituíram-lhe a saúde. Lia
assim tratada, já não olhava o mouro com ar agastado, já não o
repelia. Confiante nas promessas que ele lhe fizera, pedia-lhe que
estivesse junto de si para a ajudar a rezar. Logo que pôde, mandou
um mensageiro a seu pai, contando-lhe o que se havia passado, mas
que se achava bem e que dentro em pouco estaria com ele. De facto,
poucos dias depois Ben lussef
/ 46 /
fez conduzir lia a casa de seu pai, onde disfarçadamente passou a
visitá-Ia.
Lia, durante a sua permanência no
castelo, tinha-se mostrado tão firme na sua crença, tão confiante na
protecção da Virgem da sua ermida, e rezava com tal fervor que Ben
lussef, perante aquela fé viva, sentiu-se tão abalado que acabou por
abjurar o Alcorão e abraçou o cristianismo. Feito cristão por amor
de Lia debaixo do maior segredo, pediu a sua amada em casamento.
Realizado este também secretamente, Lia voltou ao castelo.
A sua beleza, a sua dignidade, a sua
bondade nata, conquistaram a guarnição e ela soube aproveitar-se
desta circunstância para, embora muito veladamente, ir introduzindo
ali a semente do Evangelho. A paz entre cristãos e mouros era
completa e Lia sentia-se feliz. O tempo ia decorrendo sem que nada
empanasse aquela felicidade, mas para que mais uma vez se
constatasse a veracidade do acerto que diz «não há bem que sempre
dure» um ambicioso irmão do governador, de nome Ben Alígula,
invejoso daquela felicidade, e, sobretudo, cobiçoso do mando, tendo
suspeitado que Lia continuava a ser cristã e procurava introduzir
ali aquela doutrina com conhecimento de lussef, correu a Córdova, de
cujo Califado o castelo dependia, onde fez a denúncia e obteve a
sentença de morte, ficando ele governador. Regressado ao castelo,
ordenou a prisão de lussef e de Lia, mas deu-se um caso
extraordinário: ninguém cumpriu as suas ordens. Então Ben Alígula,
desesperado e temeroso de que a guarnição o assassinasse para que
seu irmão continuasse governador do castelo, apunhalou-o
cobardemente. Houve tumultos e um princípio de revolta, mas Lia
conseguiu acalmar os espíritos e levar os soldados a obedecer,
dizendo-lhes que o poder vem aos homens por vontade de Deus, pelo
que se deviam submeter às ordens do Kalifa de Córdova e, portanto,
obedecer ao novo governador. Ben Alígula, vendo-se obedecido, deu
cumprimento à sentença que condenava também Lia à morte. Porém, com
receio de que a sua execução no castelo pudesse provocar novas
desordens e até uma revolta, entregou-a secretamente a um pelotão
executor a quem deu as seguintes instruções:
– Levai-a até Corujeiras (Corujeiras
é um dos montes vizinhos do castelo, situado a norte, em terras de
S. João de Ver) e naquele cabeço, cujo daqui vejo, abri-lhe as veias
e recolhei o seu sangue neste vaso e trazei-o para eu dar aos meus
perros. Depois despi-a, queimai-a e lançai as suas cinzas ao vento.
Que dessa serpente venenosa que aqui entrou não fiquem vestígios.
Tudo isto, de olhos vendados, ouviu Lia.
Encomendando a sua alma a Deus e
pedindo protecção à Virgem Santa Maria, sem um protesto, sem um
queixume, deixou-se conduzir ao lugar do suplício.
Depois de uma boa caminhada, num
sítio ermo que não podia ser visto do castelo, os soldados fizeram
paragem e um deles dirigiu-se a Lia:
– Irmã, não vos assusteis, não é
aqui o lugar do suplício. Eu vou tirar-vos a venda, mas é por bem.
(Lia tinha ensinado a muitos soldados que todos eram irmãos em
Cristo e era assim que na intimidade se tratavam).
– Ah! És tu Jineff? Como o destino é
cruel. Serás então tu um dos meus carrascos? Tu em quem eu
depositava toda a minha confiança? Meu Deus, terei de sofrer esta
afronta antes de morrer? Deus meu, fazei com que eu possa perdoar
aos meus carrascos, principalmente a este.
E aquela infeliz desatou num choro
convulsivo que a todos consternou.
– Senhora, minha boa irmã,
calmai-vos. A Virgem entregou-vos nas minhas mãos para vos salvar de
morte tão ignominiosa. Aqui tendes estas vestes de homem, este
bordão e esta sacola. Assim disfarçada de pedinte podereis alcançar
a casa de vosso pai.
– Perdoa-me, Jineff, por ter
duvidado de ti, mas não posso aceitar o teu oferecimento. Não devo
salvar a minha vida à custa da vossa. Não tendes vós de apresentar o
meu sangue a Alígula?
– Tranquilizai-vos, irmã. Nós
daremos o nosso sangue por vós. Só vos pedimos que nos ajudeis
porque sabeis tratar melhor das feridas do que nós.
Lia, depois de muito protestar,
porque não queria que eles arriscassem a sua vida por amor dela,
tendo-se convencido de que podia salvar-se sem que os soldados
corressem perigo, acabou por se submeter à sua vontade. Com um
estilete que Jineff havia levado, abriu-lhes as veias que após a
recolha do sangue, ia laqueando com segurança. Feito isto, Lia,
depois de uma triste e emocionante despedida, pôs-se a caminho de
Cale e os soldados dirigiram-se ao cabeço onde derrubaram algumas
árvores e fizeram uma grande fogueira que se avistava do Castelo. À
noite, Jineff apresentou-se a Alígula:
– Missão cumprida aqui testemunhada
com as suas vestes e o seu sangue.
*
*
*
Lia em casa de seu pai tinha
interiores assomos de revolta e, insensivelmente, deixava-se
arrebatar por um mesquinho espírito de vingança mas, caindo em si,
logo sentia grande angústia por se conhecer dominada pelo ódio, pelo
desejo de vindicta.
– Vingança! Palavra terrível,
sentimento indigno de uma alma cristã.
Vingança! Arreda, tentação má. A
minha alma não será manchada com tão odiento pecado.
Vingar-me? Pagar o mal com o mal?
Não, nunca. Mas deixar-me-ei ficar indiferente perante tão horrendo
crime? Também não.
/ 47 /
Com estes pensamentos
desencontrados, dirigiu-se à ermida e, prostrada diante da imagem da
Senhora Santa Maria exclamou:
– Senhora, iluminai o meu espírito,
ensinai-me o que devo fazer nesta conjuntura tão dolorosa.
Depois de uma longa meditação,
exclamou, cheia de alegria:
– Obrigada, Senhora, pela luz que
trouxeste ao meu espírito.
Aquela luz, aquele cicio divino, num
relance, tinha-lhe ensinado como se poderia vingar sem ódio, sem
rancor, ou mais exactamente, como se poderia vingar sem vingança.
Aproximou-se de um espelho e
contemplou-se por instantes. Era ainda bela, de uma beleza que se
poderia classificar de fascinante.
– Senhora – exclamou – dai-me
coragem para eu transformar esta beleza em fealdade.
Em cima de uma mesa colocou um
bisturi, uma agulha, linhas pensos e bálsamo. Com o bisturi rasgou a
face, golpeou as pálpebras e abriu os cantos da boca. Depois coseu
as carnes e colocou pensos com bálsamo sobre as feridas. Quando,
passados tempos, tirou os pensos e se viu ao espelho, não se achou
feia, achou-se horrível, impossível de ser reconhecida fosse por
quem fosse. Porém, em vez de ficar triste, aquela fealdade
entusiasmou-a. Já podia agora pôr em prática o seu plano de vingança
sem ódio, sem rancor, sem vingança.
*
*
*
Da antiga estrada romana de Olissipo
a Brácara Augusta, que passava próxima da povoação que hoje chamamos
Albergaria da freguesia de S. João de Ver, partia um atalho que ia
dar a umas nascentes que, correndo para Oeste iam abastecer uma
pequena povoação existente onde hoje é a Vila, sede do concelho. Uma
das fontes, pela pureza da sua água, tinha fama de miraculosa e a
ela recorriam não só as pessoas das proximidades, como outras vindas
de muito longe. Ali permanecia uma pobre mulher a esmolar que
ensinava o caminho da fonte miraculosa. Pois Lia iria substituir a
pedinte e uma vez ali fácil lhe seria pôr em prática o projecto que
havia imaginado. E assim fez. Lia era agora a velha da água. Jineff
vinha vê-Ia muitas vezes e passavam horas em confidência.
*
*
*
No castelo existiam vias secretas e
do seu conhecimento havia participado Lia por intermédio de Ben
lussef. Para poder levar a cabo o imaginado projecto, informou
Jineff minuciosamente de todas elas, bem como dos perigos que
correria qualquer intruso se um dia viesse a penetrar no seu
interior.
Há memória de três vias: a Grande
Via que, saindo do castelo, se dirigia para o rio Caster, utilizada
para levar os cavalos a beber, podendo também servir para dar
escápula à guarnição em caso de aperto. A outra dirigia-se para o
Norte e passava por baixo da Praça Velha, indo terminar numa grande
caverna que servia de cofre, onde os mouros guardavam o produto dos
seus saques (A praça velha é o largo que fica em frente à Câmara
Municipal). Havia ainda uma terceira de uso e conhecimento exclusivo
do governador que comunicava com a sua alcova.
*
*
*
Quando ficou familiarizado com todos
os esconderijos e senhor de todos os seus segredos, Jineff ia
começar a agir conforme as instruções dadas por Lia. Principiou por
espalhar certos boatos que trouxeram o desassossego ao castelo.
Durante a noite passavam-se também coisas extraordinárias: ouviam-se
ruídos, cuja origem se desconhecia, e vozes estranhas, acompanhadas
de gritos indistintos no terreiro e o uivar lúgubre dos cães. Estes
sucessos traziam aterrorizada a guarnição. Na alcova de Alígula
factos não menos estranhos se passavam: os móveis dançavam e
embatiam uns nos outros; vozes medonhas, entrecortadas por ais
misteriosos, faziam-se ouvir através das paredes. Ele andava
assustado, mas com receio de que se rissem do seu medo, ocultava
todos estes acontecimentos; mas a repetição contínua destas
ocorrências levou-o a consultar os seus astrólogos, que, apesar da
sua boa vontade, nada lhe souberam dizer de positivo. Entretanto,
tinha chegado ao castelo a fama extraordinária da Velha da água que
lia nas estrelas o passado e o futuro com uma segurança e exactidão
nunca até então sabido dos mais famosos adivinhos. Jineff contava
maravilhas da Velha e insistia com Alígula para que a consultasse,
ao que ele sempre se negava, querendo assim mostrar que nada o
atemorizava. Mas sucedeu que os acontecimentos extraordinários que
se davam na sua alcova iam aumentando de violência e certa noite
teve de lutar com um espírito que lhe pareceu de carne e osso e lhe
deixou sinais bem vincados no rosto. Não podendo esconder por mais
tempo a sua inquietação e, para que não dizê-lo, o seu medo, foi
procurar a Velha.
– Até mim chegou a fama da tua
virtude e do teu saber. Recorro a ti para que me reveles o passado e
predigas o futuro.
Ben Alígula, os meus anos e os meus
estudos deram-me muito saber e a minha experiência e o conhecimento
/ 48 /
que tenho das coisas e dos homem abriram-me as portas do ignoto, mas
isto não é o suficiente para que eu de momento possa conhecer o teu
passado e desvendar o teu futuro. Tenho de estudar os astros, tenho
de conhecer as suas reacções, mas antes preciso que me digas quais
são as tuas inquietações para nesse sentido interrogar as estrelas.
Dize-me claramente: que pretendes de mim?
– Quero saber o que é que me traz em
sobressalto. Necessito que me digas se os cristãos preparam
secretamente a invasão dos meus domínios e com que poder e para
quando. Porém, antes de saber o porvir, desejo saber o passado, pois
entendo que é mais fácil saber o que se passou do que o que está
para se passar. Com o acerto com que me revelares o pretérito,
julgarei do que poderás saber do futuro. De todos os factos
extraordinários que se passam no castelo quero que me dês a razão.
– Voltai daqui a oito dias e de tudo
sereis informado.
– Voltarei, mas já te previno de
que, se não acertares com o que me há sucedido no passado, aqui
mesmo serás enforcada para que a mais ninguém enganes com os teus
embustes.
– Vai-te que não terás esse cuidado.
Neste tempo de espera, Lia teve
vários encontros com Jineff. Ouçamos agora a conversa da velha com o
mouro.
– Ben Alígula, no teu horóscopo, há
manchas e sombras a denunciar que o teu passado não está limpo.
Muitos foram os teus crimes e as tuas mãos estão manchadas de sangue
inocente. Sem qualquer motivo válido, mas por simples ambição de
mando, assassinaste o teu irmão. Com tal crime a pesar-te na
consciência, como não hás-de ouvir as vozes do teu remorso? O
espírito do inocente adeja à tua volta e jamais te verás livre dele
enquanto habitares o castelo.
Os teus perros uivam? É o sangue de
Lia que tu lhes deste a beber e lhes queima as veias. Por isso eles,
como tu, não podem ter sossego. E, se não mudares o curso dos
acontecimentos que estão para se dar, eles beberão o teu próprio
sangue. Esses acontecimentos começaram já a manifestar-se. Ontem
pairou uma sombra, um espírito na tua alcova. Esse espírito deixou a
sua marca na tua face. Eu distingo-a. Mas já uns dias antes...
– Cala-te. Do passado não desejo
saber mais nada...
– Então passemos ao porvir. O teu
horóscopo no caminho do futuro também não te é favorável. O sangue
dos inocentes pede vingança e a hora do ajuste de contas
aproxima-se. Os cristãos preparam activamente a invasão dos teus
domínios e todo o teu poder será impotente para os deter. Sofrerás
tremenda derrota e verás os teus homens passados a fio de espada e
muitos deles comidos pelos lobos e ursos que virão no seu exército.
Serás feito prisioneiro e o pai de Lia far-te-á enforcar na ameia
onde estiveste a ver a fogueira que lhe queimou a filha.
– Como te atreves a dizer-me isso?
Prisioneiro eu? Pois alguém poderá transpor as portas da maior
fortaleza dependente do Kalifado de Córdova?
Quem será pendurado nas ameias do
castelo és tu, velha idiota, que julgas amedrontar-me com as tuas
disparatadas profecias.
– Detém-te lá, Alígula. Podes dispor
da minha vida como dispuseste da de teu irmão e de Lia. Quiseste
ouvir-me e eu dispus-me a falar-te, mas só para dizer-te a verdade.
Muitos trabalhos passei em noites de vigília para ler nos astros o
teu futuro e o que averiguei não deixarei de to comunicar. Depois
ficarei ao teu dispor; poderás então levar-me contigo e, se te
aprover, pendurares-me na ameia do teu castelo. Estou velha, a vida
para mim já não tem encantos, mas só pesares e tristezas. Não me
oporei aos teus desígnios. Ouve, pois o resto. A comunicação mais
importante que tenho a fazer-te é esta: As portas da tua fortaleza
não serão forçadas pelos teus inimigos, elas ser-Ihe-ão abertas de
par em par pelos teus homens. Dentro do castelo há traidores que por
bem pouco se comprometeram a vender-te aos teus inimigos. E agora,
para te esclarecer melhor sobre o futuro, tenho de voltar ao
passado. Lia vivia feliz com teu irmão, mas ele era um estorvo às
tuas ambições. Para ascenderes ao Kalifado forçoso era que ele
desaparecesse e, com ele, Lia. Com as intrigas e falsidades que
levaste a Córdova, foi-te dado o poder no castelo. Mas como podias
tomar conta do mando se toda a guarnição te era hostil? Em vão
procuraste peitar alguns homens para prenderes lussef, mas, como o
não conseguiste e a tua ambição não tinha limites, antes que uma
embaixada fosse mandada a Córdova, onde esclarecidos os factos, o
prisioneiro serias tu, manchaste as tuas mãos no sangue do teu
irmão. O remorso que logo após tão nefando crime se apoderou de ti e
te encheu de pavor tirou-te a coragem para embeberes o punhal no
coração de Lia. Então entregaste-a a um pelotão que a conduziu a
Corujeiras e, depois de lhe haver tirado o sangue para os teus
perros, a queimou. Um dos assassinos de Lia, roído pelo remorso,
apresentou-se há tempos a seu pai e tudo lhe referiu. Podes imaginar
a cólera daquele homem que jurou não mais ter descanso enquanto não
reduzisse a fortaleza a um montão de ruínas e os seus moradores a
cinzas. Neste momento emissários seus percorrem toda a cristandade a
levantar tropas contra o tirano assassino de sua filha. Este
exército movido pelo desejo de vingança, levará tudo a ferro e fogo.
Ao seu ímpeto destruidor, nada
resistirá. No dia do ajuste de contas os teus te trairão e serás
entregue aos
/ 49 / teus inimigos. A tua sentença já
está lavrada: serás pendurado na ameia em que estiveste a ver a
fogueira que queimou Lia. Mas tu, na fuga, poderás ainda salvar-te e
salvar os teus. O coração dos cristãos não é dado a vingança. O pai
de Lia contentar-se-á em queimar a fortaleza e não passará adiante.
Acolhe-te a Coimbra e lá, se te contentares em ser subalterno,
poderás acabar em paz os teus dias, se é que pode ter paz um coração
assassino. E agora, para que saibas que, quanto te tenho dito é
verdadeiro, vou dar-te um testemunho e assim terás por certo o que
agora te parece duvidoso. Amanhã, quando acordares, encontrarás
junto de ti o sinal da verdade – a imagem daquele que deu a vida
pelos homens. Quando te recolheres à alcova examina minuciosamente
tudo quanto lá existe para teres a certeza de que ela não está lá
nem lá poderá entrar se fechares com segurança todas as portas e
postigos. O aparecimento da cruz durante a noite é o sinal da
verdade, o testemunho do que te afirmei.
– Vai-te preparando, velha
feiticeira, para deixares esta vida. Eu tomarei tais cautelas que na
minha alcova nada poderá entrar sem o meu consentimento. Fica
sabendo que não é possível aparecer ali qualquer sinal e o não
aparecimento desse testemunho de que me falas importa a tua sentença
de morte. Serás queimada por bruxa malfazeja.
– Mas eu volto a afirmar-te que Ele,
o Cristo de Misericórdia, de manhã estará na tua alcova. E, diante
da sua presença ainda duvidarás da Velha?
– Ora tu a querer levar-me a dar
crédito ao impossível. És doida. E eu que cheguei a acreditar no teu
saber.
Como foi possível eu não ter visto,
pelas tuas excentricidades, que eras uma lunática? Mas uma lunática
perigosa para os ignorantes, pois assim como parece que estás
convencida de que falas verdade, queres, por força, levar as pessoas
a acreditarem-te e isso pode causar grandes males. Não disseste
ainda há pouco que, se eu quisesse salvar a vida, tinha de
empreender a fuga para Coimbra? Se eu te acreditasse e fugisse, não
poderia comprometer a segurança do Kalifado de Córdova?
Não, velha insana, não poderei
consentir que nos meus domínios continues a atemorizar as pessoas
com as tuas disparatadas profecias. De manhã mandar-te-ei buscar e à
tarde serás queimada na Praça de armas do castelo. Deixo-te em paz
durante a noite para que peças perdão dos teus desvarios a Allah.
– E se o sinal aparecer, Ben
Alígula? E se os teus olhos fixarem o Redentor dos cristãos, ainda
me mandas queimar? À fé da minha alma, mais uma vez te juro: O
Crucificado de manhã será contigo para que saibas que Deus está com
os cristãos e que Allah te abandonou por causa dos teus crimes.
Retirou-se Ben Alígula aturdido pelo
tom de sinceridade e de verdade que a Velha imprimia às suas
palavras. Não queria dar crédito ao que ouvia, mas uma dúvida o
atormentava: não tinha ela falado verdade em tudo quanto lhe havia
dito sobre o passado? Mas consolava-se procurando convencer-se de
que na sua alcova, desde que trancasse bem as portas e postigos,
nada ali podia penetrar.
Chegado ao castelo, encaminhou-se
logo para o quarto, onde passou uma minuciosa busca. Ali tudo foi
mexido e remexido, não fosse alguém conluiado com a Velha (não tinha
ela dito que dentro do castelo havia traidores?) ter lá introduzido
o Cristo. Tudo examinado, os móveis tirados e novamente postos nos
seus lugares, portas e trancas experimentadas, nada foi encontrado
que desse causa à mais pequena suspeita.
– À fé da minha alma, juro-te que o
crucificado de manhã será contigo.
Esta afirmação da velha feita em tom
tão convincente transtornava-o. Se ela não tivesse lido isto nos
astros, atrever-se-ia a garanti-lo, sabendo que esta afirmação em
falso lhe custaria a vida?
E se o crucificado aparecesse? Ainda
poderia duvidar do que tinha ouvido?
Ele tinha medo à cruz. Quando se
lembrava da profecia da Velha, sentia-se horrorizado e fechava os
olhos para não ver nada.
Mas não, as portas da sua alcova não
podiam ser abertas por ninguém. Eram tão sólidas que resistiriam a
todas as investidas, e, desde que não fossem abertas, como poderia o
Cristo estar com ele de manhã?
Chegada a hora de se recolher, nova
e minuciosa inspecção foi feita. Não ficou canto nem móvel que não
fosse visto. Certo da segurança das portas e aldrabas, exclamou: Não
te salvas do fogo, velha feiticeira. Os teus dias estão contados.
Encheu a lucerna de azeite para que
pudesse arder toda a noite e deitou-se.
*
*
*
– Jineff, untaste bem os gonzos da
porta falsa?
– Sim, minha irmã.
– Tens a cana preparada?
– Tenho, irmã.
– Como está arranjado o buraco?
– Tapado com cera da cor da mesma
pedra. Não é visível.
– Bem, actua com toda a prudência.
Do bom resultado desta empresa depende a minha vida e o teu futuro.
/ 50 /
– Não tenhais cuidado, irmã. Estou
certo de que me hei-de sair bem.
Santa Maria velará por nós.
Altas horas da noite, levando numa
mão uma comprida cana furada em toda a sua extensão e na outra o
crucificado, Jineff penetrou numa extensa galeria que ia dar à
alcova de Ben Alígula e cuja existência ele ignorava. Às apalpadelas
subiu o último degrau, tirou um bocado de cera que tapava um pequeno
orifício e espreitou. Alígula parecia dormir. A lucerna estava ao
alcance da cana. Esperou mais algum tempo até ter a certeza de que
ele efectivamente dormia. Depois meteu a cana pelo buraco e soprou,
fazendo desaparecer a luz. Arredou então uma pesada pedra que girava
nuns gonzos e penetrou na alcova onde introduziu o crucificado,
colocando-o sobre um banco a olhar de frente para o mouro. Sem
qualquer ruído, puxou a pedra e pô-Ia novamente no seu lugar,
retirando-se em seguida. Quando Ben Alígula acordou e se viu às
escuras, ficou cheio de medo. Querendo saber a razão da falta de
luz, levantou-se e procurou a lucerna para se certificar se se teria
consumido todo o azeite, mas ao encontrá-Ia os dedos mergulharam no
óleo e ele conheceu que o motivo daquela escuridão era outro. Não
pode mais dormir e a sua imaginação mostrou-lhe coisas fantásticas.
Na verdade, reconheceu que algo de extraordinário tinha acontecido.
Ao raiar da manhã, ainda no meio de uma confusa escuridão,
pareceu-lhe divisar uma figura estranha que o fitava... Mas não, não
seria possível. No entanto, à medida que a claridade ia dando forma
aos objectos, a sua confusão aumentava e o seu espanto perturbou-o
de tal modo que se julgou enlouquecido. Para fugir àquela visão,
agarrou num cobertor e atirou-o para cima do crucificado,
furtando-se assim à visão que o esmagava.
*
*
*
Entretanto, Lia tinha mandado
emissários a juntar todos os rebanhos da cristandade com instruções
para que se reunissem nas proximidades de Cale e ordenou que fossem
compradas todas as velas que existissem no mercado, velas estas que
seriam, na ocasião própria, amarradas aos chifres dos caprinos e
ovinos. A estes rebanhos, conduzidos por alguns soldados, estava
confiada a conquista do castelo. Eis o plano de ataque: ao
atingir-se o monte de Corujeiras, acender-se-iam as velas e os
rebanhos, espalhados por uma vasta área a dar impressão de um
numerosíssimo exército, pôr-se-iam em movimento em direcção ao
castelo. Os animais da frente iam cobertos com peles de lobos e
ursos.
*
*
*
No castelo, os mouros convertidos
por Lia, conhecedores do que se passava, tinham ali estabelecido o
pânico. Há dias que eram espalhadas notícias aterradoras. «Um
exército com poderosas armas desconhecidas acompanhado por lobos e
ursos amestrados não tardaria a atacar o castelo.»
Ben Alígula, perante tão tétricas
notícias, abalado pelas profecias da Velha, a maior parte das quais
já tinha visto realizadas, tomou as providências necessárias para, a
confirmarem-se as notícias que recebia, ordenar a fuga para Coimbra.
Mandou os seus espias até às proximidades de Cale a colher
informações pormenorizadas de tudo quanto se passava. Esses espias,
ao verem acampados na frente do exército, lobos e ursos, ficaram
estarrecidos.
«É um exército estranho que reúne
muitos lobos e ursos, conduzidos por numerosos soldados. Fazem-se
ali os últimos preparativos para avançar sobre o castelo e cercá-lo.
Vêm preparados para um longo cerco, pois trazem um rebanho que lhes
dará alimento para mais de um ano. Se conseguirem forçar alguma das
nossas portas e introduzirem aqui os carnívoros que trazem, todos
seremos poucos para lhes matar a fome. Contra tal exército de nada
valerá a valentia dos nossos soldados».
Ben Alígula, ao ouvir isto,
sentiu-se derrotado. À sua memória, ocorreram-lhe as palavras da
Velha: «As portas da tua fortaleza não serão forçadas pelos teus
inimigos, ser-Ihes-ão abertas de par em par pelos teus soldados.
Dentro do castelo há traidores que por bem pouco se comprometeram a
vender-te.»
Então, por descargo de consciência,
reuniu um conselho de guerra em que teve opinião predominante
Jineff, sendo resolvido não aceitar a batalha e ordenar a retirada
imediata para Coimbra.
*
*
*
Ao anoitecer de um cálido dia de
Agosto, com todas as velas acesas, pôs-se o exército em marcha,
alongando-se num grande semicírculo. Ferros batidos, tambores,
uivos, um grande alarido tornava aquele espectáculo medonho,
sinistro... Antes do romper da manhã, sem qualquer oposição dos
defensores do castelo, foi fechado o cerco à fortaleza e de manhã,
ao romper do sol, dada ordem para forçar as suas portas, mas a esta
hora já os mouros iam longe. Lia aguardava a chegada de Jineff para
o investir nas funções de alcaide do castelo, mas aqui um grande
desgosto a esperava:
/ 51 /
ele não apareceu. As muitas devassas feitas nunca o deram ao
serviço de Ben Alígula.
Com a tomada do castelo estava
consumada a vingança de Lia e pela forma que o seu espírito
verdadeiramente cristão admitia: vingança sem sangue, sem vítimas.
Vingança sem rancor, sem ódio, vingança sem vingança.
Depois de em vão muito tempo ter
esperado a vinda de Jineff, entregou a guarda do Castelo a uma
pequena guarnição e retirou-se para casa de seu pai e na ermida
agradeceu à Virgem a ajuda, o auxílio visível que ela lhe tinha dado
para alcançar tão grande vitória sobre a moirama. Esta vitória foi
atribuída a Santa Maria. Será por isto que a estas terras foi dado o
nome de Terras de Santa Maria?
De Lia também alguma coisa nos ficou
através dos séculos a perpetuar o seu nome. A água que abastece a
povoação da Vila da Feira e tem a sua nascente no local onde ela
passou algum tempo da sua vida a preparar a expulsão dos mouros
tomou e conserva ainda hoje o seu nome: Água da Velha.
OS TESOUROS DO CASTELO À GUARDA DO DIABO
Na taberna da senhora Gertrudes,
discutiam-se os acontecimentos.
Enchiam-se e esvaziavam-se
sucessivos pichéis de vinho e havia grande animação.
– Quem havia de dizer que a mulher
do governador não tinha sido queimada viva e era a Velha que
organizou o ataque ao Castelo! Brava mulher! Se os mouros chegam a
saber que foram logrados por ela, temo-los aí outra vez, e, para
mais, diz-se que eles saíram tão apressadamente que nem tiveram
tempo de levar as suas riquezas. Vai ser sorte para os soldados que
guardam o Castelo.
– Pois sim, hão-de ser fartos. Ficou
tudo encantado. Até as minas que lá havia, desapareceram sob o
encantamento. Ainda se não descobriu coisa nenhuma.
– Mas que lá havia minas e grandes
riquezas escondidas, havia. Assim disse o mouro.
– Que mouro?
– O mouro que desertou do exército
de Ben Alígula. Conhecedor de todos os esconderijos, veio
oferecer-se para ensinar onde estavam os tesouros, mas o alcaide,
tomando-o por espião, com receio de que ele voltasse a Ben Alígula e
lhe contasse como tinham sido logrados, mandou-o enforcar. Já com a
corda ao pescoço, ainda pode dizer ao carrasco: vai à mina do rio
que lá acharás o segredo dos tesouros do Castelo, mas, por mais que
os soldados tenham procurado, ainda não encontraram mina nenhuma. Os
mouros, antes de fugir, deixaram tudo tapado e tão bem disfarçado
que não se vê sinal de nada.
– Mas a mina do rio existe, pois
ainda pouco antes de eles terem fugido, os cavalos foram vistos a
beber nele. Onde está localizada a sua boca é que nunca se soube,
porque ninguém se atrevia a passar o rio com medo das sentinelas e
também porque naquele sítio ele tinha sido alargado e muito
aprofundado para arranjo do fosso que defendia o castelo por este
lado.
– Não foi só para defesa do castelo
que ele foi alargado, foi para esconder as minas, mas agora que os
mouros se foram e não há sentinelas, hei-de ver como isso era. Tenho
fé que encontrarei a mina e que as riquezas serão minhas.
O homem que assim falava era um
mestre alfaiate que se arrogava prosápias de destemido e valente.
Encontrar a mina e apoderar-se dos tesouros passou a ser nele a sua
única preocupação.
Segundo os seus cálculos, a mina
devia existir nas proximidades, onde os cavalos eram vistos a beber.
Esse local ficava ao fundo da encosta do monte do Castelo. Como já
não havia vigias mouras, podia ir junto do rio e pesquisar à sua
vontade. E assim fez. Rio abaixo, rio acima, tudo foi minuciosamente
examinado, mas apenas notou que entre uns carrascos havia um ponto
escuro que não podia identificar. Seria a boca da mina? Bem queria
ele ir examinar aquele ponto escuro, mas o rio não podia ser passado
a vau e o seu reumatismo impedia-o de o passar a nado.
Alvoraçado com a descoberta,
recolheu-se a casa a pensar na maneira de atingir o ponto que tanto
o intrigava. A encosta do monte era escarpada e íngreme e nas
proximidades do rio quase a prumo. Só com o auxílio de cordas
poderia atingir o ponto escuro que avistara. Como não tinha cordas,
com vimes fez umas amarras que levou consigo. Madrugada ainda alta
dirigiu-se para o monte e, com o auxílio das amarras atingiu o
desejado local onde viu que, efectivamente encoberta pelas moitas
existia a boca de uma espaçosa mina onde imediatamente penetrou.
Depois de verificar que ela tomava a direcção do castelo, reconheceu
que lhe era impossível percorrê-Ia, porque ela era escuríssima.
Voltou para casa encantado com a sua descoberta, mas desassossegado
e nervoso. Estava confirmado o que o mouro havia dito: a mina
existia, as riquezas também deviam existir. O pior era se estavam
encantadas, mas, fosse como fosse, faria tudo quanto humanamente
estivesse ao seu alcance para se apoderar delas. Em caso de
necessidade, recorreria até à senhora Gertrudes, conhecedora de
muitos segredos de encantamentos.
Na madrugada seguinte, munido de uma
grande lucerna cheia de azeite, muito antes do amanhecer já ele
estava dentro da mina. Caminhando vagarosamente, a esquadrinhar
todos os cantos, detendo-se aqui,
/ 52 /
voltando atrás ali ao ver qualquer coisa que luzia, não prestou
atenção a certos ruídos que, de vez em quando, se ouviam. Já tinha
percorrido uma grande extensão, quando, numa dobra da mina, viu, na
escuridão, duas luzes fulgurantes que tomou por dois grandes
diamantes...
– As pedras – exclamou fora de si,
num arrebatamento. Mas, de repente, estremeceu. Aquelas cintilantes
luzes avançavam para ele, precedidas por uma aragem fresca que, num
momento, lhe apagou a luz. Ouvia agora um tropel que se aproximava
rapidamente. Sem ter tempo de esboçar qualquer gesto de defesa,
sentiu um forte encontrão de um corpo que se lhe enfiou por entre as
pernas. Num instinto de defesa, agarrou-se fortemente àquele corpo e
assim foi levado pela mina fora. Ao chegar ao rio, o que quer que
fosse, estacou de repente e ele foi cuspido, indo estatelar-se na
água. Àquela hora estava ali um pescador que ia levantar umas nassas
deixadas durante a noite. A fraca claridade da manhã não lhe
permitiu distinguir as coisas e aquilo causou-lhe tremendo susto.
Sem querer saber das nassas, deitou a fugir, mas não pôde ir muito
longe, porque o seu coração doente não lho permitiu. Encostando-se a
uma árvore para se refazer do susto e da correria, notou que um
vulto se aproximava e escondeu-se. Dali a momentos, passava o
alfaiate. Isto causou-lhe grande estranheza: Que andaria ele a fazer
por ali àquela hora? E porque se teria atirado à água?
Refeito do susto e intrigado com a
cena a que tinha assistido, voltou atrás para recolher o peixe e
indagar do que se teria passado, mas, não obstante as muitas
pesquisas que fez, nada descobriu que lhe pudesse dar a chave
daquele enigma. Não podendo calar a estranha ocorrência, dentro em
pouco a notícia era conhecida de toda a gente. O alfaiate, que era
assíduo frequentador da taberna, tinha deixado de aparecer.
– Que será feito dele?
– Com o banho ficou doente do
reumatismo, dizia um.
– Perdeu a fala com o susto,
afirmava outro.
– Está tolhido, asseverava um
terceiro.
– Está possesso, era a opinião do
pescador. Eu vi-o e a sua cara não é a sua cara.
Interveio então a senhora Gertrudes.
– Todos vós vos recordais que, há
dias, ele dizia aqui: «Eu hei-de encontrar a mina e as riquezas
serão minhas.»
Desde esse dia, obcecado por aquela
ideia, nunca mais trabalhou.
A sua preocupação era encontrar a
mina por onde os cavalos vinham ao rio. Como agora não havia vigias,
pôde percorrer à vontade o monte e encontrá-Ia. Sem tomar quaisquer
precauções nem pensar nos perigos que podia correr, munido de uma
fraca luz, penetrou nela e percorreu-a numa grande extensão. A certa
altura viu na sua frente umas cintilações que julgou serem ouro ou
pedras. Quando julgava já ter aquelas riquezas na mão, surdiu-Ihe o
diabo, ali posto de guarda aos tesouros, que agarrou nele e o foi
lançar ao rio. Ele salvou-se a nado mas ficou possesso. O diabo fala
pela sua boca e diz para escarmento de quem o quer ouvir: «todo
aquele que entrar nos meus domínios, é meu».
Perante este espelho, ainda haverá
alguém que se atreva a enfrentar o diabo por causa das suas
riquezas? Interrogou a senhora Gertrudes. Mas ninguém respondeu.
É ENCONTRADA A MINA ONDE ESTÃO OS TESOUROS DO CASTELO
Este episódio acalmou durante muitos
anos as ambições dos que sonhavam com as riquezas dos mouros. A
presença do diabo na mina naqueles tempos de fé viva tinha enchido
de terror as populações vizinhas do castelo e ninguém se atrevia a
passar nas suas proximidades. Com o andar dos tempos este terror
foi-se diluindo na mente do povo que por isso deixou de acreditar na
presença do diabo, mas a lenda das pedrarias e ouro enterrado
subsistiu, criando em algumas crianças que a ouviam um espírito de
aventura que, mais dia, menos dia, havia de levar alguém a dispor-se
a penetrar no desconhecido em busca do imaginário.
*
*
*
Dia de Primavera com sol radioso. Um
fluido novo penetra nas pessoas e nas coisas, enchendo-as de nova
vida. Enfeitada com as flores das urzes e das giestas, embalada pela
música dos passarinhos, perfumada com o odor das flores, a manhã
está linda.
Leandro, apoiado num grosso cajado e
com uma grande faca à cinta, vai a descer o outeiro das Guimbras em
direcção ao rio. Já próximo dele, detém-se junto a uma cova coberta
de silvas. Está pensativo. Na sua mente trava-se uma luta que lhe
provoca uma indecisão. O seu olhar está fixo na cova. Agora levanta
os olhos para o céu e benze-se. Com a faca começa a abrir caminho
através das silvas e penetra numa galeria que o leva ao
desconhecido. Ei-Io já dentro de uma ampla mina, tão ampla que por
ela podiam passar à vontade dois cavalos. À luz de uma vela vai-a
percorrendo vagarosamente, examinando tudo com a máxima atenção. A
mina sobe agora em direcção ao castelo e atravessa um trecho que
tinha cortado um grande banco de granito. Passado esse banco há um
terreno argiloso, muito
/ 53 / duro, onde se distinguem ainda
pegadas de cavalos e de homens. Fica assim com a certeza de que era
por esta mina que os cavalos vinham do castelo para o rio. Mais uns
passos e na sua frente está um montão de ossos humanos. Em volta dos
ossos do pescoço de um esqueleto há um fio metálico de onde pende um
pequeno crucifixo. Este achado trouxe-lhe à memória o
desaparecimento misterioso de Jineff. Ali terminava a mina obstruída
com grandes pedras. Não podendo prosseguir, voltou atrás, detendo-se
a examinar mais minuciosamente o banco de pedra que a mina havia
atravessado. Após um breve exame, chamou a sua atenção uma grande
laje que lhe pareceu estar fora da sua primitiva posição. Esta
pedra, no seu entender, tinha sido colocada ali, não pela Natureza,
mas pela mão do homem. Num exame mais atento, teve a impressão de
que ela escondia qualquer coisa, talvez, quem sabe, a boca de outra
mina. Profundamente emocionado, regressou a casa, mas firmemente
resolvido a voltar.
Passados dias, munido de uma
alavanca e de outros instrumentos, estava novamente diante da laje.
Com o auxílio da alavanca, tentou deslocá-Ia, mas todos os seus
esforços foram baldados: a pedra era grande para ser lidada por um
só homem. Deixando aquela de parte, experimentou outras, algumas das
quais foram cedendo ao seu esforço, confirmando-lhe assim a sua
suposição: todas as pedras estavam postas ali pela mão do homem e
não pela Natureza. Perante este facto, mais se avolumou no seu
espírito a ideia de que a laje ocultava grande mistério. Perante a
impossibilidade de, sozinho, o poder desvendar, não teve outro
remédio senão desistir do seu intento naquele dia.
*
*
*
Sempre Leandro com receio de um
fracasso que faria rir toda a vizinhança, guardou o mais absoluto
segredo de quanto tinha planeado, mas agora via-se na necessidade
de, ou desistir, ou de confiar o seu plano a outra pessoa que
estivesse disposta a colaborar com ele.
Abandonar o seu projecto diante de
uma dificuldade que lhe parecia fácil de resolver com o auxílio de
um amigo seria imprudência. Não. Agora que tinha a certeza de ter
encontrado o esconderijo que a lenda assinalava como sendo o
cofre-forte do castelo, havia de, custasse o que custasse, levar a
sua empresa até ao fim. Entre os seus amigos algum haveria que lhe
merecesse confiança. E assim, a sós consigo, fez um consciencioso
exame a cada um deles, acabando por se decidir por um parente seu,
jovem, forte, valente e corajoso, conhecido pela alcunha de Alazão.
Fazendo-se encontrado com ele, disse-lhe:
– Sempre ouvi dizer que os mouros
saíram tão precipitadamente do castelo que não puderam levar os
tesouros que aqui guardavam. Esses tesouros não os tinham no
castelo, mas numa mina que vinha cá para as bandas da Vila. Essa
mina, que em tempos idos muita gente procurou sem lhe encontrar
rasto e que, por tal motivo, se julgou que não passava de uma lenda,
sem qualquer viso de verdade, existe e eu julgo saber onde ela está.
Para chegar até ela é preciso remover uma grande laje e eu só com o
meu esforço não o posso fazer. À minha descoberta e ao meu projecto
quero associar alguém que se comprometa a ajudar-me lealmente e a
guardar o máximo segredo até conclusão do nosso trabalho. Do que
puder haver repartirei irmãmente. Queres ajudar-me?
– Sim, mas eu duvido que tenhas
encontrado aquilo que, até hoje, ninguém achou.
– Quase posso jurar que encontrei,
mas só com o teu auxílio te poderei mostrar a verdade do que estás a
tomar por duvidoso.
– E onde encontraste essa mina?
– Na Grande Via, na mina dos
cavalos.
– Bem mo dizia a minha avó.
Contou-me ela muitas vezes: houve, em tempos passados, aqui na Vila
uma mulher chamada Gertrudes que era senhora de uma taberna muito
frequentada por mouros do Castelo. Quando eles fugiram, um seu
conhecido desertou do exército do Kalifa e veio oferecer-se ao novo
alcaide para lhe ensinar todos os esconderijos e o sítio onde
estavam guardadas as riquezas, riquezas que eles preferiram deixar
enterradas a levá-Ias consigo e serem alcançados pelos cristãos e as
perderam como despojos de guerra. Além disso, eles tinham partido,
mas com o propósito de, apenas reorganizado e reforçado o seu
exército, voltarem ao Castelo. Esse mouro mantinha boas relações com
a senhora Gertrudes e antes de se apresentar ao alcaide contou-lhe
que da mina que vinha do Castelo para o rio partia outra que ia dar
ao cofre-forte, mas que estava tão bem disfarçada e guardada que
ninguém a encontraria e muito menos a transporia. Se, porém, um dia
fosse, por acaso, encontrada, quem nela penetrasse nunca alcançaria
o tesouro, porque ele estava guardado por soldados e animais
terríveis. Só quem conhecesse os misteriosos segredos, que davam
vida àqueles animais e aos soldados, poderia alcançar o local onde
se encontrava o cofre. Era isto que ele vinha ensinar ao alcaide.
Ora esse mouro, tomado por espião, foi preso e morto, levando
consigo o seu segredo. Será possível que decorridos tantos anos,
haja, enfim, sido descoberta essa misteriosa mina? Pois se assim é,
fico ao teu dispor para te ajudar no que puder.
Postos de acordo, não tardaram em
meter mãos à obra. Armados com diversos instrumentos, ei-Ios a
caminho do ignoto em busca do imaginário.
/ 54 /
Pelo caminho, Alazão ia contando:
minha avó dizia-me que os mouros tinham um poder que mais nenhuns
povos da terra possuíam. Com umas simples palavras mágicas,
transformavam o ouro em carvão, um animal num corpo inerte ou uma
pessoa num imundo animal; e com outras palavras tudo adquiria num
momento a primitiva forma. Sempre ouvi dizer que a mina estava
encantada e que por isso, sem o conhecimento das palavras mágicas,
era impossível descobrir-se fosse o que fosse. Minha avó tinha a
chave de algumas palavras que serviam para desfazer certos
encantamentos. Deixa ver se me lembro. E começou a soletrar várias
frases até que, depois de muito matutar, exclamou: aranha, aranhão,
sapo, sapão, bicho, bichão, diabo, diabão, abri-me este alçapão.
Isto foi para eles como um raio de luz que apareceu no meio da
escuridão.
Confiantes e bem dispostos, chegaram
ao local onde se encontrava a suposta mina metida no banco de pedra.
À fraca luz da lucerna, todas as pedras foram meticulosamente
examinadas e batidas com um martelo para lhes escutarem o som. Com o
auxílio de uma alavanca tentaram deslocar a grande laje que, no seu
parecer, era a porta que fechava a presumível mina. A cada pancada,
o som repercutia-se de um modo estranho e ia morrer lá muito longe.
Na verdade, tudo indicava haver ali qualquer coisa de muito
misterioso. Como entre as pedras não existiam fendas por onde
pudessem introduzir qualquer instrumento, com o auxílio de um cinzel
abriram um pequeno furo onde meteram a alavanca. A cada esforço que
faziam, a pedra estremecia, conhecendo-se que estava separada das
outras. Então, Alazão, cheio de esperança e contentamento, recitou:
aranha, aranhão, sapo, sapão, bicho, bichão, diabo diabão, abri-me
este alçapão. Acto contínuo deram um forte empuchão à pedra que,
perante o seu pasmo e alegria, tombou, deixando à vista a boca de
uma mina. Com grande surpresa verificaram que a pedra tinha girado
nuns gonzos tão bem centrados que bastava um pequeno esforço para a
fazer voltar à primitiva posição. Depois de a terem experimentado
várias vezes, Alazão entrou resolutamente na mina, mas apenas pôs os
pés em terra, inexplicavelmente, a pedra como que comandada por
qualquer espírito, pôs-se em movimento no sentido da vertical. Se
Leandro não houvesse tão rapidamente entalado a alavanca entre a
laje e as pedras que com ela faziam ombreira, talvez Alazão tivesse
ficado prisioneiro na mina, onde acabaria os seus dias. Depois de
terem calçado a pedra por forma a que ela jamais pudesse sair da
posição em que a deixaram, Leandro entrou também e os dois com as
maiores cautelas, foram avançando lentamente sem notarem qualquer
coisa de extraordinário. Andadas umas centenas de passos, avistaram
dois soldados, perfilados, de espada na mão, um de cada lado da
mina.
– Estão encantados, exclamou Alazão.
De outra forma não era possível que após tantos anos, os seus corpos
se conservassem direitos, incorruptos.
– Está-me a parecer que eles nunca
foram corpos humanos. Não vês que têm a cara corno que coberta de
verdete? Por certo que são de bronze.
– Vejo que é verdade o que se dizia.
Aqui deve haver molas ou quaisquer armadilhas que lhes dêem vida.
Vamos ver. Dá-lhe uma pancada com a alavanca.
Com o ferro na mão, Alazão deu mais
um passo, mas de repente, surgiram, uma de cada lado, duas enormes
bichas com um grande ferrão uma das quais o atingiu num braço. Num
momento tudo ganhou vida: os soldados levantaram as espadas, sem se
saber como nem de onde apareceu um horrendo animal a correr sobre
eles, as bichas, de bocas abertas, mostravam enormes dentes curvos e
salientes. Assustados, recuaram uns passos e tudo desapareceu. Só os
soldados ali ficaram de sentinela. Alazão começou a sentir fortes
dores e reconheceu que as forças lhe iam faltando. Com o braço já
paralisado e fortes tonturas, regressou a casa amparado por Leandro
e no dia seguinte baixava à terra fria. Leandro nunca mais teve
saúde. Cheio de remorsos por se achar culpado da morte do seu
parente, foi definhando, definhando, e ao fim de um mês, partiu
também para o Além a fazer companhia a seu primo.
Comentava o povo:
– Bem se dizia que os mouros tinham
deixado as suas riquezas à guarda do diabo.
– Tão bons moços eram, como teria
sido possível meter-se-Ihes na cabeça disputar com o demónio?
– Servirá ao menos esta desgraça
para escarmento de outros aventureiros?
ÚLTIMA TENTATIVA
A morte dos dois mancebos deixou
consternada a vizinhança e aconteceu então que, logo após a
sepultura de Leandro, certos casos ocorridos traziam apavorada toda
a população das proximidades.
De noite, para os lados das
Guimbras, apareciam vultos vestidos de branco que batiam palmas e
davam sonoras gargalhadas como que a celebrar a morte dos dois
jovens. Logo alguém mais esperto afirmou que as mouras, postas de
guarda aos tesouros, tinham, com a presença daqueles mortais, sido
desencantadas e agora, libertas do seu encantamento, durante a
noite, cometiam as mais audazes tropelias, pondo em sobressalto o
povo da Vila. O caso avolumou-se ainda mais quando se soube que um
pobre homem que passou nas Guimbras, depois das trindades, tinha
sido arrebatado por elas e levado por ignotas terras, onde foi
deixado metido em espesso matagal até ao outro dia de manhã. Os
desacatos
/ 55 / cometidos contra gente pacífica
por estas desencantadas mouras a quem também chamavam bruxas eram
tais, que foi convocada uma reunião dos vizinhos para, em face dos
perigos a que todos estavam sujeitos, se deliberar o que deviam
fazer. As opiniões emitidas eram as mais desencontradas. Ouçamos a
opinião dos novos:
– Que se tape já a boca da mina com
muitos carros de terra para que os espíritos que lá estiverem não
possam sair e os que andarem cá por fora jamais se possam lá
acoitar.
Opinião dos velhos:
– Os espíritos não podem ser
aprisionados. Ai de nós se tentarmos enterrá-los vivos. Por vingança
eles farão cair sobre nós as maiores desgraças. O melhor é deixá-los
em paz.
Opinião das mulheres:
– Só as almas do Purgatório nos
podem valer. Rezemos por elas o terço todas as noites, pedindo-lhes
que esconjurem para longe esses espíritos malignos que vagueiam pelo
mundo para perdição das almas. Se soubermos rezar e pedir com
verdadeira fé e devoção, elas farão com que eles sejam precipitados
no inferno e nós ficaremos em paz.
Foi esta opinião julgada a mais
sensata e assim foi feito. Em todas as casas às trindades se reuniam
as famílias para rezar o terço com a maior devoção. A fé com que o
faziam dava-lhes a certeza da eficácia desta reza e, por isso, a
pouco e pouco, tudo foi caindo no esquecimento e as bruxas acabaram
por deixar em paz os vizinhos do Castelo. Estes acontecimentos,
porém, jamais se apagaram da memória do povo, que assim os têm
conservado através dos tempos.
*
*
*
Vinda não se sabe de onde, certo dia
acampou na Vila uma caravana de ciganos. Acompanhava-a um jovem, de
boas maneiras, bem-falante, bem posto, mas de cor tão escura que por
isso lhe chamavam o preto. Soube-se depois que esse cigano havia
muito tempo acompanhava aquela caravana. É que ele requestava uma
ciganita, Ala-Ali, de pele pouco mais clara do que a sua, mas muito
elegante, de porte distinto, com um rosto sonhador, umas vezes
alegre, outras sorumbático, a denunciar a nostalgia que lhe ia na
alma: nostalgia de uma Pátria que nunca conhecera, que nunca tivera,
mas que antevia linda, acolhedora, repousante para o seu espírito
devaneador.
Embora não correspondesse
sinceramente à dedicação do preto, ele não desistia de a acompanhar
por toda a parte como fiel e submisso cão. Quando a ciganita avistou
o Castelo, logo quis saber a sua história.
Sempre atenta à narrativa que lhe
faziam, não deixava escapar-lhe nenhum pormenor. O conhecimento das
lendas e os episódios a que tinham dado causa impressionaram-na
vivamente e sugeriram-lhe uma ideia diabólica: pôr à prova a
dedicação do preto. Se ele, na verdade, a amasse e lhe fosse
submisso como um cão, não deixaria de fazer aquilo que lhe
ordenasse. Se fosse mal sucedido, isso que tinha? Seria até a
maneira de se ver livre dele. E se ele voltasse carregado de ouro?
Então, sim. Casariam e iriam correr mundo. Visitar, lá para as
bandas do Oriente, o berço da sua raça, era nela obsessão.
Oh! Como seria feliz se chegasse a
conhecer as terras dos seus antepassados e nelas viver, mesmo num
humilde tugúrio! A vida nómada, que ela julgava anátema lançado
sobre a sua raça, revoltava-a. Por mais que a quisessem convencer de
que a vida só era verdadeiramente livre praticando o nomadismo, ela
não se conformava com tal ideia.
– Vês, além, o castelo? – Disse ela
ao preto. Foi habitação de mouros em longínquos tempos. Certo dia,
atacados pelos cristãos, fugiram tão desordenadamente que não
tiveram tempo de levar consigo o seu ouro. Sabe-se que o deixaram
ali enterrado numa mina. Há muito que suspiro por conhecer a Pátria
dos meus antepassados, mas a falta de recursos inibe-me de me pôr a
caminho. Esta vida nómada enfada-me, não a suporto. Só no Oriente,
onde o sol nasce, poderei encontrar refrigério e ser feliz e a minha
felicidade pode ser a tua felicidade, se me quiseres ajudar.
– Sempre te hei afirmado que tens em
mim o mais fiel servidor, sempre pronto a ajudar-te no que for do
teu agrado. Que me poderás pedir que eu não possa fazer-te? Lutarei
com os homens, lutarei com os animais mais bravios, lutarei até com
o destino, se tal for preciso. Força, trabalho, dedicação, a própria
vida, tudo te darei para fazer-te feliz. Dize-me o teu querer que eu
serei pronto em te servir.
– Contaram-me que dois jovens,
levados pela ambição das riquezas, certo dia entraram na mina onde
está escondido o ouro e, quando já se preparavam para se apoderar
dele, desencantaram, sem saber como, as mouras que ali tinham sido
postas à sua guarda. Cheias de alegria por terem voltado à vida,
logo propuseram aos dois jovens a entrega do ouro se eles quisessem
ficar a viver com elas. Como a proposta não foi aceite,
arrebataram-nos e puseram-nos fora da mina. Durante muito tempo as
desencantadas mouras vaguearam por estas redondezas sem encontrar
quem lhes falasse ao coração. Então, saudosas como eu, da sua Pátria
longínqua, para lá voltaram, e o ouro ficou sem guarda. Eu preciso
desse ouro. Nós precisamos desse ouro para fazermos a nossa
felicidade. Estás disposto a ir buscá-lo
/ 56 /
às profundezas da terra para o fazer brilhar à luz do Sol?
– Se a tua felicidade, se a minha
felicidade, se a nossa felicidade está dependente desse ouro, eu
irei por ele. Por ti arriscarei a vida como cão fiel e submisso.
Dentro em breve, toda a vizinhança
sabia que o preto iria à mina buscar o ouro. Houve quem se risse,
mas também houve quem tremesse diante desta perspectiva. A morte dos
dois jovens foi relembrada e as desgraças que se sucederam novamente
faladas. Alguns vizinhos reuniram-se para combinarem a maneira de
impedir que o preto descesse à mina a acordar de novo os espíritos.
Nessa reunião foi resolvido requerer às autoridades a expulsão dos
ciganos antes que ele pusesse em prática a sua resolução; mas estas,
querendo dar mostras de espíritos superiores que não acreditavam em
fadas, nem em bruxas, nem no diabo e também curiosas de saber o que
haveria na mina e ainda com o secreto pensamento de se apoderarem do
ouro se ele fosse encontrado, indeferiram o pedido. Foram as
próprias autoridades que marcaram o dia e a hora para esta nova
aventura.
Ala-Ali, duvidosa da coragem do
preto e receosa de que ele não atingisse o fim da mina onde estava o
ouro, para que não fosse por ele ludibriada, ordenou-lhe que levasse
uma grande campainha que iria tocando com força para ser ouvida
através da terra.
O dia escolhido, se para uns foi de
angústia, pois anteviam novas calamidades, para outros foi de festa.
Enquanto muita gente acorreu com as autoridades às Guimbras para ver
o preto a sumir-se nas entranhas da terra, grande multidão se postou
ao longo do presumível percurso com o ouvido colado ao chão a
escutar o toque da campainha. À medida que ele ia passando lá nas
profundezas da terra, era dado sinal aos mais próximos, dizendo: ele
aqui vai. Assim se ficou a saber que a mina seguia directamente das
Guimbras para a Praça Velha, no largo da antiga cadeia.
Quando a campainha anunciou a
chegada do preto a esta Praça, o povo que ali estava deu largas ao
seu entusiasmo com palmas e vivas; mas este barulho abafou o som,
não se sabendo se o preto passou além ou se ficou por ali. Como
reinasse completo silêncio durante muito tempo, a multidão, ansiosa
por notícias, dirigiu-se para as Guimbras para ouvir da boca do
preto a narrativa da sua aventura. Lentamente as horas foram
passando, o dia aproximava-se do fim e o povo comentava:
– Ficou encantado e jamais
regressará.
– Encontrou o ouro e não voltará
enquanto aqui estivermos, com o medo de que lho tiremos.
– Não arreio pé daqui enquanto ele
não vier.
– E eu também.
E logo se formou um grupo da rapazes
que ali ficou postado toda a noite. Durante uns dias não afrouxou a
vigilância, mas do preto nunca mais houve notícias.
– Mais uma desgraça – comentava a ti
Brandona, mas fiquem certos de que o pior está para vir.
Com efeito, dali a dias, um dos
rapazes que tinham ficado de guarda à mina recolhia à cama e logo a
seguir outras pessoas caíam doentes. Uma daquelas epidemias cíclicas
da Idade Média tinha feito a sua aparição e ia ceifando imensas
vidas. Mais uma vez o povo tomou isto como um grande castigo e, ao
ver as pessoas que iam sucumbindo aos estragos da terrível doença,
blasfemava contra todos os que, deixando-se seduzir pela miragem do
ouro, se atreviam a provocar a cólera dos espíritos contra os
mortais.
A ti Brandoa deitou fala:
– Já basta de malefícios. Havemos de
consentir que ainda outros ambiciosos venham desafiar as iras do
diabo a quem ficaram entregues as riquezas dos mouros? Acabemos com
isto.
Homens e mulheres, rapazes e
raparigas, todos às Guimbras. Arrasemos a mina com muitos carros de
terra e pedras, para que mais nenhum ser vivo possa entrar nos
domínios do diabo, onde ele é guarda, nem ele possa mais sair de lá
para nos vir causar mais desgraças. Todos às Guimbras.
E foram. Grande extensão da galeria
foi entulhada e tudo arrasado e nivelado, de tal forma que, passados
tempos, do que tinha sido a grande mina do Castelo por onde os
mouros desciam com os cavalos ao rio para lhes dar de beber apenas
restava a tradição, tradição que chegou até nossos dias.
HISTÓRIA DE UMAS ALMINHAS
Certo governador do Castelo, cujo
nome os séculos levaram consigo, querendo castigar uma falta
cometida por uma sua filha, levou-a a Corujeiras e ali, junto a uma
fonte, sob encantamento, a deixou ficar à guarda de Belzebu, com o
dote que lhe viria a caber em partilha para que com ele pudesse
recompensar o seu salvador se um dia chegasse a ser libertada.
Houve tempo em que teve grande voga
o livro de S. Cipriano. Era tal a sua fama que, das poucas pessoas
que sabiam ler, podiam contar-se pelos dedos as que o não tinham
adquirido. O senhor X era possuidor de um desses livros e
apaixonou-se de tal forma pela sua leitura, que deixou o seu ofício
para se devotar à investigação dos tesouros enterrados por
encantamentos. Conhecedor do caso da moura encantada ao pé da fonte
em Corujeiras, certo da existência do seu tesouro, baseado nos
dizeres do livro, encetou um pormenorizado
/ 57 /
estudo do local onde ele poderia jazer. Levou tempo, mas acabou por
o identificar. O desfazimento do encanto da moura não era coisa
fácil. É que o tesouro e a moura estavam, segundo a lenda, à guarda
do diabo. Portanto, com o diabo se teria de haver. Discutir cara a
cara com ele não se afigurava coisa muito simples. E como seria ele?
Matutava o senhor X. A sua imaginação pintava-o muito feio: focinho
comprido a servir-lhe de cara, dois chavelhos, cauda bifurcada,
olhos em fogo e boca medonha, com dentes salientes. Perante tão
horrenda abantesma, não ficaria tolhido? Não. Disso não tinha medo.
Quando chegasse a hora de o enfrentar, nos bolsos, bem escondidas,
levaria umas medalhas, terço, água benta e a cruz do Senhor Padre.
Isto lhe dava verdadeira confiança.
Andou muito tempo a magicar na sua
aventura. Ir só? Não seria demasiada confiança? Mas levar
testemunhas era, por certo, abdicar de uma grande parte do tesouro
porque, sem boa paga, ninguém quereria enfrentar o espírito das
trevas. Demais era preciso guardar segredo, não fosse alguém
antecipar-se-Ihe e estragar-lhe o negócio. O melhor era convencer a
esposa a acompanhá-lo.
– Mulher, tens de vir comigo.
– Eu? Credo, abrenúncio.
– Pois é como te digo; tens de vir.
Não há-de ficar lá aquela riqueza enterrada, depois de tanto
trabalho que eu tive para lhe achar o sítio. Tu levas água benta e
eu a cruz do Senhor Padre e as medalhas bentas. O diabo não terá
poder sobre nós.
– Eu enfrentar o diabo? Abrenúncio.
Que esteja sossegadinho nas profundezas do inferno que eu com ele
não quero nada.
Por mais voltas que desse, o senhor
X não conseguiu convencer a mulher. Apresentou-se-Ihe então um
problema difícil: achar homem que o acompanhasse. Foram muitos os
convidados mas, ao saberem que era com o diabo que se tinham de
haver, ninguém se oferecia. O senhor X andava desolado. Deixar o
tesouro para sempre sepultado nas profundezas da terra, sem vantagem
para ninguém, quando já tinha descoberto a maneira de o arrancar às
garras do demónio? Não, não desistiria.
Os primeiros convites foram todos
feitos sob segredo, mas, como não deram resultado, resolveu meter
sócios na empresa: repartiria o tesouro em partes iguais. Sempre
seria melhor pouco do que nada. Por este modo arranjou três homens
decididos, dispostos a correrem todos os riscos.
A noite de S. João era esperada com
ansiedade. Durante este período de espera, foi ele dando ânimo aos
seus colaboradores.
– Nada de medo. O demónio há-de
fazer tudo para nos assustar e não largar mão do tesouro, mas ele
não terá poder para nos fazer mal. Havemos de levar água benta e a
cruz do Senhor Padre. Assim, couraçados contra o espírito das
trevas, nada temos a recear. Coragem e o tesouro será nosso.
*
*
*
Noite de S. João. Muito antes da
meia-noite, já o grupo estava instalado junto da fonte, dentro de um
signo saimão, com uma tábua a servir de mesa, um lampião e o livro
de S. Cipriano aberto. Ao bater da meia-noite iniciou o senhor X,
com voz forte, pausadamente, para que se não enganasse, a leitura do
exorcismo. Enquanto esta ia prosseguindo, uma onda de calor parecia
sufocá-los. Então um dos homens espargiu água benta e a onda de
calor passou. A vinda do diabo que todos esperavam e tinham como
certa não se realizou. Repetida a leitura do exorcismo, deu-se o
mesmo fenómeno: o calor abrasava, mas o mensageiro das trevas
continuava invisível, mas todos ficaram convencidos de que ele
rondava por ali. Aquela onda de calor denunciava a sua presença.
Então porque não aparecia?
Teria sido mal pronunciado o
exorcismo?
Retiraram-se com a mesa às costas,
mas o senhor X não se deu por vencido; pelo contrário, veio de lá
mais convencido de que ali estava coisa. Estudaria melhor o livro e
no próximo ano lá estaria novamente. No entanto não pôde calar o seu
desapontamento e foi queixar-se ao Senhor Padre.
– Ó homem, então tu levas água benta
e a cruz, metes-te dentro de um signo saimão e querias que o diabo
aparecesse?
– Pois é verdade, tem Vossa
Reverência razão. O diabo estar lá estava. Aquele calor só podia ser
dele, mas não podia aparecer, não. Tornarei lá, mas de mãos vazias.
Há-de ser o que Deus quiser. Dê lá por onde der: ele há-de botar
para cá o tesouro.
– Mas olha que, se tiveres medo,
ficas tolhido.
– Não hei-de ter. Ele não terá poder
para nos fazer mal.
– Mas pode meter-te um grande susto
que te tolha. Ó homem, não te metas em aventuras, tu já tens com que
viver, não precisas do ouro para nada. Olha que a ambição das
riquezas tem levado muita gente para o inferno.
Retirou-se o senhor X a magicar nas
palavras do Senhor Padre. Na verdade, para viver honradamente,
possuía o suficiente. Mas ele tinha uma ambiçãozinha: possuir uma
linda carruagem puxada por dois possantes cavalos...
– Quem vai ali?
– É o senhor X...
/ 58 /
Como se vê, o senhor X tinha largos
voos de imaginação e de ambição, mas o diabo seria mesmo o diabo? –
conhecedor desta sua fraqueza, na ocasião própria, como se verá no
decorrer desta história, cascou-Ihe em cheio e, num momento, o
senhor X perdeu todas as suas veleidades. Mas continuemos. Passados
dias, reuniu em casa os seus colaboradores, a quem referiu o que o
Senhor Padre lhe dissera. Na verdade, todos concordaram que com a
água benta, a cruz e, para mais, metidos dentro de um signo-saimão,
o diabo não podia aparecer.
– Nós já sabemos que o diabo vem e
que o tesouro existe. Havemos de deixar aquela fortuna ali enterrada
para sempre sem proveito para ninguém? Eu estou resolvido a tornar
lá. Posso contar convosco?
Todos se entreolharam, indecisos. Na
verdade era pena, era mesmo insensato ter ali à mão uma chusma de
pedras e ouro e não fazer um esforço para recuperar aquela riqueza
perdida. Mas enfrentarem o diabo sem terem com que se defenderem,
não seria imprudência? Mas a quem é que o ouro não tenta?
O senhor X afirmava-lhes que o
espírito das trevas, desde que não tivessem medo, não lhes podia
fazer mal. Tendo por certa esta garantia, que haviam de recear? Sim,
iriam todos e a certeza no bom êxito da empresa era tal que cada um
levou consigo um saco para transportar o que lhe coubesse em
partilha. Entretanto o senhor X ia estudando o livro para ter a
certeza de que se não enganaria na leitura.
A noite de S. João apresentou-se
carrancuda, a ameaçar tempestade. Junto à nascente uma pequena mesa,
um lampião e o livro de S. Cipriano.
Meia-noite no relógio do Castelo.
Pausadamente, com voz sonora, o senhor X inicia a leitura do
exorcismo, aparentando grande serenidade. Sente-se uma aragem
quente. Ao longe, para os lados da Velha, ouve-se um ruído que, de
minuto a minuto, aumenta de intensidade. Um vento, cada vez mais
forte, impele as nuvens e faz remoinhar as árvores. Luzes ao longe
iluminam o céu. Um estrondo medonho faz tremer a terra. O senhor X,
convencido de que aquilo é obra do diabo para os afugentar, continua
lendo, calmamente, pausadamente. De súbito, surdiu-Ihe um monstro
que parecia expelir fogo: cara medonha, mãos descomunais, unhas
recurvas e afiadas e nos pés umas pesadas peias de ferro que lhe
dificultavam o andar. O senhor X continuava a leitura sem se
perturbar. Então o diabo estendeu para ele a mão esquerda que ia
crescendo, crescendo e estava quase a atingi-lo e gritou-lhe numa
voz cavernosa:
– Ó tu que és cheio de ambição e
vives para as riquezas do mundo, és meu.
O senhor X furtou-lhe o corpo e, não
vendo os companheiros a seu lado, ó pernas para que vos quero,
deixou de correr para voar. O diabo, por causa das peias, não o pode
alcançar, mas a sombra de uma mão forcejava por o agarrar. Então o
senhor X lembrou-se de pedir a protecção das benditas almas:
«alminhas do Purgatório, acompanhai-me que, se eu chegar são e
salvo, hei-de mandar construir umas alminhas ao pé da minha casa,
onde todos os dias, além das minhas orações, tereis uma luzinha de
azeite a iluminar-vos. E cumpriu a promessa. As alminhas foram
levantadas e ali permaneceram durante muitos anos.
*
*
*
Houve quem afirmasse que não tinha
aparecido diabo nenhum, que fora uma partida do Senhor Padre, ali
emboscado, a que uma casual trovoada havia dado foros de
sobrenaturalidade.
O Senhor Padre nem dizia que sim,
nem que não, mas o senhor X e os seus colaboradores afirmaram sempre
que o diabo tinha vindo à sua presença. Fosse como fosse, o certo é
que o Senhor X apanhou tal susto que queimou o livro e nunca mais
pensou em desencantamentos de tesouros.
EPÍLOGO
O tempo não pára. Os ventos a que
agora chamam os ventos da História entram em toda a parte, penetram
em todos os cantos e em toda a parte e em todos os cantos vão
deixando os seus malefícios.
Aquelas alminhas embutidas num
grande bloco de pedra ali permaneceram até há pouco com a sua
luzinha de azeite à noite. Eram simples, não tinham arte, não tinham
beleza, tinham a alma do povo com as suas orações, tinham a sua
tradição, tinham a sua história. O senhor prior, porém, influenciado
pelos tais ventos da história, entendeu que os tempos eram outros e
que as alminhas também precisavam de acompanhar o progresso e então
vá de ordenar a sua substituição por outras à moda, modernas,
artísticas (é duvidoso) bonitas (é discutível). Podem estas alminhas
ser tudo o que o senhor prior imaginou, mas à sua volta há um vazio:
não têm a poesia do tempo, não têm a alma do povo, não têm a sua luz
de azeite ofertada pelos seus devotos, não têm tradição, não têm
história.
Não, senhor Prior, se nós tivéssemos
jurisdição sobre aquelas alminhas velhinhas, ninguém, nem mesmo os
tais ventos da história lhes tocariam e elas ainda hoje lá poderiam
ser vistas a perpetuar e a testemunhar o cumprimento de uma promessa
feita em horas de aflição.
/ 59 /
ESCAPÃES NAS LENDAS DO CASTELO
Diz-nos D. Fernando de Tavares e
Távora no seu livro «O Castelo da Feira»: «O poço foi objecto de
lendas várias. Nele teria havido um caminho subterrâneo para dar
escápula à guarnição em caso de aperto.»
Durante séculos ali permaneceu o
caminho, envolto em misteriosas lendas que, à medida que o tempo ia
passando, cada vez se avolumavam mais. Ninguém se atrevia a penetrar
nas suas entranhas com medo dos duendes que ali tinham o seu poiso;
mas um dia apareceu ali um preto que pediu para ser apresentado ao
alcaide, pois estava disposto a ir desvendar o misterioso segredo
que envolvia o caminho subterrâneo. Ficou admirado o alcaide com a
ousadia do homem e, receando pela sua vida, não lhe queria conceder
autorização para penetrar no caminho. Porém o homem insistiu tanto
com ele que o alcaide acabou por lhe dar a autorização pedida, mas
antes disse-lhe:
– Sabei que os antigos dizem que
quantos homens entraram no caminho, todos lá ficaram: nenhum
escapou.
– Alcaide, trago comigo um
maravilhoso talismã que afugenta todos os espíritos.
– Então vai.
Todos estavam curiosos por verem o
tal maravilhoso talismã e por isso acompanharam-no até a boca do
subterrâneo. Ali o preto, desfazendo um embrulho que trazia,
apresentou-lhes uma grande campainha que começou a tocar com toda a
força. E, enquanto os presentes desataram a rir-se, ele penetrou
resolutamente no caminho. Tropeçando aqui, escorregando ali, caindo
além, o ouvido sempre atento ao menor ruído, foi caminhando,
caminhando, caminhando. De vez em quando parava a escutar para ouvir
melhor o eco sinistro da campainha que, naquele medonho silêncio,
causava calafrios ao mais afoito. Na verdade, qualquer ser vivo que
ali se encontrasse ou fugiria a sete pés, ou morreria de medo.
Tomado algum alento, foi continuando
até que, já lá muito longe, avistou uma ténue claridade. Com o
coração alvoroçado correu para a luz e dali a momentos estava no
fundo de um poço por onde rapidamente subiu. Cá fora, livre de
perigo e de um grande pesadelo, respirou fundo. Acalmados os nervos,
avistado o Castelo lá longe, a sua alegria foi indizível e então
exteriorizou a sua satisfação, dando saltos e cambalhotas e gritando
sem réplica às palavras do alcaide: escapei, escapei, escapei.
Alguns homens que trabalhavam perto,
ouvindo aqueles gritos, acorreram ao encontro do homem que lhes
proporcionava tão insólito espectáculo a indagar o que se passava.
Então ele contou-lhes a sua odisseia e pediu-lhes que em memória do
seu feito, dali em diante, chamassem àquele lugar, escapei. E, na
linguagem popular de escapei se fez Escapães.
UM ENCANTAMENTO
Atribuem-se aos mouros poderes
extraordinários, sobrenaturais. Daí as lendas de que eles,
utilizando esses poderes quando lhes aprazia, faziam as coisas mais
fantásticas: os encantamentos. Ai das filhas que, sem assentimento
dos pais, se deixassem prender nas malhas da rede que Cupido lhes
lançava. Para acalmar uma paixão julgada insensata, umas palavras
misteriosos e, nesse mesmo instante, a jovem donzela era
transformada num feio animal e naquele estado permanecia até que lhe
fosse quebrado o encanto. Vá lá que os pais não eram de todo maus
porque, sempre que faziam um encantamento, tinham o cuidado de
deixar à filha, no local onde ficava encantada, largo dote de que
ela se apropriaria se um dia fosse restituída à vida.
No lugar onde eu nasci, todos os
antigos falavam, com certa mágoa de espírito, de uma rica jovem
moura que a intolerância do pai, um antigo governador do castelo,
havia encantado junto da fonte da Água da Velha. Toda a gente sabia
que, nas noites de S. João, quem fosse afoito e se acercasse da
fonte, ouvia uma linguagem estranha, uns gemidos tão dolorosos que
penetravam o coração. De noite nunca ninguém descortinou o estranho
ser que soltava tão dolorosos queixumes; mas de dia havia quem
afirmasse ter visto uma grande bicha, que ostentava uma enorme
cabeleira à volta da cabeça, coisa nunca observada em qualquer outro
réptil. Daí o relacionar-se aquela estranha bicha com a moura
encantada.
Em A. de S. R., o caso era muito
falado e discutido, especialmente nas espadeladas e, não raras
vezes, alguns rapazes mais corajosos diziam uns para os outros:
vamos ouvir a moura? E iam mesmo. Quando a noite estivesse serena,
os queixumes ouviam-se à distância, mas se alguém se atrevesse a
aproximar-se do local de onde partiam os queixumes, logo os cabelos
se lhes punham em pé ao ouvirem um silvo medonho, soltado, ao que se
dizia, pela tal bicha.
*
*
*
Certo dia, um rapaz sujeito ao
serviço militar, soube que ao regedor havia chegado uma ordem para
que apresentasse na administração alguns mancebos para serem
incorporados no exército. Como o regedor o não via com bons olhos
por ele, às escondidas, lhe namorar uma filha, logo futurou que era
chegada a hora de ele o afastar para longe, mandando-o prestar o
serviço militar. / 60 / Mal por mal, antes as galés. Mas, triste
sina, nas galés sempre a cavalo na morte, no exército à mercê de uma
espadeirada. Dilema difícil de resolver. Foi queixar-se à namorada.
A filha do regedor era toda desembaraçada, toda expedita e sem papas
na língua. Logo foi ter com o pai.
– O pai não vai mandar o António
para a tropa. Olhe que lho digo eu, não o mande senão as coisas
pintam-se feias.
– Que me dizes, grande malcriada?
Não vou mandá-lo? É que vou mesmo.
– Não manda, já lho disse. O pai tem
de me dizer aqui agora que não o manda porque, se não mo disser, ele
amanhã vai para as galés e eu vou com ele. Então o pai não sabe que
ele tem tudo preparado para quebrar o encanto da moura e, para o
fazer, só espera pela noite de S. João? O pai quer que eu perca o
grande montão de ouro e pedras que ela guarda consigo?
– Ele quebrar o encanto? Aquele
fedelho, aquele medricas atreve-se a isso?
– Atreve, sim senhor. Dê-lhe o pai
tempo e verá.
– Bem, se é isso, desta vez não irá,
mas vai para outra.
Nunca o pobre mancebo se tinha
lembrado de tal coisa. Foi um estratagema da rapariga para o salvar
da tropa; mas há coisas que nunca se fazem, porque nunca ninguém se
lembrou de as fazer. É a história do ovo de Colombo. Quebrar o
encanto da moura, dizia-se, era adquirir instantaneamente uma grande
fortuna em ouro e pedrarias. Toda a gente acreditava nisto e o
regedor não podia fazer excepção. Por isso tinha condescendido com a
filha e o rapaz não foi naquela leva; mas o perigo da sua
incorporação não estava vencido. Então ele que até ali não tinha
pensado na moura, começou a matutar naquilo. Por seu lado a filha do
regedor, instigava-o:
– Que medricas és tu que tens medo
de uma bicha? Diz-se que tantas pessoas têm ficado riquíssimas com
os tesouros das mouras, porque não tentas também?
Com estes incentivos, ele acabou por
tomar o caso a sério. Nas horas da sesta passou a rondar a fonte,
mas nunca ali encontrou qualquer coisa de extraordinário. Esperaria
pela noite de S. João, entretanto iria consultar a Brandoa, mulher
muito entendida em benzeduras e exorcismos para saber das
possibilidades que se lhe poderiam oferecer. A bruxa acolheu-o com
visível interesse e prontificou-se a ensinar-lhe as rezas
necessárias com uma só condição: metade do tesouro para ela. (Não se
pode dizer que a mulher fosse interesseira).
Aproximava-se o S. João. Naquela
noite, a moira não deixaria de aparecer e ele, desse por onde desse,
havia de estar junto da fonte para lhe quebrar o encanto. A ti
Brandoa, com o pretexto de que ele podia enganar-se na reza,
resolveu acompanhá-lo. As horas, contadas minuto a minuto, custavam
a passar. Aquela solidão e o silêncio da noite tiravam o ânimo ao
mais afoito. Lá ao longe, na torre do castelo, soa a meia-noite.
Momento emocionante! De súbito, ouviu-se um ruído seguido de um
silvo medonho, que, por inesperado, tirou a coragem ao António,
deixando-o ali especado, sem vida. Vendo isto, a bruxa benzeu-se
três vezes e começou a rezar o Credo em cruz. Logo lhes voltou a
calma e então uma voz suave, melodiosa se fez ouvir.
– É ela, diz o António, e principiou
a recitar o exorcismo.
Das águas da fonte emergiu a bicha,
ostentando a sua bela cabeleira. Acabada a recitação do exorcismo, o
António descarregou-lhe violenta pancada e nesse mesmo instante
surdiu-Ihe uma formosa moura que lhe disse: mataste-me, perdeste um
tesouro. E tudo desapareceu.
A MOURA DO CASTELO
Corria o ano de mil e tal.
As fronteiras do Kalifado de Córdova
chegavam por então às margens do caudaloso Douro, asfixiando nos
seus acanhados limites o nascente reino cristão de Oviedo.
Entre as duas facções peninsulares
erguia-se cada vez mais irredutível o ódio que continuamente as
lançava uma contra a outra.
Do alto das serras portucalenses,
alpendoradas para o sul, os olhos perscrutadores dos guerreiros
godos viam eriçar-se de castros e fortificações os cabeços das
terras mouriscas, onde os descendentes de Agar formavam a defesa das
terras que a vitória de Guadalete lhes entregara. Mas não sofria o
ânimo cristão, sem impaciências, a vista provocadora desse quase
constante estado de guerra.
O mais próximo das raias que
demarcava o Douro era o altaneiro castelo de Lancobriga, cujas
torres ameadas parecia perfurarem impavidamente o espaço com seus
agudos coruchéus, como num desafio insolente ao próprio Deus de
Israel.
Governava então o famoso castelo o
emir Ali-Ben-Sallah, que no formidável recinto vivia entre o fausto
maravilhoso do seu palácio da torre.
Entre os muros ameados sempre
eriçados de lanças e adagas, na atitude guerreira de quem, a cada
momento, espera o golpe do adversário, entre a rigidez da disciplina
que Ali-Ben-Sallah mantinha dentro do castelo, só um lampejo de
serena doçura descia até à aridez daquele imperturbável estado de
permanente prevenção e desconfiança que dominava toda a guarnição.
Era, quando a alguma das janelas da torre assomava,
/ 61 /
envolta na sua estringa branca, o rosto formosíssimo da filha de
Ben-Sallah.
Zelina, a jovem agarena, era todo o
encanto de seu pai que há pouco a dera como noiva ao mais esforçado
dos seus capitães.
A tez morena, o rosto oval, os olhos
rasgados, profundamente negros, deixando adivinhar todo o fogo da
paixão como só uma mulher sabe dar-se ao eleito da sua alma; as
formosíssimas tranças, negras como os seus olhos, aparecendo aqui e
ali, sob as pregas da estringe que lhe envolvia o busto, Zelina era
a fada boa do misterioso castelo mourisco, onde só a soldadesca da
defesa podia entrar livremente. Muley-Akud, o noivo de Zelina, era
bem o tipo valoroso do árabe guerreiro. Zelina tinha 18 anos; Muley,
24.
O sol, erguendo-se do ocidente,
doirava todas as manhãs o par gracioso dos dois amantes, sobre quem
Mafoma parece que tinha vertido a cornucópia de toda a felicidade e
do amor. Estava apenas por dias o enlace dos esbeltos namorados.
Corria o ano de mil e tal...
Do alto dos cabeços fronteiros ao
Douro, os guerreiros cristãos, alpendorando os olhos, perscrutavam
atentamente as terras da mourama e, como a águia que prepara o
rápido voo com que há-de cair sobre a vítima desprevenida,
aguardavam só o momento oportuno para cair em peso sobre as
povoações do Kalifado, talando, arrasando tudo, numa dessas
correrias selvagens que foram uma das principais características das
guerras de então.
Zelina, entre a adoração do pai e o
amor do noivo, aguardava ansiosa o dia feliz em que havia de
estremecer enfim na volúpia de entregar-se ao homem que amava.
E os dois amantes, almas enlaçadas,
olhos fitos nos olhos, corações batendo com igual alvoroço,
esqueciam-se às vezes por entre as ameias do castelo, silenciosas,
na contemplação do céu límpido que ia afagar-lhes a existência,
dizendo muito mais as suas almas gémeas na mudez do seu olhar
tímido, mas profundamente fito um no outro, do que tudo quanto
traduzido em palavras pudesse aflorar-Ihes aos lábios.
Alta madrugada.
Por entre o escuro copado dos
sinceiros, agachados como répteis que se arrastam, vultos escoam-se
ao longo do Cáster, trepando vagarosamente, silenciosamente, a
encosta do castelo de Lancobriga.
Ordens rápidas, em voz baixa, vão-se
transmitindo à fila enorme dos vultos que avançam como sombras, como
fantasmas, pela íngreme ladeira que leva à fortaleza.
O negro da noite, apesar do céu todo
estrelado, não permite reconhecer do que se trata; mas as cautelas
com que avançam, procurando coser-se com o solo, parando ao menor
ruído, escutando, ocultando-se com todos os obstáculos, deixa
suspeitar que se trata de alguma hoste militar em reconhecimento
ofensivo, apesar de não se lhe distinguirem armas.
Sem serem pressentidas pelas velas
do castelo, os vultos chegaram por fim aos muros da altaneira
fortaleza, contra os quais encostaram algumas escadas de mão. Era
Abril em flor. Tépida a madrugada. Embaça o ar o aroma das campinas
inebriando as sentinelas do castelo na languidez das mornas
alvoradas, que convidam à lassidão dos membros e sentidos e ao
abandono de cuidados.
Reclinada no varandim da torre,
Zelina, no recolhimento íntimo do seu ser, olhava o horizonte,
embevecida nesse cenário de sonho, onde na luz azul escura da noite
se ia pouco a pouco tingindo do róseo clarão ainda longínquo do sol.
Envolto no seu albernós branco e
rubro um vulto se aproximou do varandim e a donzela ouviu pronunciar
o seu nome brandamente.
– Zelina.
Assomou a formosa cabeça e
reconheceu o noivo.
– Muley. Não te esperava. Sempre é
verdade o que se rumoreja?
– Entrei de ronda pela madrugada. Os
cristãos agitam-se. Todas as cautelas são poucas.
– Por Allah. Tremo de susto. Porque
nos farão mal os cristãos se não lho fazemos a eles?
– Nada receies, meu amor. São
suspeitas apenas. Nem eles com toda a sua força seriam capazes de
entrar neste castelo formidável.
– Temo por ti, Muley. A minha alma
dividiu-se e não poderia viver sem a metade que te entreguei.
– Minha Zelina, afasta para longe
esses receios de criança. Nem Allah permitiria que a ventura que nos
prometeu fosse agora perturbada tão injustamente. E Allah é justo e
bom. Nada temas, minha noiva. Desanuvia essa fronte entristecida por
um presságio pueril e envolve-me no manto carinhoso do teu olhar,
onde só bebo a vida. Zelina, eu não quero ver o teu rosto sem o teu
sorriso de amor, que é toda a razão da minha existência, que é todo
o fogo da minha alma, que é toda a alegria do meu viver. Zelina! Por
Allah, fita os teus olhos nos meus e pensa apenas na realização tão
próxima dos nossos sonhos de amor.
– Tens razão – volveu a apreensiva
donzela, como que acordada de passageiro delíquio. Tens razão,
mortificam-me os dizeres do povo. Mas Allah não há-de permitir um
crime tão injusto e nós havemos de poder enfim amar-nos, beijar-nos,
sonhar... sonhar eternamente...
Como grito estridente de ave
nocturna, curtou naquele instante o espaço, ecoando sinistramente
pelo vale, o grito das velas árabes:
/ 62 /
– Cristãos! Cristãos!
Zelina, soltando um grito de agonia,
levou as mãos ao peito que parecia querer estalar-lhe e Muley,
fitando num segundo de espanto a noiva que o olhava como louca,
arranca a adaga e precipita-se para o interior do Castelo, bradando:
pede a Allah por mim, Zelina, se eu morrer.
Sobre o terrado travava-se já duro o
combate entre os defensores que acudiam e os assaltantes que
continuamente subiam pelas escadas encostadas aos muros.
Por entre o tinido metálico das
armas e o som cavo das achas e massas sobre as armaduras dos
combatentes, ouvia-se também já o gemido dos primeiros que tombaram,
ensanguentando o chão da peleja. Mal se distinguindo ainda, no
escuro da noite, a luta feroz, entre increpações de uns e exortações
de outros, era mais trágica ainda e assumia proporções maiores para
os que dos diversos lugares acudiam, guiados apenas pelo estridor do
combate. Acordado em sobressalto, o pai de Zelina organiza
rapidamente a defesa da torre, despede-se da filha, que entrega aos
cuidados das suas aias, e acode com novo troço de soldados a
reforçar a defesa. Muley Akud, à frente com os seus homens e com os
olhos da alma postos na noiva estremecida, acometia furiosamente os
invasores, que teriam cedido ao seu ataque inesperado, se as escadas
encostadas às muralhas não lançassem constantemente novos
combatentes na peleja. Zelina, enlouquecida de pavor, encerrada nas
salas alcatifadas da torre apalaçada, prostrada entre as suas aias,
orava em lágrimas a Allah, estremecendo de receios pelo fragor do
combate que a pouco e pouco parecia aproximar-se do centro do
castelo.
Os primeiros revérberos da alvorada
começavam a espreitar as cumeadas do horizonte e os cristãos a
nortear a direcção do ataque que, evidentemente, pretendiam levar
até à grande torre onde Ben Sallah tinha o seu palácio e onde Zelina
tremia de terror.
Compreendendo o aperto da situação,
Ben Sallah chamou o valoroso capitão Mulley e ordenou-lhe que,
enquanto ele fazia frente aos cristãos, procurasse ele salvar
Zelina, fugindo com ela pelo caminho subterrâneo que levava à Porta
da Traição.
– Salva a minha filha, Muley, e sê
feliz com ela, exclamou. E o velho guerreiro, de um salto, atirou-se
para o mais aceso do combate.
Muley, alvoraçado, corre aos
aposentos de Zelina, encontrando-a entre as suas servas, orando
banhada em lágrimas.
– Partamos. O castelo perde-se.
– E se me cativam, Mulley? Ah! Não
deixes que me cativem! – Implorou soluçando a noiva do árabe.
– Não te cativarão, senhora.
Partamos, não há tempo a perder.
– E meu pai?
– Resiste à raça de covardes que só
no escuro da noite sabe atacar. Quando estivermos longe, partirá
também.
– Fujamos então, disse a pobre,
sentindo que as pernas se negavam a caminhar.
A Praça de Armas estava quase toda
ocupada pelos cristãos que iniciavam já o ataque à grande torre,
palácio do emir Ali-Ben-Sallah e Zelina ouviu ainda, ao abandonar a
porta do nascente, quase arrastada por Muley, os primeiros embates
contra os portões da torre.
Os cristãos atacavam já o castelo
por todos os lados.
O sol rompia triunfante dos píncaros
do oriente, inundando de luz os terrados do castelo, cobertos de
mortos e feridos.
Das seteiras da torre e do eirado
choviam nuvens de frechas sobre os atacantes que, pouco a pouco,
invadiam todo o castelo. Por isso era tarde para a fuga. Ao sair do
limiar, irrompe no parapeito da muralha Mem Guterres, o chefe da
hoste cristã, seguido de três ou quatro dos seus. Num momento, os
dois guerreiros medem-se e, num salto de tigre, o mouro cai sobre o
grupo e com dois golpes de hadra despenha os dois mais próximos do
alto das muralhas com os crânios fendidos. Mem Guterres volta ao
parapeito e Muley, vendo o perigo, corre a proteger a noiva quase
desfalecida encostada à parede da torre.
– A Moura! A Moura! – grita Mem
Guterres para os dois que o seguiam.
– Salteador da noite! Na moura não
pões tu a mão enquanto eu for vivo, rouquejou Mulley com os olhos
faiscantes cravados no guerreiro cristão.
Há momentos que parecem séculos. Os
quatro homens mediam-se. Era um contra três para se baterem no
estreito espaço entre a torre e a cisterna. Fugir era impossível.
Zelina, quase desmaiada, amparada pelo mouro, dificultava-lhe a
defesa. A porta da torre fechara-se. Desenhava-se o cerco ao
desventurado par, ainda há pouco tão feliz, no intuito claro de
cativar a formosíssima donzela, a meiga noiva de Muley, que só tinha
o braço esforçado do valente capitão para a defender.
– Vão cativar-me, Muley.
– Não te cativarão viva.
Quem não sabe qual era o destino
atroz das cativadas nessas guerras sem quartel?
Levemente, sem despregar os olhos
dos três adversários, soltou-se da donzela e, de um salto caiu sobre
o mais próximo dos seus adversários, cravando-lhe a adaga até aos
copos no peito do desgraçado que rolou sem um suspiro no solo.
Rápido como um raio, Muley estava de
novo ao lado de Zelina, a maça numa das mãos, a cimitarra na outra,
pronto a aparar o ataque.
/ 63 /
– Lobos do monte – Ruge o árabe,
avançando sobre os dois restantes que recuam diante do ataque feroz
de Muley, cairemos aqui todos, mas não cativareis a moura.
As armas retinem nas armaduras
pesadamente: como tigres, os três acometem-se, ora a golpes de acha,
ora a espadeirada que fere lume ao encontrar a resistência das cotas
de malha.
Do outro lado do muro divisório a
luta continua no assalto à torre do castelo. Escorrem já sangue os
três batalhadores e a defesa de Muley começa a enfraquecer.
– Cão dos infernos! – Brama Mem
Guterres, assentando o montante sobre o cimo de Muley, que cambaleia
sob a violenta pancada. Pávida de medo, louca de dor, Zelina,
despertada do seu torpor pela luta que, para a defender, sustenta só
o noivo da sua alma, erguera-se a custo e, sempre protegida pelo
guerreiro, seguia com passo cambaleante essa luta de feras que ela
já sentia que não poderia terminar pela vitória do seu bem amado.
Refez-se o agareno e numa fúria de
golpes faz tombar o companheiro de Guterres.
– Agora nós, brada o mouro.
– Perro de Mafoma! – Rouqueia Mem
Guterres. Ainda hoje hás-de levar a alma de presente ao diabo.
Entretanto, reposto do golpe, o
companheiro do chefe cristão ergue-se de novo e o mouro, extenuado e
sem forças para prolongar a luta com os dois inimigos, aponta à
noiva a cisterna. Os dois compreendem o gesto e procuram evitar que
Zelina se aproxime do boqueirão do poço.
Num esforço supremo, o árabe investe
com Mem Guterres, que foge para o outro lado do poço, então aperta o
seu companheiro contra o parapeito do saliente e precipita-o, como
aos primeiros havia feito, no escarpado do castelo. Entretanto, Mem
Guterres corre sobre Zelina que, soltando um grito estridente, corre
para a boca da cisterna, ao mesmo tempo que o árabe a olha, e
precipita-se no espaço diante dos olhos mudos de espanto do
desventurado noivo. Mem Guterres, o semblante transtornado, o olhar
esgazeado de louco, fita o sarraceno que, automaticamente,
vagarosamente, tira o elmo, despe a cota, atira a lancha aos pés de
Guterres e, arrancando a curta cimitarra que lhe prendia o lado,
crava-a no peito até ao punho, rolando inanimado no chão.
Zelina ali ficou encantada no
castelo de Lancobriga, onde, durante muito tempo vinha em noites de
luar, chorar o noivo da sua alma, no parapeito da cisterna. Depois a
cisterna entulhou-se e a desventurada moura do castelo desapareceu.
_________________________________
(a) Publicada no “Correio da Feira”
n.º 1119 de 28-12-1918 e com a devida vénia aqui transcrita. |